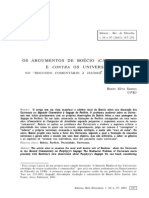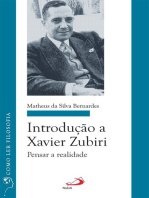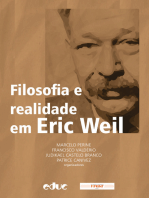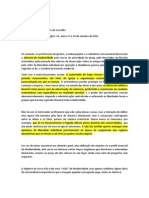Professional Documents
Culture Documents
Erros Filosóficos e seu Impacto na Humanidade
Uploaded by
Fabio SilvaOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Erros Filosóficos e seu Impacto na Humanidade
Uploaded by
Fabio SilvaCopyright:
Available Formats
1
ORIGEM DOS GRANDES ERROS FILOSFICOS (Erros crtico-ontolgicos) MRIO FERREIRA DOS SANTOS
Direitos autorais dos herdeiros do autor
NDICE Introduo Um ponto de partida Dos conceitos Da verdade Dos conceitos universais Do conceptualismo Uma exposio do realismo Cepticismo, fonte de grandes erros Os erros do idealismo A opinio A verdade material, a verdade formal e os preconceitos Fundamentos para a verdade, oferecidos pela experincia A etiologia dos erros Demonstrao e argumentao Colheita de erros famosos Grandes erros ontolgicos So as essncias cognoscveis? A existncia. Conceito confuso para alguns filsofos modernos Do no-ser Ser, no-ser e privao Princpio de razo suficiente e os erros correspondentes O conceito positivo e o prxico Das propriedades do Ser Da individualidade Da distino Da verdade Do Bem Do finito e do infinito
Da substncia Novos comentrios sobre o tema da causa e do efeito Exame de temas sobre as causas Da causa material e da formal Palavras finais INTRODUO
inegavelmente de grande perplexidade a emoo que invade o homem moderno, quando perpassa os olhos pelas idias que nos dois ltimos sculos dominaram o campo da criao e do pensamento humanos. espantoso, sem dvida, o nmero imenso de sistemas, de escolas de filosofia, de doutrinas sociais, de hipteses e mais hipteses, que substituem umas s outras, numa sarabanda sem fim. Se passarmos os olhos pelas diversas pocas, verificaremos desde logo que os que mais brilharam, os que receberam o afago dos elogios fceis, os que empolgaram mais facilmente grupos imensos de admiradores no foram os maiores de sua poca, mas os menores, os que encontram um lugar inexpressivo na histria do conhecimento humano. No de espantar que, em Atenas, a democracia grega (que o era apenas de uma minoria de senhores e de uma maioria de escravos) condenasse Scrates morte, porque ele ensinara aos homens serem mais dignos, mais nobres e mais honestos? No de espantar que Plato permanecesse quase annimo ante o seu povo, enquanto um Grgias, um Hipias brilhavam como luminares do saber? E no se acusem os gregos desse defeito. Ele se repete sempre em toda a histria humana. No vimos em pleno sculo XVIII Hegel pontificar na Alemanha como filsofo absoluto, Krause, no fim do sculo passado, empolgar multides de pensadores, Bergson brilhar no princpio deste com uma aurola que empalidecia os grandes luminares do passado, e modernamente um Sartre ser erguido s culminncias, para em muito breve despencar-se, enquanto ainda h literatos da filosofia que ascendem um Russel, um Moritz aos pinculos do conhecimento? No vimos a tremenda propaganda que em nossos dias receberam vultos de medocre valor, a ponto de serem considerados por muitos como definitivos marcos no caminho do saber, aps os quais nada mais cabia para ser feito? Quem passar os olhos pelo campo da cincia, e assiste essa enxurrada de hipteses, que tombam, substitudas por outras que no resistem, para tombarem tambm, a ponto de num ano, haver tantas modificaes no conhecimento cientfico, tantas REFUTAES, tantas substituies de teorias e hipteses, que ningum mais capaz de acompanh-las, verifica que os livros de divulgao cientfica tornam-se obsoletos em alguns meses.
Teorias que no resistem a uma estao so imediatamente abandonadas, depois de haverem sido saudadas como solues definitivas. No mister alongarmo-nos nos exemplos, porque so tantos e to curiais, que no h quem no se amedronte ante a apavorante marcha do conhecimento humano, e no tem, por sua vez, que a doutrina que hoje segue como verdadeira no seja acoimada, amanh, de erro, e abandonada afinal. Mas o espantoso no apenas este, porque se apenas assim acontecesse, poder-se-ia afirmar que tais fatos revelariam um desenvolvimento da capacidade humana, que tende cada vez mais para uma anlise mais perfeita, tornando-se capaz de captar os erros das diversas posies, substituindo as doutrinas erradas por outras julgadas melhores, que, por sua vez penetre num campo de realizaes extraordinrias, e possa alcanar afirmaes definitivas. Poder-se-ia, assim, afirmar que seria a revelao de uma sade mental, de um vigor criador do homem: um sinal da evoluo criadora do seu esprito. Mas o que espanta a ressurreio de velhos erros j refutados! O que amedronta ver antigas concepes, que foram derrudas pela anlise e confutadas por rigorosas argumentaes, retornarem como fantasmas, para preocuparem outra vez mentes desprovidas, a dos que desconhecem essas refutaes, e se apresentarem, ento, como NOVIDADES, como confeces perfeitssimas, segundo o ltimo modelo intelectual, provocando em mentes no devidamente a par do que j foi realizado, espasmos de satisfao, exaltaes de gozo, como se fora atingida a quintessncia das coisas. Tal espetculo de causar d. E causa d, no porque tais idias surgem em crebros primrios, em pessoas que no tiveram meios de obter melhores conhecimentos, em pensadores improvisados, mas em homens que CURSARAM UNIVERSIDADES, que ostentam como a maior faanha do mundo o seu diploma, como o maior ttulo de glria, existente, e que um atestado irrefutvel (apenas para eles), de que so realmente sbios no assunto, senhores do saber, e que tais atestados lhes garante a AUTORIDADE NA MATRIA, como se algum que j cursou uma escola superior e possui um diploma, intimamente no soubesse como se fabricam diplomados, nem tampouco o real valor de suas escolas e de muitos pseudos-mestres. Mas, por que tais coisas se do? Por que retornam as mesmas idias que os sofistas gregos haviam espalhado, e que receberam a mais cabal das refutaes, para surgirem agora como avatares de velhas formas mortas e ora ressurrectas? Como se compreende que posies como o cepticismo, o relativismo, o agnosticismo, desmontadas eficazmente pelos luminares do pensamento grego, conheam hoje em dia um renascimento inesperado e encontrem cultores entre homens julgados como expoentes do conhecimento humano?
Por que doutrinas, fundadas em primrios erros de Lgica, que qualquer estudante melhor avisado os evitaria, so, depois, defendidas por filsofos que adquirem renome e se propagam como se propaga a m erva? E o que mais espanta, o que mais contrista, que tais erros perduram, atravessam os anos, penetram pelos sculos, e surgem aos olhos de muitos como esplendorosas realizaes da mente humana. apenas ignorncia que se devem debitar tais coisas, ou aliam-se a ela a m f e segundas intenes? Ser produto de uma deficincia do esprito, ou obedece a uma intencionalidade que no pode ser confessada? Se se pudesse apenas debitar tais erros m f, naturalmente que seriam eles ignominiosos. Mas no apenas a ela que se deve faz-lo, mas, sobretudo, a um descaso no estudo da Lgica, a uma falta de melhor raciocnio, a ignorncia do que j se fez nesse terreno. E quando so estes os motivos que os geram, tais erros so apenas de lamentar. Realmente causa d o espetculo que se assiste. Mas o pior no est apenas na messe de erros, se tais erros no fossem fatores de maiores males para a humanidade. O deplorvel em tudo isso que tais erros se multiplicam, geram atitudes e tomadas de posies, que tm arrastado os homens a srios conflitos, e muitos cadafalsos foram erguidos para liquidar os que no seguem tais posies. Muitos crimes se praticaram em nome de tais erros, e muito sangue se derramou por culpa deles. Esta a razo por que se impe denunci-los. mister que os mostremos luz meridiana, que os escalpelemos com todo o rigor, para que a calva nua transparea plenamente. mister advertir os bem intencionados para que no sejam vtimas de tais erros, para que possam compreender por que a perplexidade avassala o homem moderno, entendendo, ento, por que tais erros se repetem e conquistam adeptos. mister fazer essa obra de denncia, por que no mais possvel deixar que tantos males se repitam e se multipliquem. O que empreendemos nesta obra essa denncia. Queremos apenas contribuir para avisar os bem intencionados para que se livrem da ao malfica daqueles que perturbam a inteligncia humana, obnubilando-a com tantos vcios, a fim de permitir que muitos possam escolher, mas escolher com responsabilidade, entre o que errado e o que certo. No tero amanh o direito de alegar ingenuidade ou ignorncia, porque patenteado o erro, debruar-se sobre ele e segui-lo indcio de mau carter ou de morbidez. Com essa inteno construtiva foi realizada esta obra. Mrio Ferreira dos Santos
UM PONTO DE PARTIDA
Em relao Filosofia, duas so as principais atitudes que se podem tomar: 1)a daqueles que nela admitem uma capacidade de solucionar os mais agudos problemas e dar respostas s mais insistentes e exigentes perguntas do homem, e 2)a daqueles que a julgam apenas uma diverso, um entretenimento de ociosos, sem capacidade de atingir, nem de leve, ao grau que pretende, no saindo, assim, do campo das opinies, e servindo apenas de terreno para disputas estreis, sem maiores proveitos para o homem, salvo o de servir de exerccio mental, agradvel ou no, sem conseqncias realmente benficas quanto soluo das magnas perguntas, que apenas no campo da cincia podero encontrar uma soluo. Deste modo, ao lado dos que aceitam um progresso filosfico, e que pode o homem alcanar constantemente estgios mais elevados, h os que afirmam que todo esse afanar apenas um jogo ilusrio de idias, que levam, afinal, convico da inutilidade, pois, proporo que se julga haver solucionado um problema, outros surgem exigentes, desafiando a inteligncia humana a prosseguir numa especulao, cujos resultados so sempre inferiores aos esforos despendidos. E em abono dessa tese, argumentam com os exemplos da heterogeneidade de idias e de opinies, que foram expressas e defendidas por tantos filsofos, o emaranhado de doutrinas, teorias e correntes filosficas, controversas, dspares, antagnicas e at contraditrias, que so o escndalo do homem, e que afirmam mais fortemente a nossa incapacidade de encontrar solues por esse caminho, do que propriamente a promessa de um resultado melhor. Sem dvida que tal o espetculo que se assiste no campo das anlises filosficas. E alegam mais: j o mesmo no se verifica no campo da Cincia. Aqui h controvrsias apenas quanto ao ainda no experimentado, ao ainda no comprovado. Mas, o que j passou pelo crivo da prova, estabelece-se como definitivo e universalmente aceito, de modo que os cientistas encontram um campo de atividade comum, campo consentneo e aprovado por todos, onde todos podem encontrar-se, e de onde podem partir para novas investigaes. E proporo que o tempo passa, a proporo que novas experincias se realizam, amplia-se o campo comum, cooperam melhor nas buscas, e todos trabalham para alcanar resultados universais, por todos aceitos, que passam a servir de base para novos exames, novas experincias. A pouco e pouco, vo os cientistas incorporando ao patrimnio comum do conhecimento cientfico novos dados, que passam a servir de elementos para novas especulaes, enquanto no campo da Filosofia, uma nova idia afirmada sempre custa da excluso do que at ento fora aceito. A Filosofia substitui, e a Cincia incorpora. Enquanto aquela um oceano de idias controversas, esta uma concatenao de conquistas obtidas. Deste modo, no de admirar que, pensando assim, muitos afirmem a superioridade da Cincia sobre a Filosofia, e a convenincia at
do abandono desta, pela sua ineficacidade, ou, ento, que fique relegada para os que na falta de uma atividade melhor procuram nela o que jamais encontraro, enquanto, na Cincia, os que pretendem contribuir para maior poder e domnio do homem sobre as coisas e sobre si mesmo, encontraro um campo sem fim para aplicar o melhor da sua inteligncia e da sua vontade. Tais argumentos so aparentemente slidos, mas apenas aparentemente, pois, na verdade, esto eivados de um vcio, porque a sua constante afirmao e proclamao tm servido apenas para perturbar as mentes desprevenidas, incutindo-lhes uma desconfiana infundada e injusta. preciso distinguir na Filosofia dois modo de filosofar: uma filosofia que afirma, fundamentalmente positiva, e uma filosofia que nega ou duvida, fundamentalmente negativa. A filosofia positiva, que vem de Pitgoras atravs de Scrates, Plato, Aristteles e os escolsticos maiores, uma filosofia que afirma, e incorpora as conquistas, constituindo um todo coerente. A filosofia de seus adversrios uma filosofia que nega, que duvida, que estabelece uma falsa problemtica, a qual alcana apenas a resultados inferiores. A primeira tem sido uma solucionadora de erros e uma estabelecedora de postulados apodticos, necessariamente vlidos. A segunda tem apenas contribudo para instalar a dvida nas mentes desprevenidas, aumentar a confuso, ampliar uma problemtica injustificada, ocultar os resultados positivos obtidos, e propor problemas, que so apenas aparentemente novos, quando, na verdade, so velhos problemas j solucionados. No primeiro lado, h uma homogeneidade constante nas idias; enquanto, no segundo, a heterogeneidade cresce desmedidamente. Nesta obra nos propomos a estudar a origem dos grandes erros filosficos e, consequentemente, cabe-nos mostrar: 1)que h verdades filosficas, com base positiva e universalmente vlida; 2)que os erros encontradios surgem de um afastamento dos mtodos seguros ou da penetrao sub-reptcia ou indevida de postulados infundados ou de dvidas mal esboadas, por se basearem em falsidades, que levam controvrsia intil, ao erro evitvel, confuso ilegtima e a conseqncias e ilaes que decorrem de vcios do pensamento. Para realizar o que pretendemos temos de caracterizar o seguinte: 1)se h uma nica origem de todos os erros filosficos, ou 2)se so vrias as origens. E no bastaria apenas apont-las, mas demonstrar de modo rigoroso a sua inanidade, a sua falta de fundamento, para justificar por sua vez, a validez da posio positiva, da posio concreta, que tomamos na Filosofia. Se h um desvio do caminho real mister apontar, pelo menos, a encruzilhada que abre o novo caminho, que permite e facilita o erro, pois impossvel fazer-se a anlise cuidadosa dos
grandes erros filosficos se no for estabelecida desde incio a sua etiologia, o ponto de partida; em suma, o caminho vicioso, que desviou o investigador da rota verdadeira e real. E aps longas meditaes e anlises, chegamos concluso que o ponto de partida dos maiores erros filosficos est na maneira falsa de considerar a realidade dos conceitos universais, ou seja, partir da negao da sua realidade. Negando-se o fundamento mais slido do filosofar positivo, tudo o mais era possvel atingir. Por essa razo, necessrio retornar a esse problema e reexamin-lo com segurana. preciso, assim, volver prpria filosofia grega, ao momento crucial quando do surgimento dos sofistas, instante em que o filsofo comeou a interrogar sobre a validez dos nossos conceitos, e se no eram eles apenas meros esquemas que a mente humana criou, para poder dar uma ordem mental ao caos dos acontecimentos heterogneos, ou se nesses esquemas havia um contedo real, que lhes daria a necessria base positiva, que permitiria ao homem investigar com segurana. Em suma, em torno do realismo dos conceitos gira a gestao de grandes erros, como tambm se baseia o fundamento da filosofia positiva. o exame desse problema que empreenderemos, ao mesmo tempo que apontaremos a origem dos velhos erros, bem como sua ressonncia nos dias de hoje.
DOS CONCEITOS
A fim de evitar os costumeiros erros praticados por filsofos menores, e que se perpetuam atravs dos tempo, basta salientar um conjunto de idias em torno do conceito, colocadas com clareza e adequao, para que desde logo ressaltem de onde provm as confuses no pensamento humano. No exigvel fazer um estudo psicolgico da gnese do conceito. Basta apenas clarear um conjunto de aspectos para ressaltar logo o que deve ser predominante na boa especulao. Na Filosofia moderna, o termo conceito, por influncia de Descartes e de Port-Royal, foi substitudo pelo termo idia, gerando uma seqncia de confuses que mais serviram para perturbar o pensamento humano que para ilumin-lo. Partamos primeiramente da cognio. Genericamente, a cognio um ato imanente. Ato, porque se d atravs de uma atuao, de uma modificao na potncia subjetiva, psquica; ao imanente, porque se realiza no prprio sujeito, e efetua-se na prpria potncia subjetiva do mesmo. Alm de um ato imanente um ato consciente, porque testemunhado pela conscincia, notado pela conscincia. Mas, nesse ato, a mente tende para o objeto que conhece, intende. por isso tambm intencional. Quando a mente conhece alguma, ou quando quer referir-se a alguma coisa, ou ela tem uma notcia da coisa por meio de uma similitude com aquela, ou por uma imagem que possui do prprio
objeto. Quando pretendemos, mentalmente referir-nos a um objeto, h em nossa mente uma intencionalidade. Assim, quando queremos nos referir matria, h uma intencionalidade, que imprescindvel considerar, ou seja, algo do que as coisas so feitas. H sempre, no conceito de matria, seja de que modo se construa ele na mente humana, uma intencionalidade: a de referir-se a uma entidade plasmvel, que formaria o estofo (Stoff) das coisas, a subjetividade das coisas, a sua subsistncia no formal, mas apenas individual na sua presena fsica. Da ao conceito de matria outro sentido, mudar a intencionalidade que o termo mater, materies (de onde madeira), hyl, em grego, tem: o de constituir uma entidade plasmvel, que o estofo, o contedo fsico das coisas chamadas materiais. Ora, de mxima importncia considerar-se essa intencionalidade, que damos aos conceitos, pois o seu desvirtuamento foi a causa de inmeros erros e confuses. Tomemos um outro conceito: Deus. Qual a intencionalidade culta que pomos nele? Quer se aceite ou no a sua existncia, o que se entende por Deus um ser infinito, onipotente, senhor de toda a potncia, pois a origem e a fonte de todos os outros que dele provm, e como no possvel admitir-se que uma perfeio possa surgir do nada, esse primeiro ser tem que conter todas as perfeies no seu grau mximo, sendo, pois, infinito e oniperfeito. Consequentemente, quando se fala de Deus, tem-se a inteno de referir-se a tal ser oniperfeito. A ele no se pode atribuir qualquer imperfeio, qualquer ausncia de perfeio. Ora, se um ente corpreo, que um ente limitado por superfcies, um ente finito, carente de certas perfeies, nenhum ente corpreo pode ser Deus. Se Deus existe no pode ser corpreo. E quando o ateu, em seu primarismo filosfico, pede provas corpreas da existncia de Deus, e afirma que s acreditaria nele se o pusssemos sua frente para medi-lo, pes-lo, tate-lo, cheir-lo, tal ser, assim apresentado, no seria Deus, porque, se corpreo, no o ser ao qual com intencionalidade culta chamamos Deus.1 Considerar-se sempre com o mximo cuidado a intencionalidade que h em toda atividade da nossa mente, e no esquecer nunca ao que pretende ela referir-se, evitaria, como veremos, uma grande parte dos erros filosficos. Deste modo, v-se que a cognio um ato imanente, consciente e intencional, pelo qual adquirimos notcias de um objeto por similitude com o mesmo ou por representao do mesmo. Essas notcias ou notas so aspectos que captamos do objeto, e conservamos em nossa mente por semelhana ou por representao. O conjunto dessas notcias ou notas estruturado num esquema mental, que os escolsticos chamavam species expressa, que uma semelhana da
O conceito vulgar e histrico de deus, no sentido de um poder inteligente superior ou no ao homem, e de natureza diferente deste, uma construo primria da idia da divindade.
cognio, do que realizado pela cognio. Segundo os diversos tipos de cognio, sero, por sua vez, esses esquemas. No ser humano, sabemos, h duas maneiras de processar-se a cognio: a sensitiva e a intelectual. A primeira comum ao homem e aos animais, enquanto a segunda prpria do homem. Para Aristteles e os escolsticos, a primeira a via para alcanar a segunda, conforme, vemos na famosa mxima dos empiristas-racionalistas, exposta pelo estagirita: Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu (nada h no intelecto que no tenha estado primeiramente nos sentidos). A cognio sensitiva consiste no ato imanente, consciente e intencional de captar notcias singulares das coisas, objetos, atravs dos sentidos; portanto, proporcionadas a estes, assimilveis dentro da gama de sua acomodao, como se demonstra na Psicologia uma operao que supera a qualquer outra operao orgnica, menos a intelectual, pois j apresenta uma forma (operao) que no se d pela mera assimilao orgnica, como o verificvel nas funes vegetativas e metablicas. Na sensao, no h incorporao do objeto assimilado, mas apenas de uma imagem do mesmo (phntasma), segundo a capacidade acomodada dos esquemas sensriomotrizes. O que notado do objeto o que corresponde esquemtica prvia (sensrio-motriz), que constitutiva dos sentidos, o que por estes assimilado gradativamente. Os olhos vem as cores que podem ver, no vem, contudo, a cor. O ato cognoscitivo sensvel um ato complexo, que a Psicologia estuda, mas sem dvida mais complexo e mais perfectivo que um ato orgnico qualquer. Segundo os empiristas, sobre esse ato sensitivo, sobre a cognio sensvel, d-se a cognio intelectual. Toda informao material uma informao singular. A matria recebe uma determinada cor, no a cor, recebe uma determinada figura, no a figura, uma determinada proporcionalidade na disposio das suas partes, como a figura triangular, no o tringulo. Toda informao material singular. Tambm singular a cognio sensvel, pois o esquema sensvel, que se forma, o desta coisa. Mas a cognio intelectual ultrapassa a singularidade. Se a matria recebe esta cor, e o intelecto capta a cor (a generalidade), esta no esta cor, mas a cor. H, na cognio cor, o que imprescindvel nesta para ser cor. H uma intencionalidade que se dirige cor como universalidade, cor, que esta, aquela e aquela outra tambm so, o que elas tm em comum. Nessa intencionalidade, h uma referncia ao que necessrio para que uma coisa seja chamada cor. Ora, necessrio (que vem de nec e cedo, de no ceder) o in-cedvel, o que no se pode ceder para que seja cor, o imprescindvel para que seja cor. Esse necessrio que se chama a essncia. A cognio intelectual tem a intencionalidade de referir-se a essa essncia, ao no cedvel, ao necessrio, para que algo seja cor, e no outra coisa.
10
A no compreenso ntida do que acima acabamos de expor foi a causa de inmeros erros filosficos. Quando um adepto do filosofismo diz que no sabe o que cognio intelectual, nem o seu esquema notico (de Nous, esprito), que desconhece esse conhecimento preliminar. Desconhece o que significa a intencionalidade, e qual a sua funo. E quando ele diz que nada sabemos da cor, porque no podemos mostrar aos olhos, aos ouvidos, ao tato a cor, esquece que no s este, o sensvel, o nico modo de conhecimento, pois h o intelectual. E quando, prosseguindo na sua crtica, afirma que no conhecemos como em si a essncia de uma coisa, esquece que no mister ter a viso direta da essncia, para sabermos que ela h. No mister que tenhamos a viso da essncia cor para sabermos que h fundamento real no conceito cor, porque o que consideramos, neste conceito, o que essencial para ser cor, e no outra coisa, o pelo qual a cor cor e no outra coisa. E quando construmos esse conceito, no construmos uma imagem sensvel dela, porque no uma coisa que estimule os nossos sentidos, mas construmos, sim, uma intencionalidade, que se refere ao que imprescindvel para que algo seja chamado cor. E tanto assim que ao vermos um verde, um azul e um amarelo, dizemos que so cores que podem ser classificadas no esquema intencional cor, e no erramos a, pois no as confundimos com o peso ou com o tamanho, nem tampouco os confunde o filosofastro que afirma que nada sabe sobre a cor, o que prova que sabe algo da essncia de uma coisa contra a sua prpria opinio.2 Sua formao processa-se pela captao das notas comuns a determinados objetos semelhantes, e a intelectualidade humana tende a captar as notas imprescindveis, ou que ela julga imprescindveis, pois no conceito, inclui o que necessrio para que uma coisa seja o que ela , sem o qual no o que se afirma que . Ao construirmos o esquema notico do conceito no h nele uma afirmao ou uma negao. Quando dizemos cor, no afirmamos nem negamos, nem tampouco o colocamos no tempo ou no espao. A mente expressa o conceito pura e simplesmente. Tambm em sua intencionalidade, a mente no o confunde com phntasma, o fenomnico. Nenhum filsofo ir confundir o que pretende dizer cor com este verde aqui, desta folha de rvore. H uma diferena fundamental que ele admite e prova com suas palavras, na sua conversao, no seu modo de proceder. De nenhum modo far essa confuso em sua vida prtica, por mais que, na terica, afirme o contrrio. E at em suas afirmaes, nos conceitos que expressar com palavras, ele estar negando o que afirma, e procedendo ao inverso do que diz que pensa. Suas palavras o refutam constantemente. Nenhum filosofastro, que negue a intencionalidade da essncia em nossos conceitos, confundir o que se entende por cavalo com este ou aquele cavalo, aqui e agora. Poder ele afirmar que nada sabemos
2
Estudamos em Tratado de Esquematologia a formao desses esquemas, e no h necessidade de reproduzir aqui a sua gestao psicolgica, pois o que nos basta anotar so os aspectos principais desses conceitos.
11
sobre a essncia do cavalo, a cavalaridade. Jamais poder negar que quando diz cavalo, intencionalmente no se refere a este nem quele cavalo, mas ao que todos os cavalos tm em comum, ao que lhe permite chamar cavalo e no mesa. Tampouco confundir uma mesa com um cavalo. Sabe que no so a mesma coisa, e no ir nome-los pelo mesmo nome. Se ele no sabe como a essncia de cavalo, sabe, porm, que h, nestes, alguma coisa em comum, que no tm as mesas, as quais tm em comum outras coisas que as no tm os cavalos. No mister que saibamos como a essncia de uma coisa, que tenhamos a sua viso frontal, para sabermos que h nela algo pelo qual o que ela , e no outra coisa. O que o nosso conceito cavalo quer referir-se, a sua intencionalidade, o pelo qual o cavalo cavalo, e no outra coisa. Julgam esses filsofos que desde que no tenhamos a essncia ante os nossos sentidos, no h a essncia. Mas se ela fosse um objeto sensvel no seria mais essncia, mas algo individual, singular e no universal, como aquela. O que eles desejam que seja seria a sua prpria negao, a negao da intencionalidade do que se pretende dizer como essncia, pois esta no algo que se d individualmente, mas algo que comum a muitos, algo formal (eidos, frmulas (eidola), comuns a muitos. A objetividade do conceito est nessa referncia, nessa intencionalidade, nesse tender de nossa mente para o que dizemos haver na coisa, no apenas nesta, mas que esta tem em comum com outras, uma proporcionalidade intrnseca, que a mesma nesta e naquela, que podemos classificar pelo mesmo conceito. No compreender essa verdade elementar, que afirmada pela nossa prpria experincia intelectual, querer tumultuar idias e fazer confuses, quando a vida no confunde, quando espontaneamente no confundimos. Temos a a causa de tantos erros no filosofar. Em sentido lato, diz-se que a cognio uma apreenso, algo que a mente apreende (de aprehendere, tomar, captar, ad, para, em face de algo), o que se capta intencionalmente, nada se afirmando ou negando dele. Assim apreendemos uma noo, uma nota, algo que notamos num objeto, algo que distinguimos num objeto. Nota e noo muitas vezes so tomadas como sinnimos de apreenso. Contudo, nesta, consideramos o ato de captar uma nota. Esta se refere ao que capta a segunda. Tambm o termo conceito tomado como sinnimo de nota e de apreenso; contudo, quando nos referimos ao conceito, nos dirigimos para uma idia universal, o que muitos tm em comum. O esquema mental (notico), que os escolsticos chamavam de species expressa a similitude expressa ou formal-atual da coisa na mente percipiente. E quando internamente realizamos a locuo, que se refere ao que conhecemos, temos, ento, o verbum mentis, como o chamavam os escolsticos, a coisa proposta pela mente. Tambm mister distingui-lo do termo mental que aquele no qual termina a operao da mente. E tambm no se deve confundir com a inteno, que o tender da mente ao objeto.
12
Por haverem confundido tais conceitos, e por os haverem tomado sinonimicamente, muitos filsofos contriburam para aumentar a confuso no campo da Filosofia. A intencionalidade mental refere-se a alguma coisa, que se torna o seu objeto. Mas este pode ser algo material ou formal. Diz-se que material o que existe com as suas notas, independentemente da mente humana. Deste modo, as notas captadas na coisa material esto nela, ou h nela, o que, em relao e proporcionalidade mente humana, permite ser notado e classificado, segundo as categorias que o ser humano constri. Formal a nota ou o conjunto das notas, que so representadas pela mente. fcil compreender da que a Lgica, ao falar na compreenso de um conceito, refere-se parte formal do mesmo, e ao falar da extenso, refere-se aos indivduos que podem ser classificados no conceito. Os modernos chamam a compreenso de conotao ou intenso, e a extenso de denotao, como tambm o chamavam os lgicos medievalistas. Se consideramos um conceito em sua compreenso, tomamo-lo segundo as notas que constituem o seu esquema notico; se o tomamos em sua extenso, a mente se refere aos indivduos inclusos na classificao. , portanto, distinto um juzo em que os conceitos so tomados de um ou de outro modo, como distinta uma Lgica apenas da extenso, como em geral a que se aplica Cincia, e uma Lgica de compreenso, que a que se aplica, sobremaneiramente, no campo da Filosofia. Ademais, verifica-se, na Lgica, que proporo que um conceito aumenta de extenso; ou seja, proporo que ele abrange indivduos de vrias espcies, torna-se ele menor em compreenso, e vice-versa. O conceito de animal mais extenso que o de homem, mas, por sua vez, de menor compreenso que este. So estas conquistas elementares da Lgica esquecidas muitas vezes por notrias individualidades da Filosofia.3 A confuso entre cognio sensitiva e cognio intelectual, entre conceito, apreenso, idia, noo, esquema notico (species expressa), verbo mental, termo mental, inteno, e outros, que ainda veremos, tomados muitas vezes sinonimamente, quando apresentam distines evidentes, a causa de inmeros outros erros palmares, proclamados do alto de ctedras. No de admirar que Antstenes dissesse a Plato: Os cavalos eu vejo, mas a cavalaridade eu no vejo. Mas se Antstenes visse a cavalaridade, seria esta objeto de um conhecimento sensvel, e no seria uma forma, mas, sim, algo que estimularia os sentidos, algo que os esquemas do sensrio-motriz acomodados poderiam assimilar, portanto algo sensvel, corpreo.
13
Quando sabemos que algum mais velho que outro, esse conhecimento produto de uma operao intelectual, realizado atravs de comparaes, e no captado, direta e imediatamente, pelos sentidos. Uma forma (que muitos notveis filsofos confundem com a figura) no algo que possa ser notado atravs de apreenses sensveis. E todas essas confuses surgem por no haver compreendido bem em que consiste a ao abstratora, que realiza a nossa mente. Analisaremos o que fundamental na abstrao, para que a nossa crtica possa prosseguir com segurana. O ato, pelo qual a nossa mente se dirige a uma coisa entre muitas, e percebe esta especialmente, preferentemente a outras, pois pe sobre ela, em direo a ela, ad, toda sua tenso (ad-tenso) temos, ento, a ateno. Por esta atende-se a algo e desatende-se, ou atende-se, em grau intensistamente menor, ao resto das coisas. E quando o que atendemos tomado isoladamente pela mente, separado pela mente, como uma unidade sem outras coisas, realizamos uma abstrao. Consiste, pois, esta em tomar separadamente, pela mente, o que na coisa est junto com as outras. Em suma, abstrao apenas isto. Tudo o mais que se procura construir, com o intuito de complicar, confundir, lanar sombras a, no mais abstrao, mas qualquer outra coisa, cujo nome genrico confuso. A abstrao no nega, no refuta as coisas no consideradas. Nem tampouco se pode afirmar que seja ela um modo de conhecer perfeito, como alguns julgam ser o pensamento de filsofos positivos e concretos. Absolutamente no. A abstrao um modo de conhecimento imperfeito. Mas nem por isso falsa. Se tomamos parte, pela mente, o verde desta folha de arvore, temos um conhecimento imperfeito da folha, no porm, um conhecimento falso. Um conhecimento pode ser menos perfeito ou mais perfeito. H, nele, escalaridade. Por um conhecimento ser menos perfeito no , por isso, ou apenas por isso, falso. Alm do termo abstrao, usa-se o termo preciso. Diz-se que se toma uma coisa precisivamente, quando ela tomada abstrativamente, quando ela considerada sob um aspecto, separado mentalmente da concreo qual pertence. Com a abstrao, pode-se realizar a anlise do conceito, pode-se desdobrar suas notas, tom-las precisivamente. Tambm, pela abstrao, pode-se fazer uma sntese de conceitos, como a montanha-de-ouro. No temos nenhuma experincia de uma montanha de ouro, mas tomando precisivamente o conceito montanha e o conceito ouro, sintetizamo-lo no conceito de um ente
Nesta obra presumimos que o leitor j se tenha familiarizado com a Lgica, e possua uma cultura filosfica geral. Por essa razo, apenas salientaremos aqueles pontos nos quais se cometem os grandes erros, que so a fonte dos que so
3
14
meramente ficcional, a montanha-de-ouro, pelo qual compusemos um novo conceito, do qual podemos ter uma representao. A imaginao criadora do homem procede por tais snteses e tais anlises, e obtm, no s a representao de tais conceitos compostos ou separados, mas at a imagem de muitos deles. Quando a mente se pe no exame do prprio sujeito do seu ato, ela realiza um reflectere, flexiona-se outra vez (re) sobre si, reflete, realiza uma reflexo. A reflexo pode ser considerada como psicolgica, quando considera o prprio ato enquanto afeco e modificao de algum sujeito, o ato subjetivo spectatur (espelhado), e ontolgica, quando a mente considera o prprio ato enquanto representao do objeto, quando considera o conceito objetivamente. No se deve assim confundir representao com imagem. H imagem quando h a imago, a presena fenomnica do objeto mentado, e h representao, quando esse objeto considerado em sua forma apenas. H representao com imagem quando ambos se do juntos. Assim ns representamos o tempo, e no temos uma imagem dele, porque o tempo no um objeto de conhecimento sensvel, mas apenas intelectual, mas podemos representar com imagem o cavalo. Se partirmos da considerao de um simples exemplo como a gua, sabemos que um composto quimicamente de hidrognio e oxignio, numa proporo de 2 para 1. Mas revela-se para ns atravs das suas propriedades. No um ser que tem aseidade (de a se, que em latim significa por si mesmo), no um ser que tenha ipseidade (do lat. ipsis si mesmo) porque a gua no simples e absolutamente apenas gua, mas um produto, um composto. Ela essa proporcionalidade entre o oxignio e o hidrognio, segundo determinadas coordenadas, que a Qumica busca descrever. Na verdade, h gua quando elas permitem que aqueles elementos qumicos se combinem, segundo uma lei de proporcionalidade intrnseca, um logos, segundo os pitagricos, ou forma para Aristteles e os escolsticos. A gua isso, e sem isso ela no . Essa forma, esse logos, ou esse arranjamento de proporcionalidades, como dizem alguns, essencial para que a gua seja gua. Nessas condies, h nela uma forma, um logos, uma lei de proporcionalidade intrnseca. Quando nossa mente diz gua, quando conceituamos gua, a intencionalidade da mente refere-se a esse logos, a essa forma, a essa lei de proporcionalidade intrnseca, etc. Pode nossa mente, em seu esquema notico, em sua species expressa, no reproduzir o que a Qumica j sabe. Tambm os antigos, que julgavam que a gua era um elemento simples, que entrava na combinao dos outros seres, no sabiam que era formada de uma determinada proporo de hidrognio e oxignio em dadas condies, mas o que intencionavam dizer como gua, era gua mesmo, e no outra coisa. Deste modo, nossos esquemas mentais podem ser enriquecidos de novas notas que o conhecimento nos ministra, mas nem por isso, quando diz menos, deixa de dizer realmente o que, pois nossa
adotados por muitos como luminosas verdades definitivas.
15
mente, em qualquer estgio, quando diz gua, refere-se a esta gua. Podemos no saber qual o logos, qual a forma, qual a lei de proporcionalidade intrnseca, qual o arranjamento de correlacionamentos fsicos, do qual resulta gua. Mas quando se diz gua, diz-se que h, nesta, algo pelo qual ela mesmo, e no outra coisa. Nossa intencionalidade uma referncia ao que faz (causa) que a gua seja gua, algo que intrnseco a ela, algo que emergente nela, algo que a forma. Toda vez que nossos esquemas se referem a algo que h nas coisas, nossos esquemas tm um fundamento na coisa, tm o que os escolsticos chamavam de fundamentum in re. Ora, desde Pitgoras todos os filsofos positivos e concretos afirmaram sempre que a metafsica deve trabalhar com conceitos que tenham tais fundamentos, ou seja, com conceitos que se refiram ao que fundamentalmente nas coisas. Esses so meramente entes de razo (entia rationis), so construdos pela nossa razo por meio de abstraes. Mas tais conceitos, contudo, embora entes de razo, tm fundamentum in re, quando se referem ao que h nas coisas. A boa metafsica, a verdadeira, aquela que se fundamenta e trabalha com tais conceitos, o que permite reverter as especulaes metafsicas aos fatos da experincia. Quando a metafsica trabalha com entes de razo, que no tm tal fundamento, trabalha com fices, e recebeu o nome de metaficismo, o que indica a forma viciosa de realiz-la. Tal no o fizeram os grandes filsofos positivos, mas precisamente, em sua maior parte, os que procuram combater toda metafsica. So os metafsicos que emprestam matria, como estofo das coisas, atributos criadores e divinos. Fundados em que? Na experincia? Mas essa no h, nem nunca houve. Nenhuma metafisicista pode afirmar que a matria, enquanto matria, com a intencionalidade que lhe d a nossa mente, o princpio de todas as coisas. No h experincia nenhuma, e muito menos de baixo do rigor que exigvel para uma experincia cientfica, e isso pela simples razo de que tais especulaes ultrapassam ao campo da cincia, e nenhum cientista, enquanto tal, poderia fazer qualquer afirmao aqui nesse sentido, sob pena de afastar-se da Cincia para penetrar na Filosofia, j que tal afirmativa no teria possibilidades de nenhuma prova experimental, fazendo, assim Filosofia da pior espcie. Chama-se na filosofia Etiologia aquela parte da Ontologia Geral que se dedica ao estudo das causas. Precisamos apontar as causas dos grandes erros, mas para faz-lo temos que percorrer vrios estgios que nos mostrem o que fundamenta a nossa posio, e o que invalida a dos que hoje procuramos combater. No nos satisfaz apenas afirmar que esto errados, mas em provar que o esto. Para isso, somos obrigados a examinar as posies cpticas, analisar os falsos critrios da verdade, justificar a posio do realismo moderado na questo dos universais, para que, depois, de posse de material positivo e seguro, possamos fazer a descrio dos principais erros. ...
16
O que se pretende estabelecer com o conceito de primeiro grau a intencionalidade da mente dirigida para os muitos entes, que tm em comum um aspecto formal o qual permite classific-los desse modo. Tais conceitos so usados, inclusive pelos que no admitem contedo em nenhum grau de abstrao dos conceitos, mentes super-concretas, que contudo, os empregam constantemente, e o que ainda mais importante: do-lhes a mesma intencionalidade que do os que por eles so combatidos. Se perguntarem a um deles que animal aquele, ele dir que cavalo. E aquele outro? Tambm cavalo, e chamar cavalo, intencionalmente, a todos os animais que apresentam, para ele, a mesma semelhana, os mesmos aspectos, que ele sabe, pertencerem ao cavalo. Quanto s abstraes de segundo grau, os nmeros matemticos no existem. No esto aqui nem ali. Mas, finalmente, quem afirmou que os nmeros so entidades existentes aqui e ali? Quem postulou tal coisa? Por acaso Pitgoras, Scrates e Plato? Nenhum desses pensadores seriam to estpidos que fossem dar aos nmeros a mesma entidade real que se d a um paraleleppedo, ou a uma caveira de asno. So entidades formais, e como formas no so seres espaciais, tridimensionais, limitados por superfcies, com localizao no espao, mais para c ou mais para l. O fundamento dos nmeros est nas coisas numerveis. O da matemtica, quando trabalha com abstraes de segundo grau da quantidade ou mais precisamente, como na lgebra, na matemtica superior, est nas coisas reais, que, por precises permitem se construam as categorias matemticas. O fundamento real est nas coisas, e tanto est que se pode reverter da lgebra para a realidade, pois, do contrrio, a matemtica no seria aplicada a esta, e esta aplicao nos mostra, de modo apodtico e definitivo, a validez das abstraes de segundo e de terceiro graus. O fundamento dos conceitos da metafsica s est em basearem-se as abstraes de terceiro grau na realidade das coisas. Assim, as categorias, enquanto tais, os conceitos de causa e efeito no correspondem a entidades subjetivamente existentes aqui e ali. Ali vai a causa de brao dado com o efeito... Nem tampouco a prioridade est junto daquela rvore, ou a triangularidade est dependurada daquele galho. No essa a realidade que tais conceitos tm. A realidade que tm est em fundarem-se realmente nas coisas, como a anterioridade nas coisas que, de certo modo, tm prioridade a outras, segundo determinada ordem; a causa, nas coisas das quais outras dependem essencial e realmente para serem, etc. A Metafsica correta aquela que se funda em tais realidades. Um exemplo da m metafsica? a daqueles que afirmam que as coisas finitas nunca tiveram um princpio, e que sempre houve coisas finitas, que so a nica razo de ser das subsequentes; que um gnero possa possuir uma perfeio que no possui nenhuma das suas espcies; o que mais possa vir do menos,
17
que o todo anteceda, fsica e atualmente, s suas partes... Era a metafsica que se apresentava com poses de cincia, e que afirmava a existncia do homnculo, do flogstico, da anank, do lan vital, do orgnio, do no princpio era a ao, do fado, considerados como entidades de per si subsistentes, a metafsica que transforma a possibilidade num ente subsistente de per si, a que afirma que os tomos, subitamente, e sem porque, comeam a combinar-se, e muitas outras maravilhas do pensamento, que superaram o que o passado havia realizado. Mas o que demonstramos at aqui em favor da filosofia positiva e concreta, a nica que realmente Filosofia, ter ainda outras provas, mais dialticas e construdas com o rigor que exigem as demonstraes rigorosas. o que faremos depois de salientarmos outros erros fundamentais, e mostrar em que bases se podem estabelecer um pensamento positivo e concreto.4 De qualquer modo, todo e qualquer mtodo fundamenta-se na abstrao e, sobretudo nos seus trs graus da abstrao. Quanto operao intelectual so os seguintes: 1)quando o objeto abstrado da sua singularidade. Assim casa, chapu, rvore so abstrados da sua singularidade, e o conceito refere-se a esses entes. So as abstraes de primeiro grau, prprias das Cincias Naturais. 2)Quando o objeto intelectual abstrado da singularidade e das propriedades sensveis, considerando-se apenas enquanto tm extenso contnua ou discreta, como se v nos nmeros matemticos: a abstrao de segundo grau, prpria das matemticas, no sentido em que so comumente consideradas. 3)Quando o objeto intelectual abstrado de toda matria singular, tanto sensvel como inteligvel, como os conceitos de causa, efeito, as categorias, em suma, os entes imateriais, objeto da Metafsica, temos a abstrao de terceiro grau. A abstrao mental a preciso. Em primeiro lugar, h muitos que no concebem outro modo de ser seno o corpreo; ou seja, o tridimensional tpico, espacial, a corporeidade da essncia do ser positivo. Fora da corporeidade no h nada. Dizemos essncia, com o intuito de nos referirmos ao que, sem o qual, uma coisa no o que ela , e por esse algo que uma coisa o que ela . Assim o ser, positivamente considerado, s se for corpreo, se apresentar a tridimensionalidade espacial; caso contrrio ser apenas nada, no ser. Portanto, da sua essncia ser corpreo. So tais pensadores os descendentes daqueles que, no sculo passado consideravam o peso como essncia da matria, ou a resistibilidade, etc. Para eles, outro modo de ser, que no o sensvel, o que seus olhos vem, seus ouvidos ouvem, suas mos tocam, suas narinas cheiram, sua lngua gusta, no nada, no . E, em palavras proferidas em tom professoral e catedrtico, negam realidade a tudo quanto no pode
18
ser objeto de assimilao pelos esquemas da sensibilidade. Mas acontece, quer queiram quer no, quer teimem em provar o contrrio, que o ser humano no s sensibilidade, tambm afetividade e intelectualidade e, seja como for, no conseguiro jamais dar um peso ou pesar, nem medir um sentimento, uma afeio, nem tampouco medir ou pesar ou dar uma idade a um conceito, pois tais seres se excluem da tridimensionalidade espacial. Ademais, em face dos atuais conhecimentos da Fsica, e ante o desenvolvimento da Cincia, j se sabe que a corporeidade apenas um modo de ser dos entes fsicos, no o nico modo de ser de tais entes. A Fsica vai alargando cada vez mais o conceito de ser, ultrapassando o campo da matria sensvel, o conceito comum de matria e tambm as dimensionalidades que eram prprias dos entes de nossa experincia sensvel.
DA VERDADE Verdade, como termo verbal, um substantivo abstrato, ao qual, portanto, no corresponde nenhum sujeito. Usavam os gregos a palavra altheia, formada do alfa privativo e de lethes, esquecimento, significando o que des-esquecido, o que no mais oculto, o que se revela, para nomear a verdade. Foi empregado atravs de seus derivados, como verdadeiro, veraz, verdico, etc., em oposio ao amigo falso, que demonstra falsa amizade, ao ouro falso. Quando se fala em palavras verdadeiras, diz-se que so palavras que no contm mentira. Quando se fala num conhecimento verdadeiro, quer-se referir a um conhecimento que no falso, que se ope ao falso. Desde logo se nota que o conceito de verdade implica dois termos extremos e uma conformidade entre eles. Genericamente, verdade significa que h alguma conformidade entre dois extremos. Mas, especificamente, implica que um desses dois termos seja o intelecto. Da haver conformidade entre o que afirma o intelecto e a coisa, o objeto ao qual se refere essa afirmao. Para os antigos, a verdade, no sentido lgico, nada mais que a adequao entre a coisa e o intelecto, a coisa qual aquele se refere, ou na frmula latina adaequatio rei et intellectus. Dizer-se que verdade no isso, negar-se ao termo a intencionalidade que lhe d a nossa mente. Poder-se-ia ter outro conceito de verdade? Absolutamente no, porque fora deste no ser mais o que intencionalmente queremos dizer com tal termo. Poder-se-ia, contudo, em sentido lato, dizer que verdade apenas a conformidade entre dois extremos, nos quais nenhum deles o intelecto, como quando se diz uma noite verdadeira, gua verdadeira, uma dor verdadeira. Mas a verdade lgica, que bsica para a Filosofia, tomada no sentido estrito que acima citamos. No
4
Todo e qualquer mtodo da filosofia gira em torno da abstrao-concreo. Assim, a dialtica concreta realiza a concreo aps a anlise abstrativa, conexionando o que implica e exige a sua presena. A concreo comea pela
19
estamos, porm, trilhando caminho pacfico. Ao contrrio, h aqui inmeras controvrsias. Muitos escreveram pginas e pginas contra a verdade, e julgam verdadeiras as suas afirmaes. E apontaram-lhe inmeros inconvenientes, como analisaremos a seguir. Antes de faz-lo, mister que precisemos um conjunto de idias para que elas nos sirvam depois, para analisar, as razes apresentadas pelos que lutam contra ela, e que acham que verdadeiramente no h verdade. Diz-se que a verdade ontolgica ou real, quando ela consiste na conformidade entre coisas e o intelecto. Diz-se que lgica, quando a conformidade se d entre o intelecto e a coisa (intellectus cum re). Assim uma verdade ontolgica que o anterior tem prioridade sobre o posterior; uma verdade lgica chamar esta residncia de casa, por que realmente o que conceituamos por casa est conforme com ela. Vejamos o que se entende por conformidade, adequao. Diz-se que conforme o que est de acordo formal com alguma coisa. Adequado o ad aedqualis, o que igual de certo modo a outro. Ao tomarmos um objeto, podemos consider-lo segundo todas as suas notas e propriedades; ou seja, segundo a sua compreenso. Tomamo-lo, assim,,materialmente. Mas se consideramos segundo uma ou mais notas e propriedade, ns o tomamos formalmente. Ora, no conhecemos tudo de uma coisa, e quando falamos em verdade lgica queremos nos referir que h adequao entre o que conhecemos, ou dizemos da coisa, com a coisa. Deste modo, o que conhecemos pode ser verdadeiro, Uma verdade lgica seria perfeita se a conformidade se desse em todas notas. H, assim, verdades lgicas mais perfeitas ou menos perfeitas. Mas a menor no menos verdadeira que a maior, porque a verdade no se refere quantidade do que se sabe, mas qualidade do que se sabe. No mister que o que sabemos seja total para ser verdadeiro, pode ser parcial. Quando filsofos modernos dizem que o conhecimento falso, por que no sabemos tudo, seria o mesmo que dizer que falso afirmar que um ser humano o soldado A do peloto tal, do batalho tal, pelo simples fato de no sabermos tudo sobre ele. Do mesmo modo no iremos dizer que o conhecimento que temos de tal filsofo falso, pelo simples fato de no o conhecermos pessoalmente, no saber sua idade, sua filiao, seu peso, sua altura. Contudo, embora seja de pasmar, h filsofos que afirmam que h falsidade no conhecimento enquanto no ele total. Ora, falsidade o oposto da verdade. Quando se diz falsidade, diz-se que h ausncia de verdade. Uma verdade mais perfeita ou menos perfeita no mais verdadeira que outra, nem mais falsa ou menos falsa que outra. Estaria certa essa afirmao se entre verdade e falsidade fosse possvel inscrever-se um terceiro termo. So extremos, porm, que se excluem.
contrao, que uma operao inversa abstratora.
20
Mas a conformidade que se exige do intelecto com a coisa uma conformidade intencional. No mister uma identificao, o que seria impossvel. Portanto, a melhor definio da verdade lgica a conformidade ou adequao intencional do intelecto com a coisa. Vejamos quais so as posies contrrias a essa definio, que clara, breve, recproca e no contm negao, o que caracteriza uma boa definio. No que essa definio seja uma novidade na Filosofia. No; ela aceita por todos os filsofos positivos e concretos em todos os tempos. Diz Kant que a verdade consiste na conformidade da cognio consigo mesma; ou seja, na conformidade de todas as cognies com as leis do cogitar, e entre si mesmas. Tambm esta a opinio dos relativistas de toda espcie. Ora, ela falha, porque no recproca. Dizer-se que a verdade a conformidade da cognio consigo mesma no permite a inversa: a conformidade da cognio consigo mesma no a verdade, porque ento bastaria haver essa conformidade para haver verdade, neste caso qualquer cognio falsa seria verdadeira, bastando apenas ter conformidade consigo mesma. Dizer-se que a verdade estar de acordo com as leis do cogitar a definio da retitude, no da verdade. Uma cogitao pode proceder retamente e, contudo, ser falsa. Para os empiristas s verdadeiro o que se verifica, na experincia, como os sensistas, verificado atravs dos sentidos. Tais posies restringem o mbito da verdade. Segundo os pragmatistas a verdade apenas o que til, o que frtil ao conhecimento, o que favorece a vida. Ora, tal posio apenas capta uma nota da verdade. Ademais, h erros que so teis, e nem por isso so eles verdadeiros. Modernamente, alguns cultores da Axiologia (como Rickert, Wildelband, etc.), dizem que a verdade um valor. Mas nunca houve tanta confuso e tanta controvrsia sobre o valor, como houve entre os modernos axiolgicos. Se no do uma definio clara do que valor, como podero dar uma definio clara do que verdadeiro? Querendo esclarecer o que o valor, tornaram esse tema um dos mais obscuros da Filosofia, e no conseguiram resolver nenhum problema, mas obtiveram, isso sim, o aumento da confuso nos espritos, e a multiplicao de uma linguagem filosfica pretensiosa e pernstica, que apenas oculta a vacuidade e o contra-senso. Mas muitas objees posio positiva sobre a verdade foram apresentadas pelos adversrios. Segundo eles: no possvel uma conformidade intencional entre o intelecto e a coisa, porque para que tal se desse seria mister que se referisse a todas as perfeies que esto na coisa. Mas esqueceram que no se trata de uma adequao total, mas apenas parcial e que uma adequao parcial uma contradictio in adjectis, pois quando se diz adequao se diz total e no parcial,
21
porque uma adequao parcial uma inadequao. Mas a resposta a tal argumento muito simples: haveria tal inadequao se postulssemos uma adequao meramente quantitativa. Mas a prpria adequao qualitativa por sua vez rejeitada pelos adversrios, porque no admitem nenhuma espcie de adequao entre o intelecto e a coisa conhecida, porque o primeiro um ente mental e o segundo um ente extra-mental. Mas a resposta que merece tal argumento de que no se trata de uma conformidade entitativa, em sentido fsico, mas apenas uma conformidade intencional. E quando queles que afirmam que o objeto mental imaterial, enquanto o objeto conhecido material, o que impede qualquer adequao entre ambos, esquecem que a conformidade afirma uma analogia entre o objeto mental e o extra-mental, e no uma adequao perfeita. Em suma, esses so os argumentos principais dos que negam a definio de verdade lgica. Alguns argumentam ainda com as negaes; pois como poderia haver adequao entre um conceito negativo e a coisa? Mas o conceito negativo no se refere coisa, mas a alguma ausncia na coisa; apenas afirma a recusa da presena de alguma determinada positividade na coisa, sem negar esta. Portanto, tambm este argumento no procede. Qualquer argumento em contrrio tese consiste apenas numa ignoratio elenchi; ou seja, numa ignorncia do tema, pois combate-se a adequao, porque a tomam num sentido diverso daquele que tem para os filsofos positivos e concretos. Nenhum deles jamais afirmou que o esquema notico fosse uma cpia da mesma natureza da coisa conhecida. Nem h necessidade para que haja alguma adequao entre uma coisa e outra, que sejam elas da mesma natureza. O retrato de algum se adeqa fisicamente ao retratado, sem necessidade de que a natureza do retrato seja a mesma daquele. E embora parea incrvel, inmeros e notrios filsofos, fazem afirmaes dessa espcie. Gravssimo erro, e de conseqncias desastrosas, foi julgar-se que o conhecimento parcial, por ser assim, falso. Uma apreenso, que captao de uma notcia de alguma coisa, mais um ato passivo, e no h nela nenhuma afirmao ou negao da notcia; ou seja, no se estabelece um juzo sobre a notcia, mas apenas a simples representao. No juzo, h outra operao, porque nele, a mente afirma ou nega o atributo ao sujeito, toma, portanto, uma atitude, prefere alguma coisa, julga, portanto. Dada uma cognio, podemos verificar que ela conforme com o seu objeto; contudo, no sabemos qual essa conformidade; apenas sabemos que h uma conformidade, sem sabermos qual . Esta verdade lgica imperfeita, e os escolsticos chamavam-na de incoativa. Quando se conhece qual a conformidade, ento a verdade perfeita. E esta pode dar-se de dois modos:
22
1)quando se conhece a verdade da prpria cognio (o que os escolsticos chamavam de in actu signato); ou 2) quando, alm desse conhecimento, sabemos que este conforme o que a coisa enquanto em si mesma (chamado pelos escolsticos in actu exercito). Entre os filsofos, h os que admitem a existncia da verdade lgica, e os que a negam. Quanto aos primeiros, mostramos a improcedncia de sua posio, que decorre de uma falha compreenso do que seja verdade lgica. Quanto segunda posio (que a nossa) admitimos que ela se d gradativamente em sentido perfectivo. A simples conformidade da cognio com o seu objeto uma verdade lgica (incoativa), podendo ela alcanar graus perfectivos maiores, como a in actu signato e a in actu exercito. Perfectibiliza-se a verdade lgica, quando ela consistente num ato cognoscitivo, no qual so conotadas as notcias, que correspondem ao objeto no mesmo modo como so elas representadas. Ora, no se deve confundir a imagem (o phantasma), que se tem de uma coisa com as formas eidtico-noticas, os eide, que nosso esprito, nous, constri. Estas afirmam as notas captadas do objeto, mas reduzidas a esquemas noticos. Estamos aqui em face de uma representao notica, que distinta da imagem. Assim podemos compreender, representar o ultravioleta, sem uma imagem correspondente. A representao que fazemos do ultravioleta, como a do infravermelho, no contm, nenhuma imagem (nenhum phantasma), porque no so entes de nossa experincia sensvel, mas entidades que alcanamos atravs de nossos conhecimentos. Quando o enunciado lgico, que fazemos (o juzo, que construmos) representa o objeto com notas adequadas ao que ele na realidade, esse juzo encerra uma verdade formal perfeita. Na mente humana, o esquema eidtico-notico no uma imagem do que est na coisa, mas apenas uma expresso formal, que intencionalmente se refere ao que est na coisa. E se o que est nesta representado adequadamente no esprito, este, quando estabelece um juzo com tais representaes, estabelece uma verdade formal perfeita, uma verdade lgica perfeita. S mesmo muita ingenuidade poderia exigir que, na mente humana, eidticonoticamente, os esquemas correspondessem a cpias fantasmticas das coisas. Mas h quem afirme tal coisa, e queira reduzir os esquemas mentais apenas a meros esboos esquemticos memorizados de imagens, de fantasmas. E entre esses alguns filsofos, cujas obras so matria de estudos demorados em aulas e cursos, e muitas vezes mais apreciados que os filsofos positivos e concretos, que no gozam de tantos favores. Mas, na verdade h outras intenes nisso tudo.5
5
A finalidade no esclarecer, mas confundir; no dar solues a problemas, mas envolver o homem numa problemtica que lhe parea insolvel, para que o desespero dele se aposse, e mais fcil se torne presa daqueles que
23
Volvendo aos esquemas eidtico-noticos, sem dvida que a muitos deles esto unidos esboos memorizados de experincias sensveis. Mas, inegvel a capacidade humana de poder, a pouco e pouco, purificar os esquemas eidtico-noticos at da influncia notica, buscando-se a sua pureza eidtica. A falsidade s se d no juzo e no na simples apreenso, porque a inconformidade se d entre o que intelectualmente afirmamos do objeto e ao qual no se adequa. Pode um juzo ser formalmente verdadeiro, sem que o seja materialmente verdadeiro, pois a prova material outra. Assim Deus existe um juzo logicamente verdadeiro, porque prprio de Deus existir; ou seja, o predicado existir cabe necessariamente a Deus, pois um Deus inexistente no Deus. Mas se h verdade formal no juzo, a verdade material no decorre daquele, mas de uma prova outra que robustea a adequao, a conformidade daquele juzo com a realidade. A afirmao de que Deus existe realmente, independentemente da mente humana, j exige outras provas, que dem as razes materiais de sua existncia. Um juzo lgico pode, pois, ser logicamente verdadeiro e tambm realmente (materialmente verdadeiro), quando, alm da verdade formal cabe-lhe, ainda, a verdade material. Se a verdade formal e a material so provadas, e h ainda a razo ontolgica, alcanamos, ento, ao que chamamos a verdade concreta, que a connexio de todas essas verdades. Quando carecemos da cognio de alguma coisa, ignoramo-la. A ignorncia essa ausncia de cognio, que pode ser negativa, como a nescincia pura e simples, no-cincia, e a privativa, que a ausncia da cognio devida. Muitos confundem a falsidade com a ignorncia, mas a distino simples e clara. Na falsidade, h inconformidade, discrepncia do conhecido com o cognitum, enquanto, na ignorncia, h falta, ausncia de conhecimento. Em face de uma oposio contraditria, quando a mente permanece indecisa, estamos em dvida. H opinio, quando a mente apoia, assenta sobre um juzo, mas teme, contudo, o erro, e que o juzo contrrio seja verdadeiro. H certeza, quando a mente j no teme mais o assentimento que d a um juzo. H suspeita, quando a mente permanece entre a dvida e a opinio. Ora, a certeza pode ser conseguida de dois modos: subjetivamente, pela f, pela adeso firme da mente a um juzo sem temor de erro; ou objetivamente, pela demonstrao rigorosa, que prova a validez e o acerto do juzo, retirando qualquer temor de erro.
desejam destruir o mundo cristo em que vivemos, para substitui-lo por outro, onde, outra vez, o esprito tribal passe a ser uma fora propulsora, e o olho por olho e dente por dente, um direito fundamental dessa sociedade.
24
A primeira certeza (f) a da Religio, a segunda a da Filosofia. H, contudo, uma filosofia de opinio, que se funda em juzos assertricos e meramente opinativos. A Filosofia deve ser provada, e a prova filosfica a demonstrao, como a experincia a prova cientfica. H os que alegam e expem seus pontos de vista ao sabor das suas inspiraes. So os estetas, que fazem esttica filosfica. Mas a Filosofia propriamente dita no se submete Esttica, mas segue sua linha e seu mtodo, que lhe genuno: a demonstrao, e esta deve ser a mais apodctica possvel; ou seja, fundada em juzos necessrios. A falta desse rigor e o domnio pouco eficiente da Lgica e da Dialtica favoreceram que muitos filsofos aumentassem o nmero dos erros, em vez do nmero das demonstraes, opinies, suspeitas, pontos de vista, pareceres, afirmativas gratuitas, doutrinas e teorias mal esboadas, e pouco fundadas tornando quase impossvel a digesto de tanta coisa. Por esta razo impe-se uma reviso da Filosofia. Mas essa tem de processar-se pelo apontamento dos erros e das suas origens, da sua etiologia, porque a que est a chave principal do trabalho de seleo, que devero fazer as geraes futuras, por entre o caudal de erros, que livros filosficos insuflaram no pensamento humano. preciso selecionar e, para isso, mister separar. Mas a separao exige um critrio, e este s pode ser o da apoditicidade. O que no vier revestido do carter de apoditicidade deve ser posto de quarentena. necessrio examinar tudo com o mximo cuidado, volver discusso dos pontos fundamentais do filosofar, para de uma vez por todas realizar a colheita benfica e proveitosa. Mas o primeiro passo, sem dvida, tem de ser dado pela denuncia dos erros fundamentais. o que ns, por nossa parte, fazemos nesta obra. Pelo que examinamos, fcil perceber por onde se iniciam os erros. Mas veremos onde eles se fundam, e que h argumentos aparentemente seguros para justific-los. Analisaremos todos os aspectos para mostrar a inanidade fundamental de tudo quanto se apresentou at aqui em contrrio s teses da filosofia positiva e concreta. mister distinguir o juzo provvel de o juzo de probabilidade. O primeiro afirma que o nexo que une o predicado ao sujeito apenas um possvel, como se v no juzo provvel: Joo possivelmente se salvar com esta operao. Mas, no juzo de probabilidade, o nexo que h entre o predicado e o sujeito afirma existir j, no sujeito, motivos, condies, etc., para que se d o que lhe predicado, ou no. Assim o juzo: no tem possibilidades de curar um juzo de probabilidade. A diferena que h entre os dois juzos importantssima no filosofar. E que, enquanto o predicado afirmado do sujeito como algo provvel de acontecer, no segundo juzo, a possibilidade que se afirma do sujeito, fundamentalmente certa porque h naquela, condies para que tal acontea. Deste modo, quando se argumenta com juzos em que o predicado afirmado como possvel, mister distinguir se a predicao provvel ou uma probabilidade. O provvel
25
pode ser meramente fortuito, mas a probabilidade, que tambm pode no acontecer, possui, porm, algum elemento seguro, certo, algum motivo ou condio que a afirma como predisponente para o evento, o que distinto do primeiro caso. Ora, a opinio funda-se em geral em tais juzos. E ela prudente ou imprudente, segundo se fundamente em probabilidades ou improbabilidades. A imprudente tambm chamada de temerria. Para haver uma certeza absoluta preciso que se excluam as possibilidades opostas e simultneas ao juzo que se formula. Enquanto tal no se d, havendo uma possibilidade contrria, simultaneamente, no podemos ter uma certeza absoluta. Deste modo, um juzo, para ser absolutamente certo, tem de excluir o opinativo, e no pode ser provvel ou de probabilidade, pois manteria, simultaneamente, a possibilidade contrria. mister afastarem-se as possibilidades contrrias para que se possa afirmar que h certeza absoluta. Quando a possibilidade contrria absurda, por ser contraditria, estamos em face de um juzo verdadeiro pela prova de sua reduo ao impossvel, pois seria impossvel o enunciado contrrio. Essa prova no , contudo, suficiente, alega-se, no que se refere Matemtica e Fsica, pois h casos em que o contraditrio passvel de admitir uma possibilidade ou probabilidade. Contudo, na Ontologia, no h tal possibilidade, e verdadeiramente tambm no o h nem na Matemtica nem na Fsica. Muitas possibilidades o so enquanto subjetivamente fundadas, embora objetivamente no ofeream fundamento. Ademais, em tais juzos, em que o seu contraditrio possvel, nem sempre h clareza na classificao deles. Ora, os que estudaram Lgica sabem que os juzos contraditrios so os juzos universal afirmativo em relao ao particular negativo, e o universal negativo em relao ao particular afirmativo. Um desses juzos verdadeiro, e o seu contraditrio ser necessariamente falso. Dois juzos particulares, um afirmativo e outro negativo, podem ambos ser verdadeiros e podem ser ambos falsos se a matria for contigente. Mas um juzo universal afirmativo, se for verdadeiro o particular negativo que a ele se ope, ser necessariamente falso. O mesmo se d com o universal negativo e o particular afirmativo, quando se opem. Mas, quando se do dois juzos contrrios, ambos podem ser falsos, embora apenas um, poderia ser verdadeiro. Jamais ambos podem ser verdadeiros. Quando se alegava que a Fsica provava a contradio, pois afirmava e provava na teoria atmica a tese corpuscular e ao mesmo tempo a tese vibratria, e que os ltimos entes dos tomos, ou eram corpsculos ou era vibraes, e que eles procediam, ora como corpsculos, ora como vibraes, e que havia a uma prova da contradio e da validez de juzos contraditrios, tais pessoas revelavam apenas desconhecerem totalmente a Lgica Fundamental e nada mais. Primeiro no se tratava de dois juzos contraditrios, mas de dois juzos que predicavam atributos distintos a um mesmo ser: vibratrio e corpuscular. Queriam dizer uns que a natureza do tomo era vibratria,
26
e outros que era corpuscular, mas corpuscular no total e absoluta privao do vibratrio, nem vice-versa, o que seria exigvel para haver contradio. Haveria, sim, se se afirmasse que todo tomo vibratrio e que alguns tomos no so vibratrios. A, sim, a estaramos em face de uma contradio. Tanto vibratrio como corpuscular so diferenas acidentais. E haver acidentes distintos num ente no implica contradio. Outra aparente contradio consistia na afirmao das duas leis da Termodinmica, que eram contraditrias. Mas essa contradio no era ontolgica. Referia-se apenas a fatos que eram constitudos de acidentes, que revelavam uma oposio, mas passveis de serem entendidos numa concepo que os conciliasse, como aconteceu, e a pseudo-contradio, que fazia babar de gozo os adversrios da Filosofia Positiva e Concreta, que nega validez e fundamento contradio atual, ruiu, finalmente, ante as novas explicaes da Cincia. Para alcanar-se a certeza perfeita, mister atingir a excluso absoluta da possibilidade da simultaneidade dos contraditrios. Sabemos que em ato so impossveis os contraditrios sob o mesmo aspecto e ao mesmo tempo. Potencialmente, os contraditrios so possveis. Assim estar Joo sentado agora e estar em p ao mesmo tempo impossvel por contraditrio. No so impossveis: estar Joo em p, e estar Joo sentado daqui a pouco, pois so possibilidades, que podero atualizar-se, uma ou outra, no ambas ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. O princpio de identidade, o princpio de razo suficiente, o de no-contradio, o do terceiro excludo e outros tiveram, atravs dos tempos, as mais decisivas demonstraes. Mas tambm houve os que procuraram retirar-lhe a validez ontolgica, lgica e ntica (real-real). E que argumentos apresentaram? Os mesmos de sempre, sempre refutados. Mas h sempre algum na Filosofia que volta a reapresent-los, e a receber a mesma refutao. Mas vem outro, que esquece, ou no sabe o que j foi feito, e volve a apresentar os mesmos argumentos, de onde se originam inmeros erros filosficos. Quando se fala em liberdade no se deve confundi-la com a de exerccio, pois esta at os animais a possuem, mas a de especificao, que decorre da vontade que assente ou dissente. Na verdade, o intelecto no livre na escolha, porque, enquanto tal, ele obedece s suas leis prprias. O que livre a vontade que elege, que prefere ou pretere, que escolhe entre o que conveniente ou no. De per si no livre o intelecto, mas livre a vontade imperante do homem. O juzo no um ato da vontade, mas do intelecto. No h no juzo uma apetncia ao bem ou ao mal, mas apenas afirmao verdadeira. Sabemos que a apreenso a notcia da coisa por parte do intelecto, e este erra quando h discrepncia entre sujeito e predicado, o que surge de o intelecto estender seus assentimentos acima do que foi apreendido, cuja causa remota sempre o influxo da vontade,
27
predisposta muitas vezes por condies, como seja a aparncia do verdadeiro, ou pelo afeto, que vicia a vontade ao ato indeliberado. Erra a mente quando assente firmemente sobre o que falso, como se fosse verdadeiro. Para Spinoza e Hegel, o erro consiste na cognio inadequada; o que no expressa bem o seu conceito, h erro quando nosso intelecto estende seu assentimento alm do que apreendeu. A apreenso no realiza erros. Ela nos d o que capta. o intelecto que erra ao apreciar o que capta, alm do que realmente . So os nossos sentidos externos fontes de conhecimentos certos e verdadeiros. Uma afirmativa como esta encontra objetores. Expliquemos, na psicologia, os sentidos so os meios pelos quais percebemos as coisas materiais, singulares. Constituem rgos, que tm uma funo vital determinada, quer vegetativa, quer sensitiva. Assim os olhos para a viso (no os olhos propriamente, mas todo o conjunto do rgo visual, inclusive a parte cerebral). A percepo sensvel distinta das outras potncias (como a vegetativa), ela realiza o ato representativo do objeto por diferenciaes de potencial sensvel. O objeto da sensao a coisa material, singular. Dividem-se os sentidos em internos e externos. A capacidade cognoscitiva dos primeiros reside no rgo, e a sensao realiza-se imediatamente por estmulo dos objetos externos sobre tais rgos. Os internos so fundados tambm em rgos, mas seus atos cognoscitivos se realizam atravs de outra sensao. Assim a memria, a qual depende de sensaes anteriores.6 Diz-se que sensvel o objeto que pode ser percebido pelos sentidos. H o sensvel que cabe apenas a um rgo (que toma o nome de sensvel prprio), como o som, e o que pode ser percebido por vrios rgos, como a extenso, pela viso e pelo tato, chamados sensveis comuns. Costumavam os antigos classificar como sensveis comuns: quantidade, figura, nmero, movimento e quietude. Chamavam de sensvel per acidente o que no sentido propriamente pelo sentido, mas o que incluso ao que sentido, como ao dizer que vemos uma rvore. Propriamente no vemos a rvore (que uma forma), pois esta uma substncia, que se apresenta com determinados acidentes que vemos, e que sabemos por deduo pertencer arvore. Estamos aqui no exame de conceitos que so admitidos por todos, e que perduram no pensamento filosfico. Ademais, todos os conhecimentos da psicologia moderna no modificaram em nada tais conceitos. Surgem diversos problemas e questes de Filosofia, no tocante a saber qual o grau de procedncia e de adequao de nossos sentidos aos objetos; se nossos conhecimentos correspondem e at onde correspondem realidade dos mesmos e se no so estes nada mais que meras
6
No vamos aqui examinar o que cabe Psicologia tratar, mas apenas os aspectos que podem interessar aos estudos filosficos.
28
construes de nosso sistema sensrio-motriz, etc. Podemos distinguir as diversas posies em duas genricas: 1)a dos que no admitem haver objetos exteriores, realmente, extra mentis, e 2)a dos que afirmam que, realmente, h tais objetos. Examinemos a primeira posio. Leibnitz afirmava no existirem corpos formalmente, mas apenas aparentemente para ns. Assim os corpos so compostos de mnadas, inextensas, portanto no possuem os corpos as trs dimenses, que so da sua essncia, pois no h distncia entre as mnadas, no h movimento entre elas, nem interatuao de umas sobre as outras. De modo que o nosso conhecimento dos corpos no se funda na realidade exterior dos corpos, pois estes no so, na realidade, o que parecem ser para ns. Kant, que tambm toma essa posio genrica, afirma que no conhecemos o que realmente as coisas so em si mesmas, o noumenon. O que conhecemos o fenmeno, o que nos aparece, e que modelado segundo as formas da nossa sensibilidade, que lhes d as caractersticas do tempo e do espao, como se realmente fossem corpos. Berkeley tambm negava a existncia dos corpos e da matria sensvel. Sua posio foi chamada de imaterialista. Os fenmenos so meramente subjetivos, e o ser das coisas o que percebemos que elas so (esse est percipit). Tais sensaes so realizadas por Deus em ns, na mesma posio: Locke, que o que percebemos nas coisas so apenas nossas representaes subjetivas, Malechanche, que eram o que Deus provocava em ns, atravs de representaes, os neo-realistas anglo-americanos, que seguem a linha de Leibnitz, inmeros filsofos idealistas. A segunda posio afirma a existncia de corpos formalmente extensos, como o realismo ingnuo do homem comum, que nenhuma dvida ps quanto aos nossos conhecimentos sensveis, e que est certo que as coisas so realmente como elas so vistas, tateadas, ouvidas, cheiradas, saboreadas. Ao lado dessa posio, h o realismo crtico, que admite a existncia dos corpos, com sua tridimensionalidade, a qual possui poderes que produzem em ns, segundo a relao e a proporcionalidade dos nossos sentidos (ou seja, segundo a acomodao e assimilao dos esquemas sensveis) as representaes subjetivas, que temos das cores, dos sons, dos odores, etc., que so proporcionadas nossa esquemtica, mas fundadas na realidade do corpo. Esta posio a aceita pelos filsofos positivos e concretos de todos os tempos. Temos diretamente a evidncia imediata da existncia do mundo exterior. Em face dos atuais conhecimentos cientficos inadmissvel negar a existncia de tal mundo, embora se reconhea que o conhecimento que dele temos proporcionado nossa esquemtica e na relao em que aquele se encontra ante ns. No h dvida que as cores no so como nos parecem ser, que muitas so, na natureza, diferentes da imagem que temos, etc Mas todas essas diferenas no tornam falsas as
29
nossas apreenses, pois um conhecimento parcial no falso pelo simples fato de ser parcial. Este tem sido um dos erros mais freqentes cometidos por medocres filsofos.
DOS CONCEITOS UNIVERSAIS
O ponto fundamental de onde partem os maiores erros na Filosofia e no s nesta, mas em disciplinas, inclusive cientficas, so praticados por aqueles que no se dedicaram cuidadosamente ao estudo da Filosofia e, sobretudo, da Lgica. da experincia em nossa vida terica e prtica, intelectual, etc., constante o uso de conceitos universais, sem os quais se tornaria impossvel a comunicao e a construo dos conhecimentos cientficos, pois desde os antigos sabe-se que a cincia trata dos universais, que seu objeto sempre universalmente tratado. Destacam-se quatro problemas no exame dos conceitos. O primeiro o problema crtico, que procura resolver o valor ou realidade dos conceitos universais. Respondendo a ele estabeleceram-se trs sistemas: o nominalismo, que nega supsito, realidade a tais conceitos; o conceptualismo, que afirma haver algo no conceito universal, mas nas coisas no lhes corresponde nenhuma realidade e, finalmente, o realismo, que afirma terem os conceitos universais um valor objetivo. O segundo o ontolgico ou metafsico, o qual pergunta pela espcie de realidade que h nos conceitos universais; se possuem nas coisas a mesma realidade que tm em nossa mente, ou se so na mente de modo distinto de o que so nas coisas. Em resposta a elas surgem duas solues: o realismo exagerado, que afirma que tm uma existncia real a parte rei, e o realismo moderado, que afirma existirem nas coisas apenas fundamentalmente e no formalmente; ou seja, segundo o que concebemos, no segundo o modo pelo qual so concebidos (quoad in quod concipitur, non quoad modum quo concipiter). O terceiro problema psicolgico. Investiga o modo como feito o universal, como o constri a nossa mente, que responde pela distino entre o universal direto (universale directum), que o universal que afirmamos na coisa, e o universal reflexo, que o universal construdo em nossa mente (universal reflexum). O quarto problema o lgico, que trata da classificao lgica dos conceitos universais. H profundas distines entre a coisa tomada em sua materialidade e o conceito universal, que passam a ser matria de estudo na Filosofia, e que marcam os pontos de divergncia na anlise. Assim, enquanto as coisas materiais so singulares, as idias so essencialmente universais; enquanto as primeiras so contingentes, mutveis, transitrias, as outras so necessrias,
30
imutveis, eternas; enquanto as primeiras so concretas e determinadas segundo as suas circunstncias, as idias so abstratas e prescindem das circunstncias. Ora, sendo to diversos os conceitos universais das coisas singulares, como poderiam aqueles ser aplicados s coisas? 7 Todas as doutrinas modernas, que se afastam da linha positiva e concreta da Filosofia, como o cepticismo, o relativismo, o subjetivismo, o racionalismo, o irracionalismo, o idealismo, o materialismo, o pragmatismo, o pantesmo, o ontologismo, o fidesmo, o ficcionalismo, o existencialismo, o niilismo, etc., partem da maneira diversa de conceber os universais. E mais: a maneira falsa de conceb-los uma das origens de todos os grandes erros filosficos, pois a outra fonte est no mau uso da Lgica e, sobretudo, da silogstica mal orientada. Entende-se por universal algo que se diz em ordem a muitos, algo que tem ordem em relao a muitos, como tambm indica alguma comunidade, o que muitos tm em comum. Etimologicamente, vem do latim unum et versum, no propriamente de versus, mas do verbo verto, vertere, do que verte em muitos, unidade de muitos. o termo universal tomado em muitos sentidos: Universal no causar (incausando), quando alguma causa produz todos os efeitos; Universal no significar (in significando) quando significa muitos, no, porm, por semelhana, mas porque apto a levar ao conhecimento de muitos outros como uma voz, um sinal, etc.; Universal no predicar (in praedicando), o que apto a predicar de muitos univocamente, e a cada um e segundo toda a sua razo; Universal em ser (in essendo), o que pode ser em muitos, univocamente, e em cada, e segundo toda a sua razo, como uma identidade em muitos; Universal em representar (in repraesentando) por representar muitos, por ser a imagem ou a semelhana deles; assim a idia exemplar na mente do artfice (a forma do vaso, por. ex.). No nos cabe tratar do universal em causar, nem do universal em significar, mas sim do universal em ser, do universal em predicar. O universal em ser o chamado universal metafsico, tambm chamado de direto, de primeira inteno, pelos escolsticos, um por ser indiviso in se, e distinto de qualquer outro. uma unidade precisiva, captada pela mente, que rene as notas de uma determinada natureza, prescinde de sua individuao, e inclui, ademais, a indiviso e a aptido para a diviso em muitos. apta a estar em muitos por identidade, pois a sua natureza, sendo uma em si, contudo pode referir-se e repetir-se em muitas e delas ser predicada por identidade. Esta aptido de
Esta pergunta, estabelecida pelos escolsticos, parte da apreciao daquelas distines.
31
ser em muitos no meramente negativa (indicando mera no repugnncia), mas positiva, verdadeira exigncia de ser em muitos. E univocamente, quer dizer, nem anloga nem equivocadamente tomada. tomada distributivamente em muitos, no por multiplicao atual, numrica, mas por oferecer a multiplicabilidade de ser em muitos sem estar em muitos com sua subjetividade, mas com a sua presena formal, e estar em toda a sua razo, em todo o seu logos, e no com alguma de suas partes. O universal no predicar (in praedicando), tambm chamado lgico, reflexo, de segunda inteno, consiste em um apto a ser predicado de muitos por identidade. A unidade do universal no a unidade do indivduo, pois este algo um, que indivisvel em muitos. No uma unidade formal, porque esta indiviso de alguma essncia em si mesma, e em muitas essncias, porque nem tem notas separadas, nem se identifica com qualquer essncia especificamente distinta. A unidade do indivduo incomunicvel a outro indivduo. Tambm no uma unidade fictcia, nem uma unidade de semelhana, porque esta afirma a diversidade dos indivduos, que convm com outros em alguma nota, o que no prprio da unidade, mas sim da multiplicidade. A unidade propriamente universal aquela que afirma indiviso das notas na mesma natureza e distino de qualquer outra essncia e de todo o indivduo; ou seja, unidade de preciso. O universal pode ser dividido em fundamental, direto e reflexivo. O universal fundamental so as prprias coisas singulares, semelhantes em alguma nota, que levam o intelecto, que no conhece a coisa compreensivamente, a consider-las como universais, pondo de lado as notas individuais. O universal formal direto constitudo das notas individuantes, tomadas em sua universalidade, como cavalo, tomado como quadrpede. O universal formal reflexo a natureza tomada precisivamente, segundo as notas individuantes, considerada como uma unidade de preciso, predicvel de muitos, como so os predicamentos de gnero, espcie, etc., na Lgica. No universal, h a concreo da natureza e da forma de universalidade. Os universais fundamentais so propriamente os indivduos, isolados das notas individuantes. O universal formal direto refere-se natureza e forma de universalidade, como cavalo. O universal formal reflexo a universalidade da universalidade, o universal tomado como referente a muitos outros, como os predicamentos de gnero e espcie, na Lgica. Assim, quanto a um tipo de automvel, em cada unidade h a mesma proporo de partes, segundo um logos, que um em muitos e, univocamente, em cada um, tomado distributivamente, e segundo toda a sua razo de universalidade. E essa universalidade, que se d
32
em cada unidade de tal, tipo, na coisa, corresponde mesma esquemtica do logos de proporcionalidade intrnseca, que est expresso nos esquemas grficos de sua construo, e correspondem ao esquema mental do seu tipo, segundo esteve na mente de seu criador. Temos em cada unidade um universal em ser (in essendo, um universal metafsico, direto, de primeira inteno, que no uma unidade de singularidade, porque no exclui a multiplicidade que se d em todas as unidades de automveis de tal tipo, no uma mera semelhana. Portanto, quando falamos do tipo X, ns o tomamos como um universal ao predicar (in praedicando), universal lgico, reflexo, de segunda inteno, que apto a ser predicado de muitos por identidade. Se tudo isso no suficiente para convencer a procedncia do realismo moderado no referente aos universais, h outras provas e outras demonstraes que sintetizados a seguir, dando, assim, ao leitor, o meio de alcanar um conhecimento slido e bem orientado, que lhe permita observar os erros fundamentais daqueles que, ao negarem essa realidade, prepararam o caminho para a enxurrada de erros, que constitui a filosofia no positiva nem concreta, a filosofia dos filosofratos, o filosofismo dos opinadores, dos pontos de vista, dos parece que, dos assim julgamos, dos para ns,,, etc. Como queremos especular sobre as bases fundamentais do que conhecemos, atravs das suas razes, dando solidez s nossas afirmativas, no devemos nos afastar do caminho das demonstraes, que so to necessrias. A concepo pitagrico-platnica do logos analogante exposta (em parte) nos dilogos socrticos, nos permite compreender o sentido da universalidade. H, nas coisas, algo de sua estrutura, pelo qual elas so o que elas so, e no outras. Esse logos encontrado em outras coisas idnticas. Assim, nesta gota dgua, na que est aqui, em sua estrutura, h algo pelo qual ela gua e no outra coisa, e tambm h naquela outra gota dgua, e em todas as outras. H nelas, em sua estrutura, algo pelo qual so elas gotas dgua. H um logos da gua, que se presencia em cada gota, e que no algo subjetivamente individualizado nessa gota, porque tambm est naquela. H algo que est aqui totalmente, e tambm est ali totalmente, sem singularizar-se subjetivamente aqui, nem ali, que tanto aqui como ali, um em muitos, segundo toda a sua razo, o mesmo em todos, universal que se singulariza, singularidade que se universaliza. A grande dificuldade em compreender essa universalidade na singularidade e a singularidade que se universaliza, decorre dos vcios naturais do racionalismo fundamental (no, propriamente, do racionalismo como doutrina), mas do nosso funcionar racional, que, fundando-se
33
na abstrao, tende, naturalmente, a manter formalmente separados, o que formalmente distinguimos. O que universal o um que se diz de muitos, uma unidade, que no pode ser unidade de singularidade, porque excluiria a multiplicabilidade, nem unidade essencial, por prescindir aquela tambm. Nessa explicao, a genuna concepo pitagrica-platnica encontra menores dificuldades. As coisas, quando se ordenam ou so ordenadas na estrutura em que so suas partes, tomam uma determinada proportio em relao s outras, so constitudas, segundo uma lei de proporcionalidade intrnseca (logos), que a sua forma, a qual uma imitao do logos pelos elementos componentes. Assim este quadro, na parede, imita, com suas fronteiras, o paralelogramo, como as tbuas desta mesa tambm o imitam, e tambm o forro e o assoalho desta pea imitam o paralelogramo com os elementos componentes que tm, que repetem, em sua proporo intrnseca (e aqui tambm extrnseca) a forma do paralelogramo, com aspectos figurativos vrios. O universal, que est na coisa, no o logos, mas algo que, por meio de outros, dispe-se de modo a imitar o logos. O esquema mental do logos refere-se ao esquema real imitante do logos na coisa, que, por sua vez, imita o eidtico do logos em sua pureza e infinitude, que ultrapassa ao mundo fenomnico, que apenas aquele em que a matria ordenada de modo a repetir, por imitao, os logoi que compe o mundo dos eide. A imitao (mimesis) pitagricoplatnico caracteriza-se pela identificao, conservando as distines formais, entre imitao e participao. A imitao refere-se mais ao material, e a participao mais ao formal. Para termos uma viso concreta, devemos consider-la como sntese de imitao-participao, o que incluiria os dois modos visionais do pensamento pitagrico e do platnico. assim mais fcil entender os universais atravs do pensamento pitagrico-platnico, que pertence ao terceiro grau (grau de teleiotes), que muito distinto de o de primeiro e segundo graus, como surge nas obras de divulgao filosfica e at em autores que se dedicaram ao estudo de tema to importante. tese universal entre os que seguem a filosofia positiva e concreta, desde Pitgoras at os nossos dias, de que o universal reflexo um ente de razo, mas que pode ter fundamento nas coisas, que realismo segundo o que representa (ou seja, segundo a sua referncia intencional), embora no o seja segundo o modo pelo qual o universal representado na mente (ou seja: segundo o esquema mental representado). (Nos termos usados pelos escolsticos real quod id quod representatur = segundo o que representado e non quoad modum quo representatur = no segundo o modo pelo qual representado, para traduzirmos literalmente). Em oposio a esta tese, temos o nominalismo, cuja doutrina a seguinte: o universal no nada, nem nas coisas, nem no supra-sensvel, nem nos conceitos (nominalismo rgido) ou, ento,
34
do-se idias de certo modo universais em nossa mente, meras representaes, mas sem qualquer realidade fora daquela (nominalismo mitigado). Para o nominalismo, os conceitos universais so apenas nomes comuns, aos quais no corresponde nenhum ser real nas coisas, nem no sujeito cogitante correspondem a nenhuma representao. Defenderam essa posio Herclito, os sofistas, Protgoras, Crtio, os epicuristas, os esticos, Roscellinus, na Idade Mdia e, na filosofia moderna, Locke, Berkeley, Stuart Mill, Hume, Condillac, Comte, a escola da psicologia experimental, Fries, Wundt, Helmholtz, Unamuno, Ortega y Gasset, positivistas, neo-positivistas, etc. Em suma, os nominalistas afirmam: no se do conceitos universais, mas apenas operaes cognoscitivas por parte do homem, que so sensaes externas ou internas, reproduzidas sem nenhuma, ou com alguma elaborao, combinadas com outras ou separadas de outras por anlise. A sucesso de imagens de um determinado tipo de coisa, juntando-se umas s outras, formam uma totalidade, que nos d a impresso de um tipo. Assim, uma seqncia de fotografias de pessoas, superpostas, nos daria a imagem fugaz, porm, um tanto unitria, de um tipo, como Galton tentou fazer com os membros de uma famlia. H caracteres comuns, como se v nas rvores, troncos, galhos, folhas, o que permite construir uma imagem da generalidade, fundada no que cada uma nos deixou na mente, num todo evanescente, que esquematizamos. Para os nominalistas, nossos conhecimentos so proporcionais s nossas associaes, ao que herdamos de nossa estirpe, e que passam a atuar como formas aprioristcas. Assim, o todo maior que as suas partes e dois mais trs fazem cinco so verdades dependentes de nossas associaes. Em seres de outros planetas, com outras associaes e outras heranas, nossos princpios poderiam ser reputados como falsos, afirmam esses nominalistas. Com o nominalismo no possvel fundar-se nenhum juzo seguro de coisa alguma, nem da prpria experincia, porque esta no pode estender-se a todos os indivduos e a todos os casos possveis, nem possvel estabelecer rgidas conexes entre as propriedades das coisas. E se nada podem saber pela experincia, menos ainda sem a experincia. A tese positiva e concreta que h na mente idias universais, e que representam o que fundamentalmente nas coisas. Analisemos, pois, as razes apresentadas em favor da tese que acabamos de expor, em oposio ao nominalismo. Quando empregamos os termos co, rvore, casa, no usamos apenas uma voz, no queremos nos referir a um indivduo isolado, nem a uma coleo, nem a uma imagem genrica. Desejamos significar alguma coisa no individual. Todos ns, na nossa experincia, sabemos bem o
35
que queremos dizer com termos tais como dinheiro que bem distinguimos de outros. Tambm quando dizemos que algum homem, no confundimos o que queremos dizer com a voz homem. Quando se diz que Joo homem, homem no significa um indivduo determinado, nem uma totalidade coletiva, porque no digo que Joo toda a coletividade de homens, nem tampouco afirmamos um indivduo vago, ou indeterminado, nem uma imagem genrica, porque no tem determinada magnitude, cor, determinadas notas individuais, como seria o caso da imagem genrica de Galton. Quando dizemos que esta figura um tringulo, no dizemos uma mera palavra, pois sabemos o que desejamos dizer com tringulo. Tambm no se refere a um determinado indivduo, nem a uma coleo de indivduos, nem a uma figura genrica, que inclusse muitos tringulos. Ademais, em cada indivduo em que vejo a forma triangular, vejo o tringulo em sua totalidade formal. Tringulo , assim, um universal. Ademais, se no discernssemos claramente entre individuao e as notas semelhantes, que nos permitem construir esquemas (o que alis comprova que o pode a nossa experincia) ter-nos-ia sido impossvel construir um saber e at a cincia. Quando ouvimos os termos, quando lemos, no formamos imagens de cada palavra, mas apreendemos o que elas significam. Em suma, sem conceitos universais seria impossvel construir a cincia e o saber humano. Quando dizemos oxignio ou hidrognio no nos referimos apenas a uma voz, mas a algo que a Fsico-qumica distingue e conhece, e as leis que so achadas na Cincia, como na Matemtica e na Filosofia, no poderiam ter surgido, nem muito menos terem comprovado sua incidncia em tantos fatos. Defendem os nominalistas a sua posio com argumentos desta espcie: tudo quanto existe singular, portanto tambm os conceitos referem-se a coisas singulares. Ora a resposta simples: in existendo est certo, pode-se admitir, no, porm, in repraesentando. Para alguns, um tringulo, sem determinada magnitude, sem uma colocao no espao, sem determinada cor, etc. repugna nossa mente. Ora, o conceito universal de tringulo seria dessa espcie; logo repugna tal conceito. Repugna-se, sim, se quisssemos considera-lo existente, no, porm, um tringulo concebido. Todos os outros argumentos fundam-se na universalidade de se basearem na singularidade das coisas ou na necessidade de notas determinadas de uma coisa existente, esquecendo que a existncia do universal no considerada como a de uma coisa que se d aqui e agora, nem que o contedo de um conceito universal tenha notas determinadas semelhana das de uma singularidade. Tanto o nominalismo rgido como o mitigado cometem os mesmos erros. Querendo extrair dos termos o seu significado, tentando esvazi-los, conseguem, com isso, nas mentes desprevenidas, esvaziar todo contedo axiolgico, negar o valor que possa ter qualquer conceito e, deste modo, destruir todo e qualquer fundamento, contribuindo para a implantao do niilismo tico.
36
DO CONCEPTUALISMO
Havendo-se demonstrado que os conceitos universais significam e representam um esquema eidtico, afirmam os conceptualistas, que tal esquema no se d realmente nas coisas, mas apenas na mente humana; um esquema eidtico-notico, e toda a sua objetividade est a.8 Em oposio doutrina dos conceptualistas, os filsofos positivos e concretos de todos os tempos afirmaram que o conceito universal tem um valor objetivo, segundo as notas que ele representa, no segundo o modo pelo qual representam as mesmas. Em suma, afirmam que os conceitos universais so representados por esquemas mentais que, por sua vez, se referem ao que se d nas coisas, embora no as reproduzam fielmente. A tese demonstrada do seguinte modo: realmente se verificam nas coisas, a parte rei aquelas notas que esto no conceito. No conceito homem, h as notas de animal e de racional. Tais notas so verificveis no ser ao qual classificamos como homem. Mostra-nos a cincia experimental que tais entidades, de determinada forma (como o oxignio, o hidrognio e os outros elementos) ao se encontrarem, segundo determinadas condies, procedem de determinados modos, que podem ser previstos, os quais so proporcionados sua natureza. Se no se aplicassem os conceitos s coisas, no as classificaramos sempre pelos mesmos conceitos, no chamaramos sempre os homens de homens, no aplicaramos esse conceito a todos os homens, mas poderamos aplic-los a outros seres, o que no fazemos. H nos homens, algo que no h nos ces, o que no nos permite chamemos os ces de homens, embora, apenas metaforicamente, possamos chamar alguns homens de ces. ... DO REALISMO Para os realistas exagerados, comumente chamados platnicos, os conceitos universais do-se nas coisas como naturezas distintas da individuao, e que nossos conceitos representam as coisas como elas so, mas distintas da individuao. Historicamente, admite-se ter Plato doutrinado a existncia de idias separadas de todos os indivduos, eternas, imateriais, no que foi seguido por filsofos, que tomaram o nome genrico de platnicos. Na Idade Mdia, Scotus Erigena (810-877), David de Dinant (1113), Amalricus del Bene (1206), Guilherme Campellensis (1070-1121), o qual reagiu contra Roscellinus, uma das figuras mximas da famosa polmica dos universais. Incluem alguns os escotistas entre os realistas exagerados, devido sua doutrina da distino formal ex natura rei, Pedro Fonseca (1597) e,
37
modernamente, os fenomenologistas, entre eles Lotze, Husserl, Nicolai Hartmann, Rickert, Bolzano, os ontologistas, etc. De certo modo contrape-se ao realismo exagerado o realismo moderado, cuja tese : no se afirma que existe formalmente o universal formal, mas apenas fundamentalmente nas coisas. Em suma: h, nas coisas, um logos, que a sua lei de proporcionalidade intrnseca; na linguagem pitagrico-platnica, uma forma; na linguagem aristotlica, que semelhante de outros em outros indivduos por sua natureza, mas distinta na individuao. Os que defendem a posio do realismo moderado combatem do realismo exagerado, comumente chamada de platnica, argumentando que: a posio platnica em si mesma absurda e, ademais, intil. Provada a contradio de sua afirmao, prova-se, definitivamente, a absurdidade, e provado que nada explica, prova-se a sua inutilidade. Se os universais existissem em si mesmos, seriam simultaneamente idnticas e no idnticos aos indivduos. Seriam idnticos, porque se predicam por identidade aos indivduos e seriam no idnticos, por serem separados, e como ningum pode separar-se de si mesmo, tais naturezas seriam contraditrias. Ademais, se elas se dessem separadas, teramos a igualdade separada das coisas iguais, o movimento, sem coisa que se movesse, a obscuridade, que um negativo, seria subsistente. Se homem formalmente universal e subsistente em si, no se explica como Scrates homem, porque ento homem se verificaria em Scrates e ao mesmo tempo fora de Scrates, nos outros homens, e seria, numericamente, muitos, o que faria ser ao mesmo tempo um e muitos, o que contraditrio, portanto absurdo. Se se dessem os universais, no seriam criados nem incriados, nem corpreos nem incorpreos, nem espirituais. Animal no seria nem racional nem irracional, a velocidade no seria nem mais veloz nem menos veloz, o igual no teria termos iguais etc. Ora, tudo isso contraditrio; logo, a chamada posio platnica contraditria, e absurda consequentemente. Se se dessem universais separados, o homem no seria verdadeiramente homem, mas apenas uma sombra de si mesmo, ou uma semelhana ou participao; ora, isso absurdo; logo, no se do universais separados. E tal verdadeiro, porque a essncia verdadeira do homem no estaria no homem, mas fora do homem. Neste caso, este seria apenas uma sombra, uma imitao ou uma semelhana do homem. Ora, um absurdo porque os homens singulares so verdadeiramente homens. Ademais, tudo quanto existe ou pode existir singular; para a teoria platnica, os universais existem; logo, so singulares, no universais.
Entre os conceptualistas esto de certo modo, os esticos na antigidade, e na Idade Mdia, Roscellinus, Guilherme de Ockam (com restries)e, posteriormente, Holkot, Buridan, Gerson, Nicolau de Ultricria, G. Biel, Kant, os pragmatistas, Bergson, Le Roy, William James, Pierce, Schiller, Dewey, Blondel e muitos existencialistas
38
Se um ser que existe ou pode existir no singular, seria um por hiptese, e ao mesmo tempo no o seria, porque se multiplicaria em muitos, segundo a definio de universal, Ora, ou uma coisa si mesma ou no si mesma. Neste caso, seria e no seria, o que contraditrio. Compendiamos, assim, os argumentos principais contra o que se chama de realismo exagerado, atribudo a Plato. Os ontlogos (seguidores do ontologismo) afirmam que os conceitos universais so atos da mente divina. Se o so tm eles caracteres divinos. E como se identificam com as coisas, tm estes caracteres divinos, o que seria cair no pantesmo. Por essa razo, a posio ontologista tambm condenada pelos adversrios do realismo exagerado. Em face da improcedncia do realismo exagerado, os defensores do realismo moderado afirmam: os universais verificam-se nas coisas, segundo o que representam, embora no sejam como so cogitados. A sua realidade est suficientemente mantida pela presena do universal na coisa, embora diferente de como est na mente humana. Contudo, como est na mente humana, refere-se, intencionalmente, ao que est na coisa, como j mostramos anteriormente. A aceitao do realismo moderado evita todas as dificuldades que as outras posies apresentam.9 De maneira como a doutrina do grande mestre de Aristteles exposta, fcil apontarem-se erros. Mas, na Filosofia, mister uma certa suspiccia, e desconfiar das solues fceis. No teria Plato sentido os defeitos to evidentes dessa doutrina? Teria realmente ele exposto o seu pensamento assim? esta a nica maneira de realizar a exegese, neste ponto do pensamento platnico, atravs da leitura dos seus famosos dilogos? Se todas essas perguntas forem feitas, e merecerem longas e cuidadosas meditaes, verificar-se- com facilidade que o pensamento platnico, alm de no ter sido expresso com clareza nos dilogos, no poderia ser este como o propem os seus adversrios. Vejamos: os atributos, os predicados de um sujeito, no podem pertencer a uma esfera de realidade distinta da que pertence o sujeito. Entre seres fsicos, cujos limites so as superfcies, e cuja separao fsica, todos os atributos da distino, separao, posio etc., so fsicos. Se os seres so formais e, portanto, no fsicos, os atributos so tambm formais, e no fsicos. Quando se fala em singularidade fsica outra coisa do que falar-se em singularidade no fsica. Quando se fala em separabilidade fsica, outra coisa que separabilidade no-fsica. Entre duas formalidades, a distino entre elas s pode ser formal. Se essa distino as separa, essa separao j no fsica, mas metafsica. Se o leitor meditar bem sobre esses pontos, verificar, facilmente, que se atribui a Plato, o que de modo algum ele desejava afirmar, pois no iria cometer confuses to primrias, que qualquer crtico facilmente percebe e distingue. Ademais, uma individualidade ou uma multiplicidade formal no a mesma coisa que uma individualidade
9
No vamos expor aqui o que julgamos da doutrina platnica, pois, na verdade, no aceitamos essa maneira de consider-la. As razes foram reunidas em O Um e o Mltiplo em Plato.
39
ou uma multiplicidade fsica. O que nos interessa para a justificao da tese fundamental desta obra : Basta-nos a validez do realismo moderado e a sua fundamentao... Toda posio que afirme o nominalismo, o conceptualismo; em suma, que negue pelo menos a realidade dos conceitos universais, como exposta pelo realismo moderado, tem sido causa e fomentadora de grandes erros filosficos, como veremos nos captulos seguintes.
UMA EXPOSIO DO REALISMO
Imaginemos que temos s mos uma balana, com dois pratos. Num deles, pomos um peso, que corresponde ao que chamamos um quilo. Cabe Fsica estudar o que peso, e tal propriedade dos corpos algo que conhecemos pela experincia. Tomemos sacos de papel, e ponhamos num deles caf, noutro, acar, num terceiro, feijo, num quarto, batatas e assim sucessivamente, de maneira que o prato, onde o colocamos se equilibre com o em que est o peso de um quilo. Conclumos, ento, que tais sacos pesam um quilo cada um. Cada um, e todos pesam um quilo. O pesar um quilo comum a todos esses sacos, um que verte (uni-versare) sobre muitos. Temos, assim, uma universalidade: o peso de um quilo. Um quilo no est apenas singularmente no saco de feijo, nem no de acar, nem no de batata, nem no de caf, etc., mas est em cada um, sem estar singularizado em nenhum, pois, do contrrio, estando num singularmente apenas, como poderia estar nos outros? Este feijo, que est neste saco, no est naquele outro, nem este acar aqui, no outro ali, e assim sucessivamente. Este feijo est, individual e singularmente, neste saco. Mas o peso de um quilo, no. O peso de um quilo est tambm universalmente em todos os sacos. Mas nenhum desses sacos o um quilo, mas tem um quilo. E o tm este, este outro, aquele, aquele outro, etc. Nenhum o um quilo, todo tm um quilo. Tanto este saco, como aquele e os outros tm um quilo, sem serem um quilo. Cada um participa de um quilo; no, , porm, um quilo. E alm desses sacos, outros seres poderiam ter e tm um quilo de peso. Ora, ser que um quilo de peso apenas um flatus vocis, um sopro, a combinao de uma gutural e uma labial com vogais, quilo? Procede o argumento do nominalista? Ser apenas um esquema mental, algo que s existe na nossa mente, como o quer o conceptualista? claro, evidente, que no. O um quilo (esse quantum de peso que chamamos um quilo), algo que muitos tm ou podem ter em comum, um em muitos, um universal que independe de nossa mente, que se d fora de nossa mente, que se d na realidade, na coisa, sem estar singularmente na coisa, mas, sim, universalmente nela. Se houvesse apenas uma coisa em todo o cosmos que pesasse um quilo, nem assim um quilo estaria singularmente apenas na coisa, pois seria uma possibilidade de muitas coisas terem, sem serem. Ora, essa evidncia a que
40
afirma o realismo moderado. O esquema mental, que formamos, de um quilo, no um ente que apenas tem fundamento ou realidade em nossa mente. algo que tem uma realidade tambm fora da nossa mente, que tem um fundamento nas coisas. Deste modo, de maneira clara e definitiva, v-se que o nominalismo e o conceptualismo, em suma, toda posio que negue validez ao realismo moderado, no procedente. Resta agora saber se o realismo exagerado tem fundamento. Que afirma o realismo exagerado? Afirma que um quilo uma realidade em si, independentemente das coisas, que tem um quilo, pois se no houvesse nenhuma coisa que pesasse um quilo, se desaparecesse a cooperao de fatores fsicos, que geram esse acontecimento fsico, que se chama um quilo, impedindo, assim, que nenhuma coisa mais tivesse peso, e muito menos um quilo, nem por isso um quilo seria nada. Que se entende por nada seno a ausncia total de ser? Poder-se-ia dizer, sim, que nada h que tenha um quilo. Contudo, no se poderia dizer que no h um quilo, que um quilo absolutamente nada, porque se absolutamente nada, nunca coisa alguma poderia ter um quilo, pois como o que absolutamente nada poderia ser alguma coisa? Se poderia ser alguma coisa, era j alguma coisa, e no um absoluto nada. Ora, ou um quilo absolutamente nada, e ento, nunca coisa alguma poderia ter um quilo, ou relativamente apenas, e, neste caso, alguma coisa que , que no aqui ou ali, como o camelo no aqui, onde estamos, mas onde ele est. Nesse caso, um quilo alguma coisa. E o que alguma coisa no absolutamente nada, e o que no absolutamente nada alguma realidade. Desse modo, diz o realista exagerado: um quilo alguma coisa. No alguma coisa singularizada aqui ou ali; aqui est o um quilo, ou ali est ele. Um quilo no tem a subjetividade que tem um pssaro ou uma pedra. Um quilo tem uma realidade outra, uma realidade formal, uma forma da qual uma coisa pode participar. uma forma, que surge do correlacionamento de uma srie de fatores fsicos, que do surgimento ao peso de um quilo. Se se d ou no tal correlacionamento, no importa. O que importa que ele uma forma, que pode darse num ou outro conjunto de fatos. Mas, como no se singulariza nesse conjunto de fatos que se do (pois, como vimos, ele no um quilo, mas tem ou teria um quilo) um quilo, em suma, uma forma que independe das coisas que tm um quilo. uma realidade de outra espcie. Como naturalmente h pessoas que no podem conceber outra realidade que no seja a dada pelos sentidos, como se os atuais acontecimentos cientficos ainda justificassem essa maneira primria e vulgar de considerar a realidade, essas pessoas preferem afirmar que um quilo nada, absolutamente nada, j que no podem, substancialmente, em sentido corpreo, tomar o um quilo em si mesmo, v-lo, apalp-lo, cheir-lo, sabore-lo. Quando os nossos sentidos eram os nicos meios que dispnhamos para alcanar a subjetividade das coisas, ainda se poderia admitir (embora digno de lamentar) que algumas pessoas ingnuas acreditassem que tudo quanto no corpreo, no medvel pelas unidades sensveis,
41
fosse apenas nada, e nada mais que nada. Mas, hoje, quando a cincia j penetra no impondervel, invade o que ultrapassa a corporeidade, tange o que no mais sensvel, de estarrecer e de causar d que haja tantos que prefiram afirmar que a forma um quilo absolutamente nada, pelo simples fato de que no objeto da sensibilidade, como se a no-experimentabilidade sensvel fosse demonstrao apodtica da no realidade de alguma coisa; como se uma negao pura e simples fosse suficiente para garantir uma afirmativa to palmar. Mas como isso acontece, como erros to elementares de Lgica Demonstrativa se do freqentemente, no de espantar que tais afirmativas sejam feitas por homens que se julgam sbios e prudentes. simplesmente de causar piedade o espetculo que se assiste, de pseudo-sbios, afirmarem que s real o que os sentidos captam. Desse modo, o chamado realista exagerado poderia dizer que no exagera na sua atitude, e que acoimar o seu realismo de exagerado uma demonstrao de ignorncia e nada mais. E afirmaria ainda: entre o afirmar que a forma um quilo absolutamente nada, e a nossa, de afirmar que uma realidade de outra espcie, que a meramente corprea, verifica-se que a primeira est eivada de absurdidade, enquanto a segunda, no. A forma um quilo no absolutamente nada, mas alguma coisa. E alguma coisa que independe de ns. Se ns a captamos, uma honra para o esprito humano. Mas seno houvesse homens, se nunca houvesse homens, essa forma seria alguma coisa dentro da ordem do ser, e no um absolutamente nada. E mais, afirma tal realista: essa forma sempre foi e sempre ser. Ela no algum coisa que muda, que se transforma, que deixa de ser o que para ser outra coisa. Ela eterna na eternidade do ser, coeterna com ele, sempre, sempre , e sempre ser. Ela no tempo, mas eternidade. Ora, as coisas que so temporais, que sucedem no tempo, so as que mudam, se transformam, deixam de ser o que so para serem outra coisa. A forma um quilo no uma coisa dessa espcie, sempre ela mesma, idntica a si mesma, idntica sua especificidade sempre, pois no sofre corrupo, pois um quilo no deixa de ser um quilo, enquanto formalidade. A verdade uma adequao e a forma um quilo adequa-se sempre a si mesma. Uma coisa temporal adequa-se a si mesma apenas no mesmo instante e sob o mesmo aspecto, mas a forma adequa-se a si mesma sempre, antes e depois, sempre. Portanto, ela de uma verdade perene, enquanto as coisas temporais mudam, e sua verdade relativa. Logo, proclama o realista, quando afirmamos que h um mundo-verdade, o mundo das formas, paralelo ao mundo da aparncia, ao mundo do fenmeno, ao mundo das coisas que mudam e se transformam, dizemos uma ingenuidade? a forma, acaso, apenas um esquema mental do homem? um quilo, acaso, apenas um esquema mental? acaso apenas um flatus vocis? No tambm algo que se d independente das coisas, um possvel eidtico, que est na ordem do ser? Pois esta realidade que o realista defende tambm. No nega as outras, mas afirma que tambm esta, e que esta a principal, pois se um quilo no fosse um possvel sempre, desde todo sempre, nunca poderiam dar-se coisas que
42
tm um quilo, porque como poderia o que absolutamente nada ser um dia, de certo modo, alguma coisa?10 ... J examinamos a distino entre o universal fundamental, o formal direto e o formal reflexo. Vimos que a abstrao pode ser parcial ou total, bem como distinguirmos, claramente, o que a preciso, que a cognio de alguma coisa, separadamente tomada pela mente das que existem conjuntamente com ela, e at identificadas com ela. A preciso uma operao abstrativa, que pode ser sensitiva ou intelectual, como vimos, enquanto intelectiva pode ser parcial ou total. A abstrao parcial no propriamente o universal, mas, sim, a abstrao total. Como se realiza essa abstrao? Dos estmulos que as coisas nos oferecem (phantsmata) so construdos pela ao de nossa mente esquemas (imagines) fctivo-noticas. Nossa mente, por sua vez, atravs de comparaes e reflexes, extrai outros esquemas noticos, no a da singularidade, mas da multiplicidade, que se d nas coisas. A abstrao no o resultado de uma atitude passiva, da mente, mas ativa, de uma ao realizada pela mente. Aqueles que julgam que a nossa mente funciona como uma mquina fotogrfica revelam desconhecer uma lei fundamental de todo existir, e que se manifesta em todo ente em relao recproca com outro, que a interatuao. Nenhum ser, com sua emergncia, sofre apenas a ao do meio exterior, mas tambm essa ao condicionada pela natureza do ser. A predisponncia atua na emergncia, proporcionadamente capacidade de atuar daquela, e proporcionadamente capacidade de ser atuada desta. Considerar nossa mente como uma pedra beira da entrada, ou uma folha seca ao sabor das correntes de ar, uma das maneiras mais primrias de conceber o funcionamento do nosso psiquismo, ao qual querem negar qualquer funo ativa, como se a prpria experincia da reflexo, da meditao, da atividade abstrativa no fossem um desmentido formal a tais maneiras de conceb-la. No nossa mente meramente passiva ao conhecer, porque, do contrrio no reproduziria sempre o que percebido pelos sentidos, nem realizaria precises, nem construiria combinaes, nem estabeleceria distines, nem divises das coisas percebidas, nem captaria as suas partes, matria e forma, substncia e acidentes. O universal formal construdo por uma ao realizada pelo intelecto, assim como o universal formal direto produzido pela preciso da mente, e o universal formal lgico constitudo pela comparao reflexiva de natureza abstrata sobre os indivduos. O universal direto no produto de uma mera apreenso intelectual singular, mas de uma preciso, que ultrapassa a individuao. O
10
Aqueles que gostam de ridicularizar tais idias, que refutem essas demonstraes com rigorosas demonstraes, com uma seqncia de juzos devidamente fundados em juzos analticos, apodticos, necessrios.
43
universal formal constitudo pela natureza conhecida como uma e como apta a ser predicada de muitos por identidade, como j vimos. E isso obtido atravs da comparao reflexiva da natureza abstrata com os indivduos, pela qual se obtm a natureza como uma, e como predicvel de muitos, que o universal formal lgico. Ao conhecermos algo, atravs da intuio sensvel, o ser humano despoja, a pouco e pouco, o que acidental, do que pode ser ou poderia ser o contrrio, sem que o ente deixasse de ser o que , at alcanar ao que imprescindvel, ao que essencial da coisa. Assim, ao observarmos diversos tringulos, uns de madeira, outros formados por linhas que se intereccionam, despojamos de todos esses fatos os elementos componentes, para considerar apenas o figurativo, um esquema figurativo, que a essncia da forma triangular. Todas essas operaes so intelectuais, e graas preciso, abstrao, que ela alcana ao universal formal direto, que o universal na coisa, e ao comparar esse esquema com os diversos indivduos, alcana, ento, ao universal formal lgico; ou seja, ao esquema eidetico da coisa. Verifica-se que a posio mais segura na Filosofia, em torno do tema dos universais, a do realismo moderado, que se fundamenta em bases seguras, em argumentos slidos e em demonstraes decisivas, e serve de meio para impedir uma srie de erros filosficos, que se fundaram, em sua maior parte, na m compreenso do que realmente o conceito universal.
CEPTICISMO, FONTE DE GRANDES ERROS
Todos os adversrios da cognio indireta fundam-se na afirmativa de que o homem no dispe de meios de conhecimentos seguros, que lhe dem a certeza de que alcana a verdade. Entre esses podem ser classificados, numa escala intensista descendente, em primeiro lugar, os cpticos radicais ou universais, que negam qualquer certeza, os relativistas e os idealistas criteriolgicos e, finalmente, os agnosticistas, que no conseguem evadir-se da esfera do cepticismo, por mais que o tentem. A palavra skeptizomai, em grego, significa investigar, e skeptikoi as questes atravs das quais se inquiria algo sobre a verdade. Os filsofos gregos, que se dedicavam a tais estudos e a responderem, portanto, a tais perguntas, e que terminaram por negar validez ao nosso conhecimento ou, pelo menos, pr dvida sobre o mesmo, passaram a ser chamados de cpticos, e cepticismo o nome da sua posio filosfica. Em suma, pode-se considerar como cptica toda posio que pe em dvida, total ou parcial, o conhecimento humano. O cepticismo universal quando duvida totalmente de nosso
Algum poderia alegar que um quilo uma medida nossa apenas. Est certo. O que se afirmaria, porm, que possvel na ordem do ser haver um peso igual ao que o homem chama um quilo, ou considera como peso de um
44
conhecimento, e parcial, quando nega a possibilidade de se alcanar a verdade em determinadas regies do conhecimento humano. Posio tomada pelos eleticos, que eram monistas metafsicos, no tocante ao conhecimento da mutao e do mltiplo por eles negado; entre os atomistas, Demcrito afirmava que nada sabemos, embora a verdade vibre no mago das coisas. Para Protgoras todo o nosso conhecimento era relativo s nossas condies, e aos nossos esquemas; Grgias chegava a negar o ser e tambm Hpias, Polys, Clicles. Eles tiveram contra si a oposio de Scrates, Aristteles etc. Depois de Scrates, surgiram a escola cptica de Pirro e Timo, Arcesilau e Carneades, Enesidemos e o grande codificador do cepticismo, Sextus Empiricus. Entre os modernos, podemos salientar, em ordem cronolgica no Ocidente: Montaigne, Charron, Francisco Sanchez, Huet, Pascal, Lamennais, Baylke, Hume, Nietzsche, Dilthey, Spengler e uma seqela de filsofos menores. Pode-se rebater o cepticismo englobadamente, seguindo estes argumentos. Em primeiro lugar, a leitura da obra dos cpticos revela que todos eles admitem que podemos conhecer alguma coisa, o que no o admite o cepticismo universal. E este seria a afirmao de que alguma coisa sabemos de verdadeiro, a posio cptica, o que refutaria a si mesma. O cepticismo, de qualquer modo, no pode impedir sua queda, na contradio, porque tem de fatalmente admitir como certa a sua posio, o que a refuta de qualquer maneira. Por outro lado, quando os cpticos se fundam no conhecimento parcial para afirmar que todo conhecimento falso, cometem um lamentvel engano. Um conhecimento parcial no necessariamente falso, mas pode ser verdadeiro segundo o seu mbito. Vejamos quais os mais famosos argumentos que os cpticos apresentaram para justificar a sua posio. Nossos sentidos nos levam ao erro. A resposta : sim, levam-nos ao erro, mas s vezes, no sempre. Nossa razo erra muitas vezes. Sim, erra, no por necessidade, mas por acidente. Vemos os homens pronunciarem sentenas opostas, no se entenderem entre si. Realmente, responde-se, mas quando se trata de questes que no so de per si evidentes. A razo humana falvel, proclamam. Responde-se: no em tudo; apenas em algumas coisas. O nosso intelecto erra invencivelmente. No erra invencivelmente, erra por deficincia do operador. O cepticismo irrefutvel porque no se pode demonstrar contra ele, pois no estabelece nenhum princpio, afirmam os seus defensores. No se pode fazer uma demonstrao positiva e direta contra ele, admite-se, mas pode-se fazer negativa e indireta.
quilo.
45
DO RELATIVISMO UNIVERSAL Os relativistas concordaram com os cpticos em que o conhecimento humano no capaz de alcanar a realidade como ela . Contudo, no negam toda verdade, mas admitem que somos capazes de alcanar muitas verdades, mas relativas. Santo Agostinho dizia contra os cpticos: se a verdade no existe, verdade que a verdade no existe, e totalmente verdade que a verdade ; logo se a verdade no , a verdade ; e consequentemente, necessariamente a verdade existe. Mas o relativista no quer negar a verdade, mas considera-a relativa, no absoluta. Muitos filsofos, desde os gregos, seguem o relativismo, e so numerosos, sobretudo em nossos dias. A figura clssica do relativismo Protgoras, que afirmou que o homem a medida das coisas que so e das que no so, que uma tese do psicologismo especfico e que encontraremos modernamente no psicologismo individual, na doutrina dos tipos individuais, no historicismo, no humanismo moderno, cujos representantes so Dilthey, Leisegang, Fries, Fechner, Ribot dentre inmeros outros. O fundamento do relativismo, em linguagem concreta que todo nosso conhecimento relativo nossa esquemtica mental, a qual inclui o sensrio-motriz como base. Os esquemas que adquirimos so proporcionados acomodao dos nossos esquemas e assimilao correspondente. Todo conhecimento humano gira em torno de tais esquemas, e no pode ultrapass-los, pois toda extenso da assimilao, alm da acomodao, gera apenas o smbolo, que um modo de conhecimento imperfeito. Deste modo, todas as construes humanas so proporcionais, no s esquemtica do homem, enquanto espcie, mas, tambm, do homem enquanto ser histrico, social, caracterolgico (concepo do historicismo, do sociologismo, etc.), que lhe permite ver e compreender o seu mundo na proporo dos seus esquemas. Este pensamento est em Spengler e Marx, que condicionam a relatividade do conhecimento s condies econmicas, em seus aspectos gerais e particulares. Portanto, tambm, do relativismo, temos a posio daqueles que consideram depender a verdade da utilidade, caracterstica do pragmatismo, cujos maiores representantes foram Nietzsche, William James, Mach, e o ficcionalismo, que decorre do criticismo kantiano, a filosofia do Als-ob, do como se, que afirma que as coisas nos aparecem como se fossem o que parecem ser. 11 Respondendo ao relativismo, afirmam os defensores da posio contrria que, inegavelmente, o homem conhece verdades absolutas, que independem do tempo, das condies histricas, etc. Que o todo quantitativamente maior que cada uma de suas partes, que 3 vezes 4 12, e outras verdades como tais, independem da historicidade. H, contudo, um saber histrico condicionado pela esquemtica, mas mais acidental do que substancial. Substancial e essencialmente, h um
11
Podemos incluir ainda Schleiermacher, Sabatier, Loisy, Tyrrel, e os relativistas nacionalistas, como Rosenberg, Gobineau, Stewart-Chamberlain etc.
46
saber que independe do relativismo dos esquemas. Que realmente assim, temos os exemplos citados e mais os princpios ontolgicos, as teses fundamentais da filosofia concreta, os axiomas da filosofia positiva, os adgios escolsticos, que so vlidos em qualquer poca e verdadeiros, independentemente de qualquer historicidade. Ademais, o relativismo se se mantm coerente, ter que cair no campo do cepticismo, pois no poder afirmar nenhuma verdade como definitiva, nem absoluta, o que afirmar uma verdade definitiva e absoluta, e cair, portanto, na contradio inevitvel de toda posio cptica. Neste caso, o relativismo ter que considerar-se como uma posio tambm relativa, como alis o pretende Spengler, no que nisto supera os outros. No se deve confundir o relativismo com a doutrina da relatividade de Einstein, embora muitos procurem faz-lo no mbito filosfico. Nem Einstein nem seus discpulos de valor tomaram tal atitude, nem quiseram transformar a sua teoria numa teoria crtica da verdade absoluta, pois, pelo contrrio, admitiam a sua realidade, e afirmavam a realidade indiscutvel dos contedos de certos conceitos fsicos, que no consistiam apenas em sries relativos a ns, mas existentes, independentemente de ns. Os argumentos, que costumam esgrimir os relativistas, como o de que a verdade aparece como relativa na Histria, tanto na Cincia, como na Filosofia, na tica, etc., responde-se que se trata da verdade material, no da verdade formal. Esta no se apresenta com aquelas caractersticas. Outros argumentos: 1) de que todo conhecimento apenas um ato psicolgico e, portanto, relativo, peca pelo excesso, pois se realmente a cognio um ato psicolgico, considerado subjetivamente, e portanto relativo, objetivamente no o . 2) que o nosso modo de conhecer no se demonstrou que o nico possvel; portanto, o nosso conhecimento relativo a ele. Realmente pode-se e deve-se admitir at outros modos de conhecer, e at superiores aos nossos. Mas se so distintos, tal no implica que o contedo formal do conhecimento no seja verdadeiro, embora em seus aspectos acidentais seja distinto. 3) que o nosso intelecto uma mquina, e que toda mquina em seu funcionamento, depende da sua estrutura mecnica. Logo... Mas tal argumento no tem paridade, porque nossa mente no funciona como uma mquina, e, ademais, o funcionamento de uma mquina no depende apenas da sua estrutura, pois um automvel com gua, em vez de gasolina, no funciona. A teoria do relativismo da verdade explica erros, diversidade de opinies, etc. Realmente, explica alguns erros e algumas opinies, no, todas, porm, nem melhor que outras posies. V-se, deste modo, que o relativismo tem sido, por sua vez, uma fonte de erros, embora lhe assista muita base de verdade. A concepo positiva e concreta no nega a proporcionalidade do
47
nosso conhecimento s condies de nossa esquemtica, mas no que se refere verdade material, no a formal.12 O ser humano pode construir uma viso formal e ontolgica, com base dialtica e lgica bem constituda, que lhe permite alcanar a resultados verdadeiros sob o ngulo formal, ontolgico e concreto, sem deixar de considerar a parte material e relativa de nosso conhecimento. Precisamente, saber manter-se seguro entre esses extremos que revela a superioridade do filsofo, que no se deixa empolgar pelas primeiras dificuldades que aparecem, que enleiam facilmente os mais fracos, mas que so vencidas pelos mais vigorosos e de mente filosfica mais s.
OS ERROS DO IDEALISMO
Os filsofos antigos no consideravam um problema o conhecimento sensvel, o dado pelo senso comum (pela conjuno das assimilaes provenientes dos sentidos). Contudo, contra essa objetividade surgiu, entre os idealistas, um movimento contrrio, que comeou a considerar um problema o conhecimento sensvel. Consideravam os idealistas que nossos conhecimentos das coisas sensveis no correspondiam propriamente a entidades existentes fora dos mesmos, coisas reais extra mentis, independentemente da nossa mente, mas apenas representaes mentais, aparncias meramente subjetivas, objetos construdos pela nossa esquemtica; portanto, dependentes exclusivamente das formas a priori (independentes da experincia) da prpria mente humana, que terminava por construir, como estruturas reais e objetivas, o que no passava de simples construes do esprito. Alguns chegaram at a afirmar que nada existia fora de nossa mente, e que a nica realidade era a espiritual, como se v nos idealistas metafsicos. So inmeras as posies idealistas, e algumas se distinguem das outras por pequenas diferenas. No possvel um quadro rigoroso das diversas doutrinas idealistas, pois cada autor apresenta aspectos distintos. Contudo, possvel estabelecer um quadro geral, onde so includas as principais posies. Podemos estabelecer duas posies polares: 1)a dos que admitem a existncia do mundo exterior, independente de nossos sentidos, mas do qual apenas temos uma representao, que no corresponde realidade do mesmo, que apenas constitui uma estrutura modelada, formada pela nossa esquemtica mental. a posio universalista.
Quando Spengler, fundando-a na significao dos nmeros, nos diversos ciclos culturais, afirma que para o hindu um nmero tem um valor distinto do que lhe d um chins ou um egpcio, apanha um aspecto da verdade material. Contudo, tanto para o chins, como para o hindu, como para o egpcio, como para o ser inteligente do planeta X, sete vezes quatro ser sempre (e sempre foi) vinte e oito, que uma verdade formal. A confuso entre verdade material (histrica) e verdade formal causa de muitos erros no filosofar.
12
48
2)A dos que admitem que nossas representaes so meras aparncias subjetivas, negando a realidade do mundo corpreo, e afirmando apenas a do mundo espiritual ou metafsico, como o faz o idealismo acosmtico de Berkeley, uma posio particularista. Ela afirma que o nosso conhecimento apenas imanente, e no reproduz realmente o que est fora de ns, nem uma garantia de que o que h fora de ns tenha as propriedades que nossos sentidos afirmam. Todo o ser que conhecemos o ser de nossa prpria percepo (esse est percipi ser o percebido, e o tema dessa posio). Examinando a primeira posio, encontramos uma seqncia de distines que devem ser salientadas. H os que afirmam que as formas subjetivas pertencem apenas natureza humana, e o mundo que conhecemos o nosso mundo, um mundo modelado antropologicamente. o idealismo psicologista, ou ideal-realista, que afirma estar a realidade das idias apenas nas idias. Para uns, estas formas esto no ego humano, como Fichte, ou, ento, num ego absoluto, no Absoluto, no qual tanto se identificam o ego como o no-ego, onde a ordem real se identifica com a ordem ideal (real-idealismo), como Schelling. Para outros, esto na Idia Absoluta, que afirma a si mesma, e outras que a si mesma, numa contnua evoluo como Hegel. Para outros, enfim, nada mais so as idias que meras construes das representaes que temos de nossa experincia, como o idealismo emprico de Hume. Deixamos precisamente para o fim o idealismo kantiano, que chamou a si mesmo de idealismo transcendental. Ora, o que h em comum em todas as posies idealistas a caracterstica cptica e relativstica em relao ao conhecimento humano. Conseqentemente tm de afirmar que no temos uma verdade e uma certeza formal. Contudo, se se assemelham ao cepticismo num aspecto, dele divergem pela afirmao da certeza que tm da verdade da sua posio, e do relativismo divergem, porque no consideram o conhecimento humano algo meramente histrico, bem como admitem que ele no varia, e que corresponde natureza da mente humana. O conhecimento assim necessariamente humano, e o mesmo para todos. Deste modo, aquele que pensa segundo as normas comuns da mente humana est com a verdade, e se delas se desvia, erra. Refuta-se a posio idealista do seguinte modo: nega ela uma certeza real e formal. Ora, tal certeza j a demonstramos. Consequentemente, o idealismo falha pela base. H princpios filosficos que no so verdadeiros apenas na nossa mente, mas tambm na realidade. Diz o idealista que todas as nossas cogitaes representam meras aparncias subjetivas, que no se conformam com as coisas. Se realmente assim, h um conhecimento que se conforma com as coisas, que o do idealista, pois seria conforme com a realidade que nossos conhecimentos no se conformam com a realidade, o que contraditrio afirmar.
49
No h conformidade alguma entre o nosso conhecimento com as coisas, o que uma afirmativa cptica j refutada. Outrossim, como poderia o idealista afirmar com fundamento o seu postulado? Como pode garantir a no existncia de um mundo real-real, apenas fundando-se em suas afirmaes, bem como poderia garantir que nossos conhecimentos no so conformes realidade exterior, que ele nega conhecer? Como possvel estabelecer uma adequao ou no entre dois termos, quando de antemo se afirma que se desconhece um deles? Mas o idealista retruca: para algum saber se o seu juzo verdadeiro, seria mister que pudesse compar-lo com a coisa vista em si mesma. Ora, tal impossvel; portanto, nunca se pode saber se o juzo verdadeiro. E verdadeira a afirmativa, porque a coisa que est no intelecto, nele no est como est na realidade, mas apenas uma representao. Neste caso, a comparao s pode ser feita com uma representao da coisa, e no com a coisa; portanto, impossvel comparar um juzo da coisa com a coisa. Mas a respostas no se faz esperar: A afirmativa da premissa maior negada, porque o que se afirma com o juzo a existncia em ato da coisa. O juzo uma afirmao, um julgamento. Seria tolice pensar que para ter uma idia verdadeira de um avio necessitssemos t-lo dentro da mente. A existncia do avio se d em si mesmo e no na nossa mente, e o que a mente afirma no a presena do avio na mente, mas a realidade dele em si mesmo. No h necessidade, para ser verdadeiro um juzo, que ele seja idntico com o que ele afirma. Dizer-se que um ser intelectual apenas intelectual no compreender a sua intencionalidade. Que um ser intelectual, quem o negaria, mas que intencionalidade no se refira ao que h fora da mente, pelo simples fato de estar na mente, revela uma confuso mental. Quando pensamos em gua, referimo-nos gua que h. No mister que o pensamento da gua seja gua, para que seja verdadeiramente uma intencionalidade naquela. No haver compreendido essa verdade elementar do juzo, ou melhor, por nunca terem compreendido claramente a teoria do juzo, que os idealistas cometeram tanta tolice e tiveram tantos tolos que os acompanharam. Um idealista argumentou que o ente que no um ato cogitado um ente em ato ignorado, ora, do ente ignorado nada sei; logo, do ente no cogitado no sei se existe independentemente da mente ou no existe. certo que do ente do qual no cogitamos no podemos dizer que existe, porque ento dele cogitaramos. Mas do ente do qual cogitamos, poderemos dizer que no um produto apenas da nossa mente, e que pode ter uma existncia independentemente de ns.
50
Contudo, de todos esses idealistas, o que mais seriamente realizou um trabalho que muito auxiliou a confuso das idias humanas, e de onde partiram as doutrinas mais erradas e mais deplorveis foi, sem dvida, Kant.13 A posio kantiana falsa por muitas razes, e eis algumas: 1)que o espao e o tempo so formas a priori improcedente, como se demonstra na Cosmologia; 2)que a experincia no nos d o universal, nem pode explic-lo, revela apenas desconhecer o em que consiste a abstrao humana, como a exps Aristteles e os escolsticos, o que lamentvel. 3)Negar ao intelecto intuies prprias desmente-se pela intuio das prprias intuies e do prprio eu, e das espcies impressas no mesmo, pois ele tanto ativo como passivo. 4)Segundo a posio kantiana, no se podem dar juzos sintticos a priori. 5)Todas as suas exposies da doutrina escolstica so fundamentalmente erradas, e demonstram que no a conhecia. 6)Desconhecia a doutrina dos juzos virtuais. 7)Suas alternativas (e divises) so falsas, pois deixa de considerar uma terceira possibilidade, como se v no referente ao conhecimento a priori e a posteriori. 8)Entra em muitas contradies, como a de afirmar que jamais a mente humana capaz de saber o que a coisa em si e, no entanto, admite que ela se d. Ademais, afirma que h causalidade ao declarar que o nmeno causa em ns o fenmeno, e depois conclui que a existncia da causalidade meramente subjetiva. 9)Ao afirmar que nossos conhecimentos so meramente subjetivos e meras aparncias cai no idealismo absoluto. 10)Afirma que o nmeno s aceito pela f. E como ento admitir que ele nos d conhecimentos? A obra de Kant promoveu o advento de uma srie de doutrinas errneas e prejudiciais: fomentou o positivismo, favoreceu o agnosticismo, alimentou o idealismo, cooperou para o intelectualismo, para o pragmatismo, para o vitalismo, para o voluntarismo, estimulou o pantesmo, deu foras ao relativismo psicolgico, provocou o ficcionalismo e muitos empurrou no niilismo. Lamentvel tem sido o erro daqueles que julgam que por no termos a possibilidade de alcanar uma verdade absoluta, exaustiva, consequentemente tudo quanto sabemos falso. Ora, nada podemos saber desta porta porque no captamos a porta em si, em toda a sua pujana no ser. Mas, esquece Kant de coisas elementares de lgica. As perfeies in indivisibili e as perfeies in
13
Em Filosofia Concreta e em As trs Crticas de Kant analisamos a sua obra e rebatemos as suas fundamentais concepes, que partem de elementares erros lgicos.
51
divisibili distinguem-se as primeiras por no estarem sujeitas a graus, enquanto as segundas o esto. Assim, ou isto uma porta ou no ; contudo, pode ser mais alta ou mais curta, tecnicamente mais bem feita ou no. Ora, a substncia, por exemplo, no est sujeita a mais ou menos. Um ser humano, enquanto ser humano, no mais como espcie do que outro ser humano. Basta que nosso esquema mental se adeqe ao que a coisa para que seja ele verdadeiro. Ademais, que seria a porta em si? A porta em si apenas uma monstruosidade, porque ela um artefato, que tem uma determinada funo, e nada mais que isso. Alm disso j no a porta, mas a matria que a compe, etc. A coisa-em-si, que Kant falava, era apenas um fantasma, que ultrapassaria a toda experincia, e como ele a colocava fora de toda experincia, seria ela, consequentemente, previamente inatingvel. Kant conseguia, assim, com algumas idias verdadeiras construir estruturas filosficas falsas, e lanava a dvida total capacidade humana de conhecer, pelo simples fato de que ela no conhecia o que ele pretensamente tornava de antemo incognoscvel. Quando dizemos que este objeto uma porta, dizemos que este fato do mundo exterior se adequa especificamente ao conceito que temos de porta, ou melhor que o conceito (que significa a ordem dos objetos, que tm uma determinada lei de proporcionalidade intrnseca, logos) que chamamos porta se adequa a este objeto do mundo exterior. No h necessidade de conhecer tudo da porta para saber que a porta porta e para saber que verdadeiro o juzo de que Kant era um ser humano.
A OPINIO
mister libertar a Filosofia do predomnio da opinio e dos filodoxos, j que esta consiste no assentimento ou no no assentimento em uma parte da contradio com o receio, contudo, de errar. Ou seja, h opinio quando ao admitirem-se posies inversas, contraditrias, aceita-se uma com o receio, contudo, de que seja errada, podendo a contrria ser verdadeira. A opinio, portanto, prpria do filosofar primrio, do filosofar axioantropolgico, do filosofar onde ainda predominam os valores humanos, onde as vivncias afetivas podem influir na seleo dos valores, na acentuao, valorizao, preterio de valores. Em suma, onde o axioantropolgico predomina, estamos na filosofia prtica em oposio filosofia especulativa. Deste modo, essa ampla diviso da filosofia justificada plenamente. Caracteriza a filosofia especulativa, da qual fazem parte a Metafsica Geral, a Matemtica, a Lgica, a Dialtica no bom sentido, a Cosmologia, etc., pelo especular libertado do axioantropolgico, dos valores marcadamente humanos, das apreciaes valorativas de origem vivencial afetiva. O filosofar a procede como se deve proceder na Cincia Moderna, ou seja pelo afastamento de tudo quanto pode sofrer a acentuao, a nfase ou o desprezo dado pelo sentir
52
humano. A Cincia Moderna , assim, uma justa herdeira da filosofia especulativa medieval. Esta se caracterizou pelo af de libertar-se do axioantropolgico, e buscou at justificar, filosoficamente, os postulados religiosos, sem recorrer ao sentimento e, portanto, f, tentando, num esforo extraordinrio, dar fundamentos filosficos s assertivas da Religio Crist. Precisamente, a Filosofia Moderna, a que assim chamada, quando se afasta das normas seguras e sbrias da Escolstica, que buscava livrar-se das influncias axioantropolgicas, terminou por cair, totalmente, nas mos ou do irracionalismo, predominantemente axioantropolgico, ou de um intelectualismo apaixonadamente construdo, como se v nos excessos racionalistas e nas construes do idealismo. A Filosofia Especulativa estabelece-se sobre um terreno de rigorosas frmulas, ausentes do opinativo, promovedoras do exame em profundidade, e com o rigor apodtico necessrio, que evitem o meramente assertrico, e fundem-se na demonstrao rigorosa, a de demonstrao apodtica, como o estabelecemos em nossa Filosofia Concreta. Nessas condies, o filosofar verdadeiramente concreto deve ser preferido na filosofia especulativa. Ora, o juzo apodtico o juzo de necessidade, ou juzo necessrio. Mas a necessidade pode ser de dicto ou de re. Assim, se se diz que Scrates agora se move por que anda, pode-se estabelecer o juzo necessrio de Scrates necessariamente agora se move porque anda. Mas aqui a necessidade de dicto e no de re, porque no de necessidade andar Scrates agora, mas, sim, se anda, deve mover-se necessariamente. Estamos, aqui, em face de uma necessidade hipottica, que mister distinguir da necessidade absoluta, que a de natureza. Assim se se diz se A um ser contingente, necessariamente limitado, a necessidade aqui no apenas de dicto, mas tambm de re, porque da natureza e da essncia do ser contingente, ser limitado, e o que da essncia sempre, e imprescindivelmente, necessariamente, do ser. A necessidade de natureza a que decorre da essncia do prprio ser, do que o ser em sua emergncia estrutural, em seu logos e em sua estrutura tensional de essncia (do que ), e existncia (do seu exerccio de ser). Ora, s pode haver opinio onde no se alcana a estrutura eidtica do ser, ou quando pairam ainda probabilidades outras de alguma coisa ser outra que o que julgamos ser. Na opinio, h verdadeiramente um ato de vontade, guiando a mente a uma assero pela qual assenta ou dissenta de algo, mas fundamentalmente eivado do temor de que os opostos ao que diz possam ser verdadeiros, e o que afirma ou nega possa ser falso. H probabilidade onde h verossimilitude igual para tendncias opostas. Contudo, a probabilidade pode ser maior ou menor, bem como as probabilidades podem convergir, atingindo at um grau mximo, sem, contudo, identificarem-se com a certeza. As menores probabilidades so preteridas quando em conflito com as maiores. Assim se tem procedido. Contudo, seja como for, uma probabilidade, por menor que seja, no pode ser elidida por uma probabilidade maior, porque
53
esta nunca d o grau apodctico de certeza, que se deve desejar na Filosofia, porque uma probabilidade menor pode atualizar-se em vez da maior. De modo algum a probabilidade leva certeza. A certeza absoluta, como j o mostramos, s se d quando o assentimento da mente verdadeiro, ou quando fundado em motivos que excluem a possibilidade da simultaneidade dos opostos contraditrios, conhecidos como tais. Esta a razo porque os juzos de existncia nada mais garantem de verdadeiro do que a possvel existncia, e os juzos meramente contingentes no nos tiram do campo da prpria contingncia. mister, ento, reduzir um juzo contingente em juzo necessrio, no apenas de dicto, mas de re; ou seja, alcanar a necessidade de natureza, que a que ressalta dos juzos analticos, aqueles em que o predicado da essncia do sujeito. Contudo, muitos aqui, como o fez Kant, afirmam que no haveria, ento, nenhum progresso para o pensamento humano, porque permaneceramos apenas em tautologias.14 O que tem impedido ao esprito humano de alcanar situaes superiores a influncia que exerceu a confuso entre a verdade material e a verdade formal e, tambm, a de certos esquemas histricos, que atuam preconceitualmente, viciando de antemo o prprio processo filosfico.
A VERDADE MATERIAL, A VERDADE FORMAL E OS PRECONCEITOS
Quando Spengler chamava a ateno que os gregos concebiam o tempo distintamente dos egpcios; que os nmeros, na concepo mgica (a rabe), eram distintos do modo de conceb-los na cultura fustica, ocidental, e que desse modo a verdade era relativa aos ciclos culturais, e que, com eles, se modificava, sem dvida a verdades materiais, no, porm, as verdades formais, como julgava. Sim, porque, formalmente, trs trs em todos os povos e em todos os tempos, em todos os ciclos culturais. O que variou foram as verdades materiais, histricas, no as formais, porque, enquanto tal, a gua gua para todos os povos, embora para alguns gregos e mesopotmicos fosse o princpio de todas as coisas materiais, ou smbolo da vibrao, como o era para os egpcios, princpio de todas as coisas sensveis. S pode haver uma filosofia genuinamente especulativa, liberta, portanto, do
axioantropolgico, que o gerador de preconceitos e de erros que se perpetuam e perturbam o pensamento humano, quando o intelecto consegue alcanar uma certeza formal, pois enquanto valerem a possibilidade simultnea dos contraditrios, estamos no terreno da assero meramente
Mostramos, em Filosofia Concreta e em nossas obras, a improcedncia dessa afirmao to repetida hoje em dia, porque Kant jamais considerou os juzos virtuais, que esto contidos num juzo analtico, e que permitem alcancemos a verdades no de logo suspeitadas, atravs do mtodos que chamamos de apofntico, que aquele que, graas anlise dialtica, pela via ascensus e pela via descensus, ilumina a mente, que descortina possibilidades pensamentais, que de antemo no notaria, como o mostramos com exemplos naquela obra. H, assim, caminho para alcanar-se uma filosofia mais segura e poderosamente apodctica, como o a Filosofia Concreta.
14
54
opinativa. Absolutamente, no. Essa uma verdade que a experincia humana ofereceu, porque s ao alcanarmos a certeza formal conseguimos aquietar, neste ponto, a mente, junto a uma evidncia no axioantropolgica. O assentimento absolutamente certo no pactua com a possibilidade simultnea e atual dos opostos, porque, se se desse o contrrio, o que se afirma poderia compor-se com o seu contraditrio. Nem tampouco se pode admitir a possibilidade atual da simultaneidade dos opostos contraditrios S se alcana ao juzo apodtico quando se atinge excludncia: necessrio que seja assim... s pode ser deste modo... Mas essa afirmativa tem de fundar-se sobre algo formalmente necessrio, e no apenas numa vivncia, numa convico, no que algum poderia traduzir por: para mim, julgo que necessrio que seja assim..., tudo leva a crer que necessariamente assim. Muitos diro que a mente se atingisse a esse estado, estaria em estado perfeito. Ora, nossa mente imperfeita e incapaz de atingir a estados de tal perfeio. Poder-se-ia responder que se se tratasse de alcanar um conhecimento exaustivo, absoluto, certo que a mente humana incapaz de tal. No preciso saber tudo para que no seja falso o que se sabe. No mister ter a sabedoria absoluta para afirmar-se que algum sbio. Nem tampouco se pode negar totalmente a sabedoria de algum pelo simples fato de no possuir a sabedoria absoluta. Trata-se de alcanar uma verdade formal, e no mister conhecer exaustivamente todas as causas de uma coisa, todas, como seria exigvel para se ter um conhecimento perfeito de uma coisa. As teses demonstradas na Filosofia Concreta alcanam essa apoditicidade, sem apelos a meras asseres opinativas. Demonstramos ali que a filosofia especulativa pode alcanar a apoditicidade desejada. Podero alguns dizer que essas teses j foram propostas por filsofos, desde Pitgoras at os nossos dias, e que a filosofia concreta no original. A originalidade apenas um anseio histrico, vlido em certo perodo da histria humana, em certas fases de certos ciclos. A verdade em si j original e, nesse setor, no cabe novas originalidades. No h originalidades na matemtica. Ningum vai descobrir outro resultado de 7 vezes 4, que 28. A originalidade pode ter algum curso, e muito pequeno, na filosofia prtica, na filosofia dominada pelo axioantropolgico, onde as vivncias humanas e as verdades materiais e histricas podem ter uma certa aceitao e um campo um tanto livre para atuar. No no campo da filosofia especulativa, que cincia e no arte, que apoditicidade e no assero. J falamos na necessidade absoluta ou perfeita, cujo motivo metafsico, a em que a incedibilidade funda-se em razes metafsicas, essenciais e no acidentais, enquanto a necessidade hipottica ou imperfeita aquela em que o efeito pende da verificao de uma condio. a que pode admitir a no realizao do efeito. Que para algo ser humano mister que seja animal racional de necessidade absoluta, mas que cante no o . Para um ser, neste planeta, ser gramtico,
55
necessrio que seja humano, no necessrio, porm que todo o ser humano seja gramtico. Esta segunda necessidade no pode ser confundida com a primeira, como o fazem muitos. A certeza fundada nessa necessidade ser por sua vez tambm hipottica, enquanto a fundada na primeira ser apodtica. S a certeza metafsica perfeita, porque s ela exclui absolutamente a possibilidade da simultaneidade dos contraditrios. Esta certeza no provm da vontade, como o afirmava Descartes, mas do intelecto. A vontade pode ser livre; o intelecto, no. Na escolha da verdade no entra a eleio ou a preterio de carter afetivo. Na escolha dessa verdade, entra apenas o intelecto hbil para alcan-la, independentemente de nossos pendores e de nossa afetividade. Porm e preciso que se distinga quando falamos na no liberdade do intelecto. H uma liberdade interna e uma liberdade externa. Internamente, como faculdade de captar a verdade, ela no livre, mas quanto ao externo ela o . O juzo no um ato da vontade, mas do intelecto. A vontade tende para o bem apetecido e para afastar-se do mal temido. O juzo no tem apetncia para o verdadeiro conhecido, mas para o verdadeiro afirmado. A afirmao no uma busca do bem, nem a negao uma fuga ao mal, porque ento s afirmaramos aquilo do qual gostamos, e negaramos aquilo que odiamos. Ora, com o juzo no se d tal coisa, salvo naqueles que no conseguem alcan-lo em sua pureza. O verdadeiro filsofo no aquele que se deixa arrastar por suas vivncias e simpatias ou antipatias, mas o que busca a verdade, intelectualmente, pela verdade apenas. Por no se proceder assim que se erra. No erro, h um desvio, h aceitao pela vontade do que no foi devidamente examinado pelo intelecto. E por que erramos? Porque ultrapassamos os limites do que captado pelo intelecto, quando levamos nosso assentimento alm dos limites do que intelectualmente apreendido. A causa remota do erro est na vontade, porque esta pode desmesurar-se, pode ir alm dos limites. No se diga, porm, que o erro seja sempre produto da uma intencionalidade deliberada, a escolha do falso, um pecado, em suma. No, porque pode surgir de defeitos da ateno. A vontade no peca per se, por essncia, mas por acidente. O erro pode surgir da aparncia de uma verdade, de um defeito afetivo, de uma confuso de idias, de um preconceito aceito como verdadeiro, de uma informao falsa, de um defeito de reflexo, de raciocnio, de um desconhecimento at. Mas que revela o erro? Revela que se aceitou como dado certo o que no era, o que no se apresentara com todos os requisitos essenciais. Ouvimos uma voz que julgamos ser de algum, Pedro. Dizemos que a voz de Pedro. Mas, poder-se-ia posteriormente verificar que no era dele. Erramos, por que? Porque consideramos os elementos que dispnhamos como suficientes para uma afirmao julgada verdadeira. Que se fez seno ir alm dos limites de conhecimento que haviam sido dados? Vemos o sol em diversas
56
posies durante o dia, surgir no oriente e descer no ocidente, e conclumos que o sol faz esse trajeto em torno da Terra, e que esta imvel. Errou-se aqui, e por que? Porque os elementos que se dispunham eram insuficientes para concluir como verdadeiro juzo de que a Terra esttica, e o Sol se move de um lado a outro. Erramos quando deixamos nossas paixes nos dominarem em nossas apreciaes subjetivas e no julgamento da realidade. O intelecto retamente conduzido no erra. Pode no alcanar a verdade. Mas quando dizemos que no possumos ainda meios seguros para fazer uma afirmao verdadeira no erramos, se realmente no dispomos dos meios suficientes. Mas se nossa vontade nos leva a aceitar como definitivamente suficientes para podermos realizar um juzo, podemos errar. Mas jamais erramos se o juzo que pronunciarmos se fundar em verdades formais, e o que afirmamos ou negamos no juzo um conceito que, necessariamente, pode ser predicado do sujeito, ou que no pode ser predicado, porque o contradiria. Poderia ainda algum afirmar que a Cincia, por trabalhar apenas com juzos contingentes, no poderia nunca falar verdade. Tal no procede, porque a cincia tem meios de prova para justificar seus juzos, que a experincia cientfica. Mas esta apenas poder garantir a presena ou a ausncia dos dados afirmados ou negados. Mas, para que a Cincia atinja a apoditicidade desejada, dever ter seus fundamentos tambm em verdades formais. E enquanto ela no puder alcan-los, ter que se restringir, como se restringe, apenas a formular hipteses, fundadas em teorias com fundamento in re.
FUNDAMENTOS PARA A VERDADE, OFERECIDOS PELA EXPERINCIA
a experincia um dos meios de que dispe o homem para obter conhecimentos dos mais variados. Que se entende por meio? A intencionalidade que damos a este conceito, o de que est entre dois outros, ou, em sentido mais restrito, o que entre dois extremos de certo modo os conjuga. Contudo, podemos distinguir dois tipos de meios: 1)o que serve para alcanar o conhecimento (meio quo, pelo qual); 2)aquele no qual a mente vai captar o conhecimento (meio quid, o que), o que propriamente se chama a fonte do conhecimento. Assim o ar um meio que para ouvir, meio quod a fonte ou fontes, por meio das quais se adquirem novos conhecimentos. Para tanto, deve dispor o ser humano de algo que permita distinguir o verdadeiro do falso, que o pr-requisito para o conhecimento. Assim a mente clara e s um pr-requisito para o conhecimento. Fundamento aquela verdade exigida em ltima instncia para fundar uma certeza. Assim, o princpio de no-contradio um fundamento para o conhecimento, no uma fonte.
57
As principais fontes ou meios de conhecimento so, pois, a experincia interna e a experincia externa. Tanto uma como a outra so fontes de conhecimento verdadeiro e certo, bem como servem de critrio particular de certeza. A experincia interna chama-se tambm conscincia (etimologicamente, vem de cumscientia, notcia da notcia, cognio da cognio). Quem v, sente a si ver, quem ouve sente a si ouvir, quando entendemos, temos notcia que entendemos, como observara Aristteles. Esta conscincia deve ser distinguida da conscincia psicolgica, de que falam os modernos, que consiste no objeto que est na conscincia, que chamam de consciente. A conscincia psicolgica o ato que consiste na notcia de nossos atos psicolgicos. Essa conscincia chamada de concomitante, a percepo da experincia da prpria percepo, simultnea com esta. Na conscincia psicolgica, h o objeto (uma casa, por exemplo), o prprio ato (o conhecimento da casa), e o sujeito (o ego que conhece), os quais, embora distintos, constituem, imanentemente, aspectos do mesmo processo. A conscincia chamada reflexiva ou reflexa, quando h notcia dos prprios atos, cujas operaes so advertidas pelo sujeito, que sobre eles se reflete (se dobra, espelha-os). Esta pode ser imperfeita, como se verifica nos animais, que advertem a dor pelo ato dos sentidos combinados, e a perfeita, que se realiza atravs de atos abstrativos, pela atuao de esquemas mentais, que propriamente a intelectual, peculiar ao homem. Nota-se desde logo que a conscincia reflexa mais perfectiva que a concomitante. Enquanto esta se d sempre, aquela nem sempre se d. Esta a fonte pela qual a mente conhece os fatos internos, enquanto a reflexa direta e prpria da cognio daqueles fatos. Sem a concomitante, no pode haver certeza, enquanto nem sempre mister a reflexa para que haja certeza. Propriamente, a conscincia reflexa a intelectual. No da natureza (per se) da conscincia oferecer erros, mas, sim, por acidente (per accidens). A iluso, a alucinao, para exemplificar, no so essenciais aos sentidos, mas acidentais. E a razo simples: o que essencial d-se sempre, porque constitui a estrutura emergencial de um ser. Ora, nem sempre os nossos sentidos esto sujeitos a alucinaes. Portanto, como o que acontece numa coisa algumas vezes acidental, tais fatos so acidentais. Consequentemente, nossos sentidos no erram per se (por natureza), mas per accidens (acidentalmente). Por haverem confundido o que essencial e o que acidental, confuso que fizeram muitos filsofos, que se pode explicar o surgimento de concepes que afirmam que tudo sonho, que tudo iluso, que nossos sentidos so fundamentalmente fontes de erros.
58
Os positivistas modernos, como Hume, Stuart Mill, Wundt, e outros, Kant e os subjetivistas afirmam a existncia de fatos internos, mas deturpados pelo nosso testemunho, no servindo, portanto, como fonte de indubitvel certeza. A tese contrria , contudo, a aceita pela filosofia positiva e concreta. J demonstramos que a conscincia uma verdadeira fonte de conhecimento, como vemos no s por sua razo, mas pela nossa prpria experincia quotidiana. Desde o momento que os juzos obtidos atravs da conscincia nada afirmam alm da sua realidade so eles verdadeiros. Quando reflexionamos, reflexionamos; quando temos conscincia, temos conscincia, porque se fosse uma iluso ter conscincia de alguma coisa, essa mesma iluso mostraria a realidade da conscincia, porque ter conscincia de que se tem conscincia demonstra a realidade da conscincia. A conscincia suficiente para provar a si mesma. Sem ela no haveria nenhuma certeza. ela, pois, a fonte da certeza. Contudo, no se poder dizer que a causa ou motivo ou fonte de toda certeza. Ela testifica-a, porm. Alegam alguns que nossos juzos esto sujeitos a erro. Sem dvida; porm, no esto sujeitos sempre ao erro. Quando algum alega que aquele a quem foi amputado um brao, sente dor no brao, tal prova a alucinao, portanto o erro. No esqueamos que tais fatos se do, mas a dor sentida no o realmente no brao, mas no crebro, embora determinada por uma iluso da imaginao. Tal acontece acidentalmente, no necessariamente (por essncia). Tambm os exemplos dos sonmbulos, dos hipnotizados, dos embriagados so sempre acidentais. Em suma, os erros so acidentais e no necessrios. Examinemos o fundamento da experincia externa. A tese empirista (j aceita por Aristteles) de que nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu (nada h no intelecto que no tenha estado primeiro nos sentidos). Adgio empirista aceito tambm pelos escolsticos. Contudo, estes no lhe deram um sentido to extremado como comumente se julga. Na verdade, o que desejavam afirmar que nosso conhecimento principia nos sentidos, ou por meio deles que alcanamos o saber sobre as coisas do mundo exterior. No quer, porm, dizer que nosso conhecimento se funda exclusivamente nos sentidos, mas os dados oferecidos por estes (os phantasmata) so por sua vez objeto de uma atividade do intelecto, cujo conhecimento fundado, tambm, nas experincias internas e no apenas nas externas. Dos sensveis, o intelecto abstrai os insensveis, as formas, que no so objeto de estmulo dos sentidos, nem so captados por estes. Deste modo, a sensao no o fundamento da nossa cognio, porque esta se funda nos juzos que o intelecto realiza sobre os dados da sensao. Assim convm distinguir que o conhecimento se inicia nos sentidos, mas o seu fundamento como vimos, dado pelo intelecto, no qual toda a certeza e toda a verdade se baseiam. O juzo um ato intelectual e no um ato dos sentidos. verdade que Toms de Aquino e os escolsticos falavam
59
num juzo dos sentidos. Mas o juzo que queremos nos referir o intelectual, o que expressa uma operao de assentimento, pela qual juntamos ou separamos o predicado do sujeito. Este juzo revela uma operao mais complexa e de natureza distinta daquela que realizam os sentidos. Entende-se por sentido, em lato senso, aquela potncia orgnica perceptiva da coisa material, da coisa singular, a capacidade do sensrio-motriz de perceber as coisas materiais que so singulares. uma capacidade orgnica, porque ela se realiza atravs de rgos, os quais so partes do corpo, com uma funo destinada. Diz-se que perceptiva ou representativa, porque realiza um ato representativo, diferente das funes vegetativas, que embora orgnicas se distinguem daquela. Coisas materiais, singulares, so apenas essas que os sentidos captam, funo distinta da que realiza o ato de inteleco. Distinguem os psiclogos os sentidos externos dos internos. Os externos so aqueles que captam as coisas do mundo exterior, as quais exercem uma mudana de potencial, atuando como estmulos desses rgos. Estas sensaes so captadas imediatamente sem intermdio de outras sensaes. As sensaes internas sediam-se em rgos internos, e seus atos cognoscitivos se realizam mediante outras sensaes. A sensao externa, que constitui a nossa experincia externa, capta os chamados sensveis externos, que so os objetos que podem ser percebidos pelos sentidos. Os sensveis so distinguidos na filosofia positiva e concreta em sensveis per se e sensveis per accidens. Esses sensveis per se, so classificados em sensveis prprios, aqueles que podem ser percebidos por um s sentido, como a cor, o som, etc., e sensveis comuns, aqueles que podem ser percebidos por muitos sentidos, como a extenso, o tamanho, que pode ser percebido pela viso e pelo tato. Costumavam os antigos classificar esses sensveis em cinco: tamanho, magnitude ou quantidade, figura, nmero, movimento e quietao. So chamados sensveis por acidentes aqueles que no so percebidos diretamente pelos sentidos, mas que, por conjuno com outro sentido, podem ser deduzidos, como pela viso deduzimos a maciez ou a aspereza de alguma coisa. Quando se diz: vejo um homem, seguro um copo, na verdade no vemos o homem, nem seguramos o copo porque homem e copo so substncias, que no caem sobre os nossos sentidos. O que cai a matria que os compe. Assim se diz que o homem um sensvel por acidente e no per se. Corpo tomado aqui no sentido vulgar do termo, ou seja, o ente espacial tridimensional, limitado por superfcies. Em relao existncia desses corpos, so vrias as posies na Filosofia. Leibnitz admite que eles existem sem serem formalmente tais, e como se apresentam para ns atravs da sensao, so compostos de mnadas simples e inextensas. Deste modo, no tm as trs dimenses, no h distncias entre as suas partes, nem movimento local, apenas produzem em ns fenmenos, que chamamos corpos/distncias, movimento, etc. Kant afirma que o que conhecemos das coisas apenas o que nos aparece no modo puramente subjetivo; ou seja, o fenmeno, e no o
60
que elas so em si, o nmeno. Os corpos no so como nos aparecem, e nem poderemos saber como eles na verdade so. Berkeley nega a existncia de qualquer corpo, e apenas afirma a do fenmeno, puramente subjetivo, cujas aparncias so produzidas em ns por Deus. Locke afirma que os corpos no so percebidos, e que so apenas representaes subjetivas em ns. O realismo ingnuo afirma que os corpos existem com todas as qualidades sensveis, como os sentimos. Muitos escolsticos seguem a linha do realismo ingnuo. O realismo crtico afirma que realmente os corpos tm trs dimenses, e possuem as propriedades que lhes so atribudas, mas essas qualidades sensveis no so possudas formalmente, mas apenas virtualmente. Em suma, h nos corpos poderes que produzem em nossos sentidos representaes subjetivas da cor, etc. Para alguns escolsticos pela intuio que temos a evidncia imediata da existncia dos corpos, e que no podemos negar-lhe sua existncia, sob pena de cairmos em absurdos e em aporias insolveis. A demonstrao da existncia dos corpos pode ser feita de modo direto ou indireto. Indiretamente, demonstrando a improcedncia das posies que examinamos, que afirmam que os corpos so iluses produzidas em ns pela divindade. Atribuir a Deus o papel de um mistificador esto em contradio com toda a concepo culta que se faa do Ser Supremo. Quanto queles que afirmam que no conhecemos os seres corpreos, que so meras criaes subjetivas, fundam-se em que? Fundam-se apenas em suposies, porque no oferecem um critrio de verdade. O nico fundamento que encontram consiste na limitao dos nossos sentidos. Mas j mostramos que no saber tudo no quer dizer que o que se sabe parcialmente seja falso. Que os corpos so como so, mas em nossa representao so proporcionados a ns, no pode haver a menor dvida, em face dos conhecimentos que a Cincia nos ministra e a Filosofia tambm. Se nos fundssemos apenas nos sentidos, na aparncia dos corpos, poderiam afirmar que eles, ou o que os constitui, so diferentes das nossas representaes, mas esquecem que h outros meios de verificao, no s de ordem intelectual, como ainda experimental e de conexo dos fatos corpreos, segundo leis que a Cincia capta, o que vm favorecer a certeza da sua existncia extra mentis. Assim aquela montanha, que distncia para ns apenas uma massa cinzenta, proporo que dela nos aproximamos apresenta-se-nos cada vez mais heterognea at que, quando nela estamos, oferece-se-nos maior soma de aspectos distintos que na distncia, em que estvamos anteriormente, no podiam ser percebidos. Tudo isso adquirimos atravs de verificaes, o que enriquece o nosso conhecimento, que permite completar com aspectos vrios aquilo que se apresenta para ns de modo homogneo, segundo a relao que dela estamos e que nos possvel captar. A no existncia do mundo exterior nos levaria a aporias insolveis. Aceitar a sua existncia, e ao mesmo tempo de que a representao que fazemos do mundo proporcionada nossa esquemtica, e que as nossas relaes com ele, sem serem falsas, so verdadeiras, segundo a
61
proporcionalidade, uma posio realista e prudente, portanto, sbia, sem deixar cairmos no realismo ingnuo. Ademais, considerando-se do ngulo prtico, devemos reconhecer que o homem, unindo a Tcnica Cincia, conseguiu exercer o seu domnio sobre este mundo exterior, p-lo a seu servio, dar-lhe uma direo, e prever acontecimentos futuros, que decorrem com nexo rigoroso dos antecedentes, sem desmentir a construo que faz desse mesmo mundo. Graas Cincia e Tcnica retifica muito da viso que tem do mundo exterior, mas estas retificaes, em vez de porem em risco a evidncia da existncia dos seres corpreos robusteceu ainda mais essa evidncia, oferecendo elementos probativos. mister examinar agora se os sentidos externos so tambm fontes de cognio verdadeira e certa, no que se refere aos sensveis prprios. J vimos que o sensvel prprio o que percebido por um nico sentido, como a cor, o som, que so chamados, tambm, na filosofia moderna, de qualidades secundrias, j que as primrias so as substanciais, etc. Em face das demonstraes anteriores, vlidas para esta parte, no pode pairar dvida sria sobre a existncia dos sensveis prprios, das qualidades secundrias. A dvida s poderia permanecer quanto ao seguinte: a)que os sensveis prprios so fundamentalmente, em sua subjetividade, mas diversos, formalmente, do que a nossa representao diz que so. Neste caso, seriam nas coisas de um modo e de outro (formalmente) em ns; b)que os sensveis prprios so, nas coisas, fundamental e formalmente, o que so, e nossas representaes os reproduzem eidtico-noeticamente, segundo a nossa esquemtica, o que eles so em ns. No primeiro caso, a cor azul seria, na realidade, apenas um nmero determinado de vibraes, que realizam em ns a imagem (j formal) do azul. No segundo caso, o azul seria nas coisas, azul como em ns.15 O que interessa estabelecer que a sensao de azul, que temos nos olhos, representativa de algo que h na natureza, corresponde formalmente nos olhos ao que pelo menos fundamentalmente nas coisas, e no uma mera alucinao, porque podemos distinguir esta de outras experincias, que so verificveis por meios tcnico-cientficos. Assim, a alucinao que temos pode verificar-se que foi uma alucinao, e distinta totalmente no fenmeno de um lago de guas azuis, de um cu azul, cuja verificabilidade pode ser feita por meios tcnico-cientficos, o que nos demonstra que h uma distino real entre a alucinao e a realidade, pois impossvel fotografar uma alucinao, e no um fato do mundo exterior. Onde h meios distintos, h distino. A existncia do mundo fenomnico indubitvel e apoditicamente demonstrvel, o que assegura
15
Tema de Esquematologia, e nessa disciplina que tem de ser estudado.
62
grande valor nossa experincia (o que desejvamos provar) contra os que procuram aumentar ainda mais a confuso com idias sem o devido fundamento.
A ETIOLOGIA DOS ERROS
A Etiologia a disciplina ontolgica, cuja finalidade estudar as causas de um modo de ser. Delineamos a as causas, de onde os grandes erros surgiram, e que todos, afinal, se reduzem ao afastamento da filosofia positiva e concreta, que havia j sido esboada desde Pitgoras, prosseguida por Plato e Aristteles, continuada genialmente pelos grandes medievalistas, mas que sofreu um hiato na idade moderna, quando desabrochou uma nova linha filosfica, que, afastandose das normas positivas e concretas, caiu nos abstratismos viciosos, que s poderiam dar como conseqncia o que deram: a confuso moderna. Mas essa confuso no como poderia parecer a muitos apenas uma pgina ridcula da histria humana, o testemunho das nossas deficincias, a ostentao da debilidade, mas, sobretudo, o deplorvel espetculo que acima de tudo causa d: a insuficincia, tornada suficiente, a debilidade ostentada como fortaleza, o vcio recebendo homenagem de virtude. Um preconceito que deplorvel levou a muitos homens, que ascendem s ctedras da filosofia, a pensarem do seguinte modo: o pensamento medievalista pertence a uma poca de trevas. Mas que trevas? Inventou-se, para gudio de tolos e de mal-intencionados (aqueles que desejam destruir as bases e fundamentos do cristianismo), que a chamada Idade Mdia foi apenas uma longa noite de trevas. Por que, em vez de repetirem afirmaes de homens que ignoravam a Histria, que no conheciam o longo processo da Idade Mdia no se debruaram a estud-la, para aprenderem alguma coisa e no exagerarem o valor do chamado sculo das Luzes, o elogiadssimo iluminismo, que, na verdade, iluminou pouco e trouxe mais trevas que luz. Para muitos a escolstica nada mais foi que a continuao analtica do pensamento de Aristteles. E como domina a mania moderna de que aquela corrente do pensamento estava totalmente dirigida pela esquemtica religiosa, consequentemente suas verdades seriam apenas histricas, e nada mais teriam feito do que interpretar Aristteles do ngulo catlico. Desse modo, prefervel dar um salto de Aristteles para os modernos. Estes pertencem nossa poca, a sua esquemtica, dizem, a nossa. Para que perdermos tempo com o pensamento escolstico? S serviria para erudio de pessoas ociosas, que deveriam empregar melhor o seu tempo. Consequentemente, o melhor considerar como inexistente a obra dos medievalistas e penetrar de cheio da luminosa obra dos modernos. Partindo desse preconceito era natural, era evidente que os modernos tinham razo.
63
Para se ser moderno mister pular dos gregos para ns. Se volvermos para os medievalistas, perdemos tempo. S para quem nada tem que fazer, e deseja apenas enriquecer a sua erudio tal investigao pode ser justificada. E desse modo, intencional e deliberadamente, se faz um silncio sobre a obra dos medievalistas, que, para os tolos de hoje, foram superados pelos filsofos da atualidade. E que sucedeu, ento? Sucedeu que velhos erros, j refutados com sculos de antecedncia, passaram a ser idias iluminadas para os modernos inadvertidos. Tudo quanto se disse de errado, tudo quanto se construiu de fundamentalmente falso, todo o lixo do pensamento humano, passou a ressurgir aos olhos de muitos como a ltima palavra da inteligncia. Mas, na verdade, eram apenas velhos erros, velhas confuses, velhas mistificaes e, sobretudo, da ignorncia filosfica, o que havia sido proclamado por mentes dbeis, e havia sido derrudo pela demonstrao rigorosa, que passava a reviver, fantasmas de um mundo j passado, que tornavam agora a inquietar as mentes despreparadas, e a receber as homenagens mais entusisticas de homens que no haviam alimentado devidamente a sua mente anmica. Havia-se confundido a filosofia de ento com a religio. A religio era linfme de Voltaire, uma das mentes filosficas mais dbeis que surgiu na humanidade. Era mister atirar sobre a religio todas as afrontas, todas as infmias. Ainda mais: era conveniente destruir as bases filosficas que mostravam que as idias crists, em nenhum sentido, apresentavam um absurdo, era preciso abandonar todo esforo filosfico, que provassem que as afirmativas religiosas no contrariavam nenhuma lei ontolgica. Ento comearam os interessados em destruir a cultura crist, por um dio milenar, a apoiarem todos os que se punham a apresentar idias que pudessem afastar-nos da filosofia positiva e concreta. Um exemplo temos no tema de causa e efeito, onde o af de destruir o que positivo e concreto revelou-se tremendamente ativo. Qual a intencionalidade humana ao considerar causa? Entendeu-se sempre o que pe em causa alguma coisa, j que o termo, tanto no grego como no latim, foi tirado da casustica do Direito. Pr em causa pr em existncia, e tornar efetivo alguma coisa. Em seu sentido mais vulgar, foi sempre causa o que faz que alguma coisa seja ou venha a ser. Ora, por se ter com o tempo distinguido inmeros aspectos que cooperam para que uma coisa venha a ser o que , distinguiram-se, ento, as causas. Desse modo, Aristteles, prosseguindo o trabalho j realizado por seus antecessores, podia dividir as causas em quatro principais: a causa eficiente (a que faz), que a causa ativa, a causa formal, a forma da coisa, o pelo qual a coisa o que ela e no outra, a causa material, o de que a coisa feita e, finalmente, a causa final, o para que a coisa feita, o para que ela tende, a sua intencionalidade. Graas aos exames dos escolsticos, o conceito de causa foi tomando um sentido claro. Causa no apenas o que antecede uma coisa, como julgam muitos modernos, mas o que sem o qual a
64
coisa no o que , ou seja o de que a coisa depende realmente e tambm
essencial e
necessariamente para ser. Em suma, o efeito algo que depende real, essencial, e necessariamente de um antecedente ontolgico (no cronolgico, porque h causas que so contemporneas ao efeito). Esse conceito claro nos permitiria compreender que o efeito, de certo modo, tem atualmente em si a causa, e no outro, absolutamente outro, que algumas causas. Consequentemente, do exame da realidade (e note-se este ponto que importante: os escolsticos sempre tomam como ponto de partida para a especulao filosfica e experincia, so empiristas racionalistas e no meros racionalistas nem idealistas), verificou-se, em combinao com os fundamentos, que so de ordem intelectual, mas que representam as leis ontolgicas indefectveis, uma srie de adgios filosficos, que expressam verdade e apenas verdade: 1)a causa (tomada abstrata e universalmente) tem de conter perfectivamente o efeito. Se a causa no contivesse a perfeio do efeito, este poderia ser mais que sua causa ou causas; ento esse suprimento de ser viria do nada, o que absurdo. 2)O efeito nunca pode ser superior causa. um corolrio do primeiro adgio. 3)O efeito depende real, essencial e necessariamente da causa, pois do contrrio seria apenas um ser total e absolutamente autnomo, e no causado. Que fizeram inmeros filsofos modernos ao verem que a doutrina de causa e efeito, como dela tratavam os escolsticos, levaria fatalmente a construir uma filosofia positiva e concreta, o que no interessava de modo algum queles que desejavam destruir os fundamentos cristos de nosso ciclo cultural, e que tinham a seu lado os inocentes teis e alguns inteis desse perodo, que serviriam para escrever montanhas de tolices, para combater a doutrina que eles desconheciam? Procuraram atac-la. E como? Pelo caminho mais costumeiro, que tpico de todos os deficientes: caricaturizar a doutrina, infam-la, atribuindo-lhe afirmativas que ela de modo algum faz. Comearam por tornar confusos os conceitos de causa e efeito. A dependncia, que era real para a escolstica, passou a ser apresentada como meramente formal, como razo de ser, etc., confundindo-se razo suficiente com causa. A prioridade ontolgica da causa passou a ser exposta como antecedncia cronolgica, e afirmar-se que o efeito nada mais era que a prpria causa travestida de efeito, porque aquela ainda estava no efeito, e no era outro ser, total e absolutamente outro, como o afirmavam os escolsticos. Houve filsofos que afirmaram que o efeito podia ser superior em ser causa ou causas. Criou-se uma concepo simplesmente estpida da evoluo, afirmando-se que constantemente o universo revelava um aumento de perfectibilidade e de ser, de modo que o amanh teria mais ser que hoje, e hoje mais que ontem. Renan chegou at a afirmar que Deus seria o ponto final da evoluo. De modo que Deus ainda no existia, mas existir, afirmava, quando o universo tiver alcanado o seu grau evolutivo mximo de perfeio. Desse modo, o mais viria do menos, o mais perfeito do menos
65
perfeito, o resultado conteria eminencialmente mais ser que as suas causas. Era virar tudo de cabea para baixo. E de onde viria esse aumento de ser? Se no tinha uma causa anterior que o contivesse, s poderia vir do nada, surgir por absoluta gerao espontnea. Ento o nada passou a ser o criador. Admitir um ser perfeito criador, era para eles um absurdo, mas admitir que o nada fosse capaz de realizar a perfeio no era absurdo, era o climax da inteligncia, era a superao do saber antigo. Hume e Kant tornaram causa e efeito apenas categorias. Os inimigos do cristianismo estavam satisfeitos, pois destruam, assim, pelos alicerces, as provas da existncia de Deus, que os escolsticos haviam construdo; punham abaixo definitivamente Aristteles (esse que foi acusado por Bertrand Russel como uma verdadeira calamidade, cuja obra, toda, no valia uma pgina da de Coprnico, e que fez mais mal humanidade que bem, e outras coisas semelhantes), punham abaixo os grandes luminares da escolstica, para, finalmente, apresentarem-se como novos luminares os gnios de Descartes, de Spinoza, de Leibnitz, de Kant, de Hegel, de Hume e outros.16 Seria um erro julgar que houve nisso tudo apenas m f. Sem dvida, h certo satanismo dos que desejaram destruir os fundamentos filosficos da escolstica, com outras intenes, mas houve e, sobretudo, deficincia no conhecimento, ausncia de mentes filosficas mais seguras, erros palmares da Lgica, preconceitos admitidos como postulados demonstrados, quando, na verdade, no passavam de afirmativas sem fundamento. Mas houve da parte dos escolsticos modernos tambm uma grande parcela de culpa. Depois da florao espantosa que teve a escolstica em Coimbra, Salamanca, Alcal de Benares, com Fonseca, Benedito Pereira, Furtado de Mendona, Egdio, Gois, Gouveia, Couto, Araujo, Joo de So Toms, Suarez, Vasquez, Soto, Losada, Baez e tantos outros, sucedeu um perodo de disputas de escolas, em que mais se preocuparam os escolsticos em disputar entre si sobre a exegese do pensamento dos grandes mestres, como Toms de Aquino, Scot, So Boaventura, Alexandre de Hales e Suarez, do que propriamente levar avante o trabalho desses luminares e divulgar como se deveria divulgar o verdadeiro saber escolstico. Permitiram que a filosofia moderna se divorciasse do passado prximo, que volvessem aos modelos gregos do perodo da decadncia, que obras como as de Averrois, Avicena e os grandes filsofos rabes, permanecessem praticamente desconhecidas. At o silncio se fez em torno dos mestres escolsticos. Muitos, na Igreja, j no se debruavam mais sobre os velhos textos, que cada
16
Se o tempo nos for dado, faremos um relato das peripcias para criar a confuso no esprito humano, e o que ora fazemos, com o tema de causa e efeito, ser apresentado, ento, com nmias particularidades, com exemplos numerosos. E o mesmo se poder fazer com os conceitos de ato e potncia, essncia e existncia, forma e matria (palavra muito usada pelos materialistas, que at hoje no foram capazes de dizer em que consiste), finalidade, intencionalidade e muitos outros conceitos, que se tornaram confusos, porque tudo se fez para que se tivesse uma concepo confusa, pois assim se derrua pela raiz os fundamentos da concepo crist, que uma religio positiva e concreta, embora assim no o queiram considerar os adversrios, sempre abstratistas e negativistas.
66
vez se tornavam mais raros e menos lidos. :E at hoje, embora modernamente j se faa alguma coisa de diferente, os livros dos medievalistas tornaram-se leitura proibida.17 No basta editar obras de edificao religiosa, que se destinam a um nmero especialssimo de leitores. mister fazer chegar s mos dos que fazem filosofia e se consideram os seus luminares modernos os grandes textos. Quando se sabe que homens como Leibnitz, Descartes, Spinoza, Kant no conheciam as obras de Toms de Aquino, de Duns Scot, de Suarez nem de Aristteles, que se poderia esperar de suas realizaes? Por geniais que fossem, e o eram certamente, no poderiam por inspirao realizar por si ss o que levou sculos e mais sculos de percucientes anlise. Muito erro que hoje domina no mundo devido culpa dos que deveriam ser guardies da filosofia positiva, que mais se preocupam com as polmicas de escola, em acusarem-se uns aos outros de herticos, de pantestas, de imprudentes e de temerrios, do que em levar aos estudiosos um conhecimento claro do pensamento dos grandes filsofos da Idade Mdia. Pela ao malfica de uns e pelo descaso de outros, e pela inadvertncia de quase todos no era de admirar que os semeadores de erros no colhessem confuso s mos cheias, e que o mundo conturbado de nossos dias no tivesse a principal razo de sua angstia nos grandes erros que se disseminaram em prejuzo do bem e da cultura humanas.
DEMONSTRAO E ARGUMENTAO
Uma das maiores fontes de erros filosficos, sobretudo no campo da filosofia prtica, foi o valor exagerado que se deu ao argumento, e ter-se julgado que ele substitui perfeitamente a demonstrao. Argumenta-se quando se apem razes em favor ou contra um postulado. Demonstra-se quando se realizam ilaes, cujas conseqncias decorrem rigorosamente de postulados j devidamente estabelecidos como verdadeiros. mister, na demonstrao, que a conseqncia decorra, por rigoroso nexo lgico, de premissas dadas como verdadeiras; ou seja, que encontrem, em ltima anlise, fundamento em princpios ontolgicos. Argumentar fcil, e tudo passvel de argumentao. Mas demonstrar outra tarefa, porque esta exige um rigor, uma apoditicidade tal, que muita coisa aceita como boa, verdadeira e indiscutvel, ao passar pela anlise, pela crtica especulativa, como a exige a filosofia positiva e a concreta, no se manteria.
Quem escreveu estas linhas viajou a Europa procura de textos, e adquiriu muitas obras a preo de ouro, e muitas outras foi-lhe totalmente impossvel encontr-las. Quantos autores que desejamos ler e talvez jamais os tenhamos s mos. E por que isso? Por que no se editaram tais obras? No h leitores para elas? Ou que faltou uma divulgao mais cuidadosa? Os raros textos que se encontram so em latim. verdade que julgam muitos escolsticos, e com razo, que quem no l corretamente latim no pode estudar filosofia. Sem dvida, quanto aos textos medievais. Mas se se fizesse edies bilinges, e boas tradues dos principais autores, temos certeza que haveria leitores para tais obras.
17
67
Vejamos no campo filosfico as argumentaes conhecidas, dispersas nas obras de inmeros filsofos. A inteligncia humana caduca e a razo claudica. O que o homem tem julgado verdade apenas o que lhe tem despertado a convico de que certo. Os meios de conhecimento, que dispe, so imperfeitos e o que sabe um arremedo apenas da realidade. Envolta e dominada pelas convices e preconceitos, a mente humana s conhece o que ela mesma constri. Seu saber so seus fantasmas, sua certeza so suas convices, sua cincia apenas uma grande fantasmagoria de postulados, que no encontram um fundamento srio fora do prprio homem. O homem s encontra nas coisas o que nelas ele pe, etc. Eis uma srie de argumentos usados por muitos filsofos e que conseguem obter xito junto a muitos leitores e discpulos. No entanto, temos apenas razes apostas em favor de uma tese, no uma demonstrao, porque esta exige rigor lgico, obedincia aos cnones da Lgica, to pouco conhecida de muitos que tentam filosofar. Exemplo de demonstrao de uma tese, pelo qual poderemos, na decorrncia do seu exame rigorosamente lgico, levado s ltimas conseqncias, concluir que a tese falsa se ela provocar uma contradio. Digamos que algum estabelece: todo ser matria, tese bem materialista. lgico que, de antemo, perguntar-se- o que entende o defendente da tese por ser e por matria. Ela se complicaria terrivelmente, porque poderia o materialista ter dificuldades em dizer o que ser, como tambm o que matria. No intuito de evitar a primeira dificuldade (aporia) poderia afirmar que tudo quanto h matria. Neste caso ser seria o que h, o que tem uma positividade, uma afirmao. Esse o que h nada? Ausncia de positividade ? Certamente ele diria que no. E o que no h matria? Tambm diria que no. Neste caso, o juzo poderia sofrer uma inverso simples: a matria o que h o que h matria. O que o materialista entende por matria? Para alguns o ente corpreo, sensvel, objeto de cognio sensvel (como o descrevem os sensualistas). Para outros um ente indeterminado, que constitui o estofo das coisas, um ser potencial e tambm ativo. A maioria nem sabe o que , mas apenas uma palavra, para dizer que o princpio de todas as coisas. Para estes, matria o ser e tambm o ser matria, o que, em suma, dizer a mesma coisa. No conhecemos nenhum materialista, nem um s, que tenha alguma vez dado um conceito claro do que seja matria. Se diz que ela potncia e ato ao mesmo tempo, ter de afirmar que ato com potncia para alguma coisa. Nesse caso, ser um ser efetivo que atualiza, em si mesmo, o que em si mesmo ainda no efetivo, mas efetvel. Neste caso, composto do que em ato e do que em potncia; ou seja, pode receber determinaes de si mesma. Como o que em ato tem uma forma, um logos, h, na matria, uma parte que efetiva com forma, e uma parte indeterminada, amorfa, apta a receber forma, ou a parte j formada apta a receber a forma de si mesma; ou seja, ela sua prpria causa e seu prprio
68
efeito, sendo composta, portanto, de algo em ato e algo em potncia. Como a potncia algo que implica a antecedncia do ser, porque se a potncia fosse primordial, nesse caso teramos o que ainda no o que poderia ser, e que apenas um efetvel, e no um efetivo, consequentemente o que ainda no , antecederia a tudo quanto veio a ser. A potncia pura, enquanto tal, seria mero nada. Nesse caso, a matria no poderia ser potncia pura, j que o princpio de todos os seres, e teria de ser ativa desde incio, ato desde incio. E esse ato teria uma antecedncia ontolgica potncia. A potncia, o que pode vir a ser, seria potncia do ato, mas o ato no poderia, como ato primordial, ser o ato de uma potncia, algo subordinado ao que ainda no . Consequentemente, quer queira quer no, o materialista ter de admitir que o ato anterior potncia, no tocante matria, e que a potncia estaria subordinada a ele. Antecederia desse modo um ato puro. Que se entende por ato puro? Um ato que apenas ato. E essa parte, que ato na matria, ter de ser puramente ato, porque, antecedendo ontologicamente, se no for ato puro seria uma mescla de ato e potncia, que seriam dois termos de onde principia a matria, o que o materialista, que monista, no poder admitir. A potncia ter de ser algo que o ato realiza, ser o possvel do ser efetivado, o efetvel, que do poder do ato. Ento teramos um ato puro, portanto infinito, sem limitaes enquanto tal. Pois se antecede potncia, o que o limitaria? A potncia? No, porque ela est subordinada quele. O nada? No, porque nenhum materialista vai afirmar que o nada tenha poder, porque se tem poder ser, e se ser, adeus monismo. E esse ato puro infinito, porque , infinitamente, sem limitaes, ele mesmo, e ele apenas ser, porque o que h posteriormente, j constitudo da potncia informada pelo ato, dele, subordinado a ele, no algo absolutamente fora dele, seno, outra vez, adeus monismo. Logo, esse ato puro ser infinito e onipotente. Onipotente, sim, porque o ser pode, e o que pode ser, pois o nada, nada pode. Se no possui esse ato puro todo o poder, se o poder no dele, de quem seria? Do nada, impossvel. Da potncia? Mas esta est subordinada quele, portanto o poder que tenha provm daquele. E se algum novo poder surgir, que no esteja no ato puro, viria do nada, o que absurdo. Logo onipotente, e tambm oniperfeito. E o porque a perfeio a atualizao de um modo de ser. E de onde viria esse poder do modo de ser? Do nada? No possvel. Portanto, viria do ato puro material, que conteria, eminentemente, todo poder possvel, toda perfeio possvel, e no mximo grau. No h necessidade de prosseguir. Essa concepo da matria o que se chama Deus, e os materialistas apenas estariam dando um outro nome a Deus. Logo a matria no poder ser, para o materialista, o que tal materialista dizia, porque essa matria era, na verdade, Deus, o que o materialista no pode admitir. Se disser que a matria o de que constitudo os entes, diria a mesma coisa, pois se todo ser matria, aquele juzo expressaria que matria ser, e que ser o que constitui as coisas, pois o
69
nada no constitui coisa alguma, ento matria e ser so a mesma coisa, e volveramos primeira posio, pois teramos que chegar a um ato puro, infinito, etc. Resta, ento, dizer que matria, como ser primeiro, corpreo, o ser corpreo. Entende-se por corpreo o ser que limitado por superfcies, portanto, limitado. O ser limitado o ser que recebe limites e , portanto, potncia, aptido para receber limites, o que reduziria outra vez a ato e potncia e voltaramos afirmao de um ato puro antecedente. Poderia ainda um materialista dizer que nada se sabe ao certo sobre a matria, logo intil discutir o assunto. Se nada sabe, por que afirma que a matria, que no sabe o que , o princpio de todas as coisas? Como pode afirmar categoricamente o que desconhece? Nesse caso, seu materialismo apenas uma opinio, e opinies no se discutem. Restaria, afinal, dizer que matria apenas a potncia com a aptido de receber formas. Mas, nesse caso, sendo potncia, no princpio do ser, e volveramos primeira soluo. Em suma, no conhecemos outra maneira de ser materialista que no essas, e nenhuma delas resiste a uma leve anlise. A ltima posio a da escolstica, mas esta no materialista, porque no d potncia, enquanto apta a receber formas, o papel de princpio do ser, mas apenas de ser subordinado, ou melhor ser criado, criatural. Podemos apenas para exemplificar, dizer que qualquer afirmao de que a matria o corpreo, o sensvel, levar fatalmente a admitir a destrutibilidade total da matria, o seu aniquilamento, o que terminaria por destruir o prprio materialismo, ou afirmar que a matria uma combinao de dois seres primordiais e, neste caso, perder-se-ia a posio monista, ou ento, afirmar que a matria tem um estofo, noutra matria da matria, que seria no-matria. Na verdade, os materialistas modernos mais esclarecidos ou menos confusos consideram a matria apenas semanticamente; ou seja, o que em nossa intencionalidade desejamos dizer que matria: o estofo das coisas. Neste caso, o materialismo cai por terra como concepo filosfica. Na verdade, no ele uma filosofia no sentido especulativo, mas apenas no sentido prtico. uma concepo do mundo que no encontra ontologicamente nenhum fundamento, aceita apenas por aqueles que no podem conceber entes no-materialistas, no sensveis, no corpreos, no cronotpicos (tempo-espaciais), que no possuem as chamadas propriedades da matria. Pode-se dizer ainda mais que o materialismo surge de deficincias no pensar filosfico, e nenhum realmente grande filsofo foi materialista. Inegavelmente, foram os escolsticos os que melhor estudaram as regras da demonstrao e, neste setor, como em tantos outros, superaram tudo quanto se fez no passado e se faz no presente.18
18
Em nossas obras Mtodos Lgicos e Dialticos, e em Filosofias da Afirmao e da Negao, estudamos esse mtodo: na primeira, teoricamente; na segunda, praticamente, atravs de dilogos.
70
GRANDES ERROS ONTOLGICOS
Na Filosofia Especulativa, a Ontologia (a Metafsica Geral) a cincia que se dedica ao estudo do ser enquanto ser. O nada de per si no poderia ser objeto de estudo seno atravs do ser. E o que se dedica examinar o ser humano, atravs da contemplao (cujas fases so a lectio, a advertncia do tema, a meditatio, a meditao sobre ele, e, finalmente, a oratio, o discurso correspondente), uma presena, algo que se afirma, e afirmado, j que a negao pura no poderia analisar-se a si mesma, mas sim algo que , que se dedica a examinar o que , e o que no , consequentemente a Ontologia , na Filosofia, a disciplina prima, a philosophia prima, porque do conhecimento do ser enquanto ser, e do ser enquanto real, que se podem construir os fundamentos de um especular seguro. Pode-se assim dizer que o grau de compreenso e de nitidez do conhecimento de qualquer regio do ser depende do grau de compreenso e de nitidez do conhecimento ontolgico.19 Depois de havermos revelado os grandes erros criteriolgicos, que so a fonte e origem de outros, procuramos apresentar os grandes erros ontolgicos, para que o leitor possa notar de modo claro e demonstrado, onde se situam muitas posies que parecem slidas, mas que no passam de mal fundadas afirmativas, que s tm servido para perturbar a mente humana e encher o mundo de confuses perturbadoras. Sem dvida, a Ontologia apenas trabalha com a razo. Mas, desde Aristteles, tem ela seu ponto de partida na prpria experincia humana, tanto interna como externa. Como meio para essa investigao do ser, o melhor tem sido sem dvida a abstrao total. De antemo, poderia nossa crtica posterior ser posta em dvida ou sofrer qualquer restrio, se, previamente, no tivssemos justificao a teoria da abstrao deploravelmente desconhecida quase totalmente por muitos filsofos modernos. Partamos, pois, do primeiro postulado da Ontologia: o ente (como conceito e como realidade) ns o obtemos atravs da abstrao da experincia, tanto interna como externa. Para o kantismo, a idia do ser e a de todos universais so construdas a priori, independentemente da experincia, formados pelo intelecto. Para outros apenas um conceito que, semanticamente, expressa uma classificao geral do que objeto de nossa experincia. Ora, sem dvida que o conceito de ente construdo por uma abstrao universal dos fatos da nossa experincia externa, como nos mostra a teoria da abstrao. E tambm da experincia interna.
19
Aqueles modernos, copiando posies j superadas de antigos filsofos, que julgam desprezvel a Ontologia, revelam apenas uma deficincia e uma estultice. Deficincia, porque, sem a Ontologia, impossvel aprofundar-se no conhecimento das coisas, e estultice, porque revela desde logo desconhecer o que de magnfico j realizou o homem neste setor to importante do conhecimento humano.
71
Pela filosofia concreta, que a nossa, por ser impossvel o nada absoluto, j que a mera proposio da sua possibilidade afirmaria alguma coisa, ou seja que alguma coisa h e a mera enunciao de que alguma coisa h prova, indubitavelmente, que alguma coisa h pela prpria afirmao, e que, havendo alguma coisa, o nada absoluto no h, o conceito de ente, da presena de alguma coisa, algo indubitvel e ontolgica e onticamente verdadeiro. O ente afirmao (ens ut si, como o diziam os escolsticos, o ente (ser) como afirmao, como sim, e recusado como no). O conceito de ente, como esquema mental, est fundamentado nessas demonstraes, pois, intencionalmente, refere-se a algo que , podendo-se afirmar, sem a menor dvida, que, necessariamente, h algo (ente=ser), porque de algo podemos tratar. Mesmo que ente, ou ser, fosse uma alucinao, seria realmente algo, e no negativamente apenas nada, porque a alucinao prova que h algo e no que nada h. Desse modo, v-se que os negativistas, e inclusive os kantianos, quando afirmam que ente (ou ser) apenas um esquema mental, no conseguem negar o ser, os primeiros porque de certo modo afirmam, e os segundos porque a prpria existncia do esquema mental de ser, mostra, apoditicamente, que h ser e no o nada absoluto. A objeo de tais filsofos demonstra, por sua vez, que h o que desejam refutar. Quanto aos que dizem que nada sabem do que ser, dizem apenas tolice, porque a sua prpria afirmao est afirmando o ser. No mister ser muito inteligente para compreender que alguma coisa sabem do que ser, pois sabem que no o absolutamente nada, que aquele uma afirmao e no uma negao pura, que uma presena e no uma ausncia total. Que ser para a filosofia positiva? Ser o que apto para existir, famoso enunciado de Suarez. Um ser ou em ato, ou em potncia, um possvel. Se em ato, apto para existir; se em potncia, um possvel. Se em ato, apto para existir; se em potncia, tambm apto para existir, pois, do contrrio, no seria possvel. Ente o que apto a ser uma frmula tomista, que afirma que ente o que tem uma essncia real. Ambas frmulas, na verdade, so a mesma. Que pode um filsofo, que no segue a filosofia positiva e a concreta, dizer o que ser? Pode dizer que no sabe o que ; dizer que no h; ou dizer que ser algo indeterminado, ou que o mesmo que nada. Mas, seja como for, os dois primeiros j foram refutados, e o ltimo tomaria o conceito de ser (no sentido lgico) como algo indeterminado, o que realmente , pois, como tal, um conceito simplicssimo, indeterminadssimo e de mnima compreenso, embora de mxima extenso, como se v na Lgica. Mas o conceito lgico de ser no o ontolgico, que algo com essncia real, e que inclui o que pertence conceituao da Lgica. Dizer, como o faz Hegel, que ser e nada se identificam, porque o ser, como indeterminado, eqivale a nada, fazer confuso entre o conceito lgico de ser com o ontolgico; confundir a logicidade com a ontologicidade.
72
A ESSNCIA: SO ELAS COGNOSCVEIS?
A filosofia positiva e a concreta afirmam que o so, enquanto a filosofia negativista afirma que no. Para esta as essncias so apenas palavras. Que se entende por essncia? Entende-se, desde os antigos gregos: o pelo qual o ente este ente que (id quo ens est ens illud quod est), a ousia dos gregos. o pelo qual uma coisa se distingue (substancialmente, quididativamente) das outras. Uma pra distingue-se de uma ma e no pode ser confundida com esta. H numa e noutra, algo que as distingue (quiditivamente) uma da outra. E esse quid algo pelo o que , e no o que no . Ora, se alguma coisa tem aptido para ser, esse alguma coisa tem de ser alguma coisa, e sendo alguma coisa, h de ter algo pelo qual o que e no alguma coisa outra distinta do que . Na verdade, o ser humano distingue as coisas que so, e se as distingue, porque as distingue: por que nota alguma coisa que no o que a outra coisa . Pode essa distino no corresponder realidade da coisa tomada em si mesma, mas , enquanto distino, alguma coisa que . Digamos que algum, ilusoriamente, faz uma distino onde h uma identidade. De qualquer forma, o que distingue tem um pelo qual outro que o outro, a distino, embora no correspondendo realidade da coisa, tem, enquanto distino, um pelo qual o que e no outra. De todo modo, porm, o que o de que se pode predicar o ser, tem de ter algo pelo qual (quod) o que , e no outro. De qualquer forma, conhecemos que h uma essncia, e sobre isso no pode haver uma dvida sria. Resta saber se se pode conhecer a essncia de alguma coisa, pois aqui j surgem dvidas srias. Em outras palavras, sabe-se que o que tem uma essncia. Resta saber se podemos conhecer essa essncia, e no apenas saber que ela h. Sendo a essncia o pelo qual o ente o que chamam-na tambm de qididade (quidditas), do latim quid, que (que ?), cuja resposta a definio. Tambm chamam natureza que constituda da emergncia da coisa, que o princpio radical da sua operao. Tambm chamam forma, que a lei de proporcionalidade intrnseca do ser e, finalmente, substncia que o que constitui a consistncia da coisa. A essncia pode ser considerada sob trs aspectos: sob o fsico, o metafsico e o lgico. A essncia fsica a que constitui a fisicidade de uma coisa, como, no homem o corpo e a mente (ou alma); num vaso de barro, sua figura geomtrica e o barro que o compe. A essncia metafsica a essncia em sentido formal: no homem animal e racional. A essncia lgica o seu gnero prximo e a diferena especfica (animalidade e racionalidade), que se confundem muitas vezes com a metafsica. Na Lgica, porm, tomado o
73
animal na sua universalidade: animalidade; e o racional, que h no homem, em sua universalidade: racionalidade. Apresenta ela as seguintes propriedades: necessria, pois sem ela o ser no o que ; indivisvel, na verdade no separvel em suas partes, pois deixaria de ser o que ; imutvel, porque se acrescentada alguma coisa deixaria de ser o que para ser outra; eterna, pois a essncia independe do tempo, e tomamos aqui o termo eterno em sua acepo negativa, que melhor seria dizer intemporal. Ademais, a essncia, sobretudo a metafsica, algo dado desde sempre, pois se no o fosse, como poderiam ter surgido seres que a tivessem? Do contrrio, teria surgido do nada absoluto, o que absurdo. So assim eternas (agora em sentido positivo) na ordem do Ser Primeiro, o Ser Supremo da filosofia concreta. A essncia fsica pode dar-se independentemente da considerao humana, porque embora no a conhea o homem, ela se d, pois sem ela, como vimos, o ser no seria o que . A essncia metafsica estruturada, esquematicamente, pela mente humana, segundo as notas abstradas. Divide-se a essncia metafsica entre a propriamente dita, que a que a mente capta e que revela uma distino perfeita, e a impropriamente dita, a essncia estruturada pela mente humana, apenas apontando as propriedades de um ser, como as essncias captadas pela Cincia, que se referem apenas s propriedades, pois o campo genuno da Cincia o das propriedades dos entes, enquanto o da Filosofia Especulativa alcanar a essncia metafsica propriamente dita. Diz-se, ainda, que a essncia metafsica atual, quando h, atualmente, o ser que a tem; possvel, quando o ser ainda no existe, mas poder existir. A essncia simples, quando constituda de um nico elemento; composta, se de muitos. Consideram-se aqui os elementos quer fsicos, quer metafsicos, quer atuais, quer possveis. A essncia tambm chamada de essncia real, quando o que realmente pode ser. Alguns comentrios impem-se aqui. O termo natureza vem de natura, do latim nascor, nascer, significa o que vir a nascer, o que tem um incio de si mesmo. Todo ser que surge, que nasce, tem uma emergncia, que o que feito e o pelo qual o que e no outro que ele. Este vaso tem uma natureza: a sua matria (barro) e a sua forma (vaso). Suas operaes sero proporcionadas a essa natureza. O homem, que nasce, e tomamos aqui nascimento no no sentido fisiolgico, nem biolgico, mas fsico, um ser que surge com uma natureza fsica e formal, e suas operaes sero proporcionadas a ele e s suas atualizaes. Apenas isso natureza, e no uma entidade existente num lugar desconhecido. Essa natureza, como comum aos seres chamados humanos, chama-se, por sua vez, natureza humana. Diz-se que Plato afirmou que h as essncias separadas dos entes que deles participam, e que so cognoscveis imediatamente por ns.
74
Os materialistas negam a possibilidade de conhec-las, seguidos pelos positivistas, como Comte, os sensistas, como Locke, os empiristas, como Hume. Os relativistas reduzem-na a meros esquemas mentais, e apenas mentais, sem nega-las na realidade. Husserl e os fenomenologistas afirmam que a mente humana capta-as, e os existencialistas modernos negam-nas, aceitando apenas a do homem. Todas essas doutrinas so fontes de erros no filosofar, enquanto negam a possibilidade humana de conhecer as essncias. E demonstra-se a tese, aceita pela filosofia positiva e pela concreta, do seguinte modo: pela experincia, inteligimos o que pelo qual uma coisa o que ele e no outra. No captamos, direta e imediatamente, a essncia de uma coisa, mas graas s propriedades, os efeitos e as operaes que ela produz, conclumos qual o seu fundamento, qual a sua raiz, o que nela mister que haja para realizar o que realiza. Porque o homem atua como animal, sua natureza tem de ser animal; porque realiza atos racionais, racional, pois um ser no poderia operar desproporcionadamente ao que , do contrrio faria o que no poderia fazer, o que absurdo. Na definio de essncia, diz-se que o pelo qual se distingue de todos os outros, especificamente outros. Se ele no se distinguisse dos outros por algo que , e que os outros no so, ele se distinguiria dos outros pelo que no tem de diferente dos outros, o que seria absurdo. Se no existirem realmente as essncias, os seres no teriam pelo que se distinguirem, e seriam idnticos, tomados em si mesmos, de modo que a distino notada seria mera fico humana, ou, ento, se distinguiriam sem uma razo de ser para distinguirem-se, o que traria efeitos desproporcionados s suas causas, o que seriam tambm absurdo. Restaria a posio relativista, que afirmaria que as distines esto meramente em ns e no nas coisas, fora de ns. O que as coisas apresentam de distinto seriam meras alucinaes nossas. Inevitavelmente, tal relativismo teria de cair no ficcionalismo, e at no niilismo, pois alm de afirmar que as distines so iluses, a heterogeneidade do mundo extra mentis seria nada, absolutamente nada, j que tudo seria, em sua realidade, homogeneamente o mesmo que tudo, uma grande homogeneidade, na qual s o homem seria heterogneo e criador de heterogeneidade. Mas, ento, de que natureza seria o homem? Se a mesma das coisas fora dele, como haveria, ento, a heterogeneidade? Esta no teria uma razo de ser, seria um efeito desproporcionado sua causa, j que seria impossvel explicar a heterogeneidade sem uma heterogeneidade. E no teria o homem uma natureza diferente das coisas, outra totalmente que as coisas. Para ser criador de heterogeneidades, teria de ser totalmente heterogneo a elas. Essa heterogeneidade no entra nas intenes dos relativistas, mas inevitvel postul-la para evitar maiores absurdos. Aceitando-se que h heterogeneidade entre o homem em sua natureza e as coisas, e admitindo-se que a sua origem vem das mesmas coisas, como se explicaria a heterogeneidade humana, como efeito outro e
75
desproporcionado sua causa? Ademais, as coisas se comportam como heterogneas. O homem seria um criador delas. O homem seria pois alguma coisa (aliquid = um quid de outros, aliis, distinto). Neste caso, na ordem da realidade, haveria heterogeneidade, e se h entre o homem e as outras coisas, qual a razo necessria para no haver entre as coisas outras que o homem? O relativista no mostra a razo, no demonstra por que, apenas alega, e suas alegaes levam a absurdos e a incoerncias. Contudo, os objetores da tese da filosofia positiva e concreta apresentam suas razes em oposio. Alegam do seguinte modo: pelos sentidos que conhecemos as coisas. Ora, os sentidos no nos do as essncias das coisas; portanto, so elas incognoscveis. Mas eis aqui o velho erro entre princpio e fundamento. Os nossos conhecimentos principiam com os sentidos, porm no se fundamentam neles, no so os sentidos que os aperfeioam. Outros alegam que os nossos sentidos no captam todos os acidentes, consequentemente no captam totalmente os entes. Mas de onde se conclui que necessrio conhecer todos os acidentes para se conhecer a essncia de uma coisa? Para combater as essncias no sentido platnico, afirmam que estas correspondem s formas ou idias divinas. Mas estas so incognoscveis; portanto, tambm aquelas. O que os platnicos afirmam que as essncias esto para as idias ou formas, na relao de exemplarum para exemplar. As essncias, enquanto nas coisas, apenas participam ou imitam aquelas, no so intrinsecamente constitudas daquelas. Quanto fenomenologia, que afirma que captamos, direta e imediatamente, as essncias, fundam-se os seus seguidores na capacidade do homem moderno de, em face de um nico exemplar, captar o universal, o essencial. Mas tal se d por uma operao que nos parece instantnea, e o , na verdade, no nosso tempo psicolgico, no porm, na operao que a nossa mente faz numa frao imperceptvel de tempo, pois essas operaes, por serem sucessivas, devero realizar-se num lapso de tempo, embora bem diminuto. Desse modo, a posio da filosofia positiva e da concreta a que oferece validez e apoditicidade, e no leva, de modo algum, a cair nem em incoerncias, nem muito menos em absurdos.
A EXISTNCIA Etimologicamente, a palavra existncia formada dos termos latinos ex e sistncia do verbo sistere, do qual o latim conservou a forma defectiva sit. Sistere significa estar, permanecer, manterse, ser. Desse modo existentia significa o que se mantm, o que permanece, o que foi (ex) de alguma coisa. O conceito de existncia o pelo qual o ser (formalmente) constitudo fora do nada. Se combinarmos os diversos prefixos, teremos os seguintes conceitos: In
76
Re Per Ex Sub Super Ad Ab Ob Dis E insistncia, resistncia, persistncia, existncia, subsistncia, supersistncia, ad-sistncia (assistncia) ab, ou ab-sistncia (sistncia que se afasta), e ob-sistncia (ob, contra, ante) sistncia que se ope. O termo constantemente usado na Filosofia, e tem, sempre in latu sensu, o sentido do que se d fora de suas causas, ou melhor, o ser no exerccio de si mesmo. Vimos que ser (ou ente) a aptido para existir, a aptido, portanto, para estar no pleno exerccio de seu ser, para dar-se fora de suas causas, cuja sistncia se d ex. Mas o ser possvel ainda no no pleno exerccio de seu ser, mas s possvel dar-se em pleno exerccio, se tem aptido para tanto, embora no se d nem venha a dar-se. Sua possibilidade expressa pela aptido para existir. Neste caso, o ser possvel no existe, mas s existe o ser em ato, o ser no exerccio de ser, s o ser atual existe.20 Se volvermos ao que estudamos quanto essncia do ser, temos de salientar que, enquanto qididade, a essncia o que cabe na definio, e sua existncia, enquanto tal, pode ser negada, porque podemos compreend-la apenas como esquema eidtico-notico; enquanto natureza, a essncia existente no indivduo; enquanto forma, o logos de proporcionalidade intrnseca, que se repete no ser pela proporo intrnseca dos elementos que o compem. Neste caso, a existencializao das partes proporcionadas intrinsecamente, segundo a normal de um logos. Se a tomamos como substncia o que constitui a consistncia da coisa e nesse caso a essncia existente. Corpo nenhum existente nada, mas alguma coisa, e como alguma coisa tem uma essncia, de certo modo esta existente, e identifica-se com a sua existncia. Ou melhor, a sua existncia. Considerando-se, assim, a disputa entre os filsofos essencialistas e existencialistas sobre a prioridade uma e de outra no tem mais razo de ser, e produto de m colocao do tema. sistncia
20
Um dos temas mais controvertidos na filosofia medievalista o referente distino entre essncia e existncia, tema que penetrou na filosofia moderna, sobretudo por influncia da corrente existencialista.
77
Conceber-se uma essncia no existente, s a podemos considerar do seguinte modo: enquanto qididade, a essncia no um existente, no se d fora de suas causas, no pleno exerccio de si mesma, como a existncia da cavalaridade, como entidade no pleno exerccio de seu ser. Contudo, se se considerar devidamente a concepo platnica, a cavalaridade uma forma (eidolon). Se quisssemos emprestar-lhe uma existncia material, estaramos violentando a sua natureza, que formal. Nesse caso, dir o platnico, que a existncia, que se poderia dar forma, forma, a formal, e no a material. Conseqentemente, a forma enquanto tal, no se devem exigir as propriedades que encontramos na matria, como topicidade, temporalidade, peso, medida, etc., porque a forma forma, e seu modo de ser eidtico. Querer uma localizao (um ubi) para a forma um contra-senso, porque no ela um ente cronotpico (tempo-espacial). Seu existir eidtico, segundo sua natureza, e o que (forma) e como substncia consiste em ser o que ela mesma (forma), por isso sempre forma, que , sem variaes no tempo e no espao. Desse modo, pode-se, ento, distinguir: a essncia, enquanto qididade, no existente como ; enquanto forma in re (natureza), no ser existente, distinta da forma enquanto natureza formal; e enquanto substncia do ser cronotpico distinta de enquanto substncia do ser formal. Portanto, se se disser que existir s o cronotpico, mister demonstrar apoditicamente, que no pode haver outro modo de existir que no este. E como tal impossvel de ser feito, e , ademais, incongruente afirmar que no h outros modos de ser seno os cronotpicos, quando nossas idias no se do topicamente, embora se dem no ato de pensar, cronologicamente, e os esquemas que alcanamos, como o de tringulo, o de nmero trs no tm cronotopicidade afirmar, pois, que s h seres cronotpicos cometer os mesmos erros que vimos ao examinar as teses principais dos materialistas. Simplifica-se, assim, a polmica, colocando-se com nitidez o que essncia e existncia.21 Contudo, h um erro: consiste em afirmar simplesmente que no ser contingente essncia e existncia se identificam. Se essncia e existncia se identificassem no ser contingente, essncia seria o mesmo, absolutamente o mesmo, que existncia nele, e, neste caso, seria um ser necessrio e no contingente, o que seria absurdo. O ser contingente teria uma existncia e um ser ilimitados, o que no tm. Suarez afirma que no haveria nenhum inconveniente em admiti-la como contingente e finita. Outros alegam que conceitos adequadamente distintos devem corresponder a realidades realmente distintas. o que se d quanto aos conceitos de essncia e existncia. Os que no aceitam
21
Quanto espcie de distino que se pode dar entre ambas, matria que tratamos em nosso Ontologia e Cosmologia . Deixamos de tratar aqui dessa plmica, porque no ela propriamente fomentadora de erros perigosos, mas, sim, de novas especulaes proveitosas ao saber filosfico.
78
essa tese, afirmam que no h excluso entre esses conceitos. Ao contrrio, um implica o outro; de si a essncia se refere existncia e a existncia essncia. Para outros a essncia s limita a existncia se existir, portanto no h distino real entre essncia e existncia. Mas os defensores da distino real afirmam que a essncia tem sua realidade prpria, que consiste em sua ordenao existncia. O que inegvel que h uma distino de razo entre os conceitos de essncia e de existncia. Contudo, impossvel conceber uma existncia sem essncia. Nem tampouco uma essncia que seja natureza, forma in re, e substncia, que no seja existente. A essncia, enquanto possibilidade no ser, no existente ainda de modo natural, nem formal in re, nem substancial. Como tais, sem dvida, existente, e existir implica a existencializao da essncia. Contudo, a essncia, tomada apenas eideticamente, na ordem do ser, sua existncia s poderia ser considerada de modo formal, mas dependente e especificamente limitada, no por limitaes reais-reais. Seria, portanto, ilimitada, especificamente, enquanto o que , mas limitadamente, enquanto o que , mas limitadamente, enquanto especificidade outra que outras. Deste modo, a identificao entre essncia e existncia no seria absolutamente simples, mas a que se d entre a essncia de um ser especificamente limitado num existir limitado, especificamente, o que resolveria todas as dificuldades, mostrando a validez de cada uma das posies, entre os tomistas, que afirmam a distino real de essncia e existncia, e a dos escotistas, que admitem apenas uma distino formal, e a dos suarezistas, que afirmam haver apenas uma distino de razo. Quanto s posies dos chamados existencialistas, estes incluem naquelas posies, contudo no oferecem a clareza de atitude e de doutrina apresentadas por aquelas. Dizer-se, pois, que a essncia e a existncia sempre se identificam simplesmente, de qualquer modo que se apresentem, um erro. Neste caso, sim, haveria absurdo, porque ento o ser contingente seria absolutamente necessrio de todo o sempre. As mas, que eram possveis num determinado momento histrico do nosso planeta, teriam existido cronotopicamente sempre, o que seria absurdo. V-se claramente que levar o tema da essncia e da existncia desse modo precipita, inevitavelmente, o pensamento no abismo do absurdo, o que se pode evitar pela maneira concreta como expusemos, que permite compreender claramente a distino que h entre essncia e existncia. DO NO-SER Entende-se por no ser a negao de ser, a ausncia do ser. Ao falar-se de no-ser h duas referncias: 1) o que no existe em ato; 2) o que no apto para existir.
79
Assim, pode-se falar na no existncia do filho, desta criana que ora nasce, e falaramos no primeiro caso, ou ento de algo impossvel de existir, como o quadrado-redondo, da impossibilidade. O termo mais usado para referir-se ao no-ser o nada (nihilum), de uso na Filosofia em todos os tempos. Entende-se nada de vrias maneiras: 1) Nihilum absolutum = ausncia total e absoluta de qualquer ser, nada absoluto; 2) Nada relativo = a ausncia de um determinado modo de ser, ou a ausncia de certo ser. tomado negativamente, quando se trata de mera no presena de ser, e positivamente, quando se refere impossibilidade de ser. 3) Nada absoluto parcial = seria a total ausncia de ser apenas em parte, como o vcuo dos atomistas adinmicos; 4) O Meon = o no-ser, que a potncia pura do ato puro.22 Vejamos a distino entre alguns conceitos como Carncia, que a ausncia de ser na coisa. impossvel quando sua ausncia no pode noser, como a racionalidade no homem; necessria, se a coisa no poderia existir como a essncia; contingente, se a coisa poderia assim mesmo existir, como a cincia no homem. Privao a ausncia do ser devido coisa, como a cegueira no homem, que normalmente deve ter viso. Diz-se que um ente de razo aquele que s pode dar-se na mente. Mas o ente de razo pode ter um fundamento na ordem real, quando h, na coisa, algo real que permite, por abstrao, alcanar o ente de razo. Assim, a humanidade um ente de razo, mas tem fundamento real nos homens. Ora, o nada um ente de razo e pode ter fundamento na coisa (in re), como se v com a cegueira, como as trevas, a sombra, que so entes que tm fundamento nas coisas, por ausncia de algo real. Dar ao nada uma entidade real em si mesmo, eis o tremendo erro que caram muitos filsofos. O niilismo filosfico fundamenta-se no nada como algo real em si mesmo. A filosofia positiva fundamenta-se na realidade do ser; a filosofia negativista, na realidade do nada, e ter sempre que emprestar ao nada poder, o que absurdo. Grgias, por exemplo, na antiguidade, negava a realidade do ser. Alguns existencialistas modernos, no sabendo especular em torno do nada, terminaram por dar-lhe uma realidade prpria.
22
Estudado em Filosofia Concreta.
80
Hegel chegou a identifica-lo com o ser, com a diferena de que o ser torna-se em nada, enquanto o nada torna-se em ser, distinguindo-se apenas pela intencionalidade, pois enquanto um tende para ser, outro tende para o no-ser. O niilismo no se manifesta apenas na Metafsica, mas tambm na tica, ao negar os valores; na Poltica, ao negar os fundamentos sociais, etc. Herclito, entre os gregos, reduziu o ser ao transeunte, ao deixar-de-ser-o-que-imediatamente-deixa-de-ser, ao devir puro, o que afirmar, como realidade, o nada, como o exps Aristteles, pois, no fundo, a sua filosofia era negativista. Hegel, em face da contradio que seu pensamento levava, termina por afirmar a realidade e a compatibilidade dos contraditrios. Afirma apenas, e no demonstra, argumenta e no demonstra: o puro ser e o puro nada so idnticos, e ser o que e no , o prprio no-ser. E como argumenta? Ser, tomado em si mesmo, indeterminado. Ora, nada indeterminado; logo, ser nada (no-ser). Este o silogismo famoso de Hegel. Logicamente esse silogismo falho, e peca contra as regras elementares da Lgica. Expressa: que ser pertence ordem dos indeterminados e nada tambm pertence mesma ordem. Da conclui que so idnticos. Temos um silogismo: PM SM _ SP Esta forma pertence segunda figura e, nesta, se ambas as premissas so afirmativas, no possvel concluir nada, porque o termo mdio nunca tomado em sua universalidade. O ser e nada poderiam ser ambos indeterminados, sem serem idnticos por isso. Erro elementar de Lgica. Heidegger, em sua fase existencialista, afirmava que do nada se fez o ser (ex nihilo ens fit). Posteriormente, abandonou essa concepo. Mas ela produziu nas mentes inadvertidas e deficientes uma florao espantosa de erros. Sartre tomou a posio de Heiddeger, e nela se conservou: o nada em si ser, afirma, o ser em si nada. Cairemos na concepo parmendica? Contrapondo a afirmao do nada s poderemos admitir o ser pleno de Parmnides? SER, NO SER E PRIVAO Entre ser e nada absoluto no h meio termo, pois menos que ser nada, e mais que nada ser. No se diga que so apenas conceitos nossos, pois o que se entende por ser a afirmao da presena, e a negao desta ausncia, e nada mais. De modo algum poderamos encontrar um meio-termo entre o nada absoluto, a ausncia total de ser, e presena, porque qualquer diferena j seria presena e, portanto, ser. Conseqentemente, ser ser. Contudo, a nossa experincia nos
81
comprova que h ausncias, e o nome genrico de tais ausncias privao. Como salientava Nicolau de Cusa, no dera Aristteles a devida importncia que merecia o tema da privao. Mas esta note-se, tem de ser de alguma coisa (portanto, ser), porque privao de nada nada de privao. O conceito de privao implica, pois, o ser, e fundamenta-se no conceito de no-ser relativo, do nada relativo, e no do nada absoluto. Ora, os entes de nossa experincia, alm de contingentes, ou seja, alm de necessitarem de uma causa eficiente que os faa, da qual dependem essencial e realmente, revelam que so privados de algumas perfeies, pois no so tudo quanto o ser pode ser. A privao da perfeio revela, assim, que so eles constitudos da presena de um ser, que , por sua vez, privado de uma perfeio outra de ser. Todo ser finito, que o ser contingente, afirma uma presena, e tambm a ausncia de perfeies de ser. Foi precisamente essa realidade dos seres finitos e contingentes, que levou a muitos filsofos a especularem em torno do no-ser, do nada. Afirmar que tais seres so nada, porque revelam privao, ou afirmar que so apenas ser, so duas posies polares extremadas, falsas, porque uma nega o que a outra afirma com base real. Os seres finitos no so apenas ser (pois o ser, que apenas ser, o Ser Supremo, como o demonstramos em Filosofia Concreta), nem tampouco so apenas nada, privao, porque uma privao absoluta seria um nada absoluto. Deste modo, os seres finitos revelam uma hibridez de ser e de privao. Ora, o ser finito , tanto o atual como o potencial, privado de certas perfeies. Destas, algumas podero atualizar-se, que so as suas possibilidades, outras no podero, porque so desproporcionadas sua natureza, ou espcie, ou qididade, etc. Toda privao, que no devida natureza da coisa, no lhe uma deficincia no verdadeiro sentido, pois no pertence convenincia da sua natureza, como pedra no ter olhos para ver. Mas h ausncias que podem atualizar-se, que so as possibilidades proporcionadas natureza da coisa. Essa privao ou pode ser apenas passageira, enquanto aquela permanente e necessria. Compreendendo-se assim, um princpio ontolgico que ser ser; ou seja, que ser no pode, ao mesmo tempo, e sob o mesmo aspecto, no ser. O predicado ser pertence natureza do sujeito de modo necessrio. Se tal juzo por alguns julgado tautolgico, basta que nos lembremos daqueles filsofos, que afirmam que ser no ser, para que desde logo compreendamos que desaparece a tautologia, porque o que se predica do sujeito que este se conserva ou permanece de certo modo em sua natureza. No juzo o ser ser, o sujeito tomado como alguma coisa (liquid), e o predicado afirma que apto para existir, que algo apto para existir. Revela, ademais, esse juzo, que o que cogitado corresponde ao que na realidade, pois cogitado que o que chamamos alguma coisa apto para existir. Essa correlao entre a ordem da cogitao e a ordem da realidade de mxima importncia.
82
Tal juzo corresponde aos seguintes: o que , afirma-se que , ou ao que convm algo, algo lhe afirmado. Todo ser o que . O que no , no . O que tem uma essncia. Todo ser tem uma natureza determinada que o constitui, etc. Porque o ser ser, o ser no no-ser. Ser o que apto para existir. O que no apto para existir no ser. Conseqentemente, ser no no-ser. Alguns filsofos, preocupados com o devir, com a constante mutao das coisas e as transformaes, chegaram a afirmar que o ser devir, ou algo que constantemente deixa de ser o que para ser o que no . Desde o momento que se compreenda que o devir (vir-a-ser) das coisas a passagem de um modo de ser para outro modo de ser, compreensvel, que o que , e deixa de ser o que , para ser outro modo de ser, acidental ou substancial, no primeiro caso, sofrendo uma mutao apenas acidental e, no segundo, uma substancial, transformando-se (mudando de forma) para outro, tudo isso acontece com algo que , e no com o que no (nada). O devir de modo algum anula o ser. Sem o ser, impossvel compreender o devir, nem poderia dar-se objetivamente, pois afirmar-se-ia que o nada, a ausncia de ser, torna-se outro ser. Ora, a ausncia de ser nada, e como o nada poderia perder ser, e adquirir ser, se nada e no tem ser? Desse modo, os defensores de tais idias, caem, inevitavelmente, no absurdo, e afirmando assim o devir, afirmam apenas o nada; ou seja, que o ser nada, ou que o nada ser, e, neste caso, o nada, sendo ser, ser, o que afirmar o ser. Afirmar o devir afirmar o ser, e no o nada.23 Um grande erro e de funestas conseqncias tem sido o de julgar que o devir outra coisa que ser. E este decorre do erro de julgar que h meio termo entre ser e nada. Na verdade: O que devm, alguma coisa que devm, e no nada que devm, pois, neste caso, no haveria devir. A passagem de um modo de ser acidental ou substancial para outro no afirmao do aniquilamento do ser, mas de um modo de ser, que deixa de ser de certo modo, para vir a ser, de modo atual, o que ainda no era atualmente, mas j era potencialmente. O ente, enquanto ente, no no-ente. O ser, que tem uma qualidade, no pode no ter essa qualidade. Se se afirma a presena de algo em algo, no se pode afirmar a ausncia do mesmo no mesmo.
23
No h dvida que a mente filosfica (mens philosophica), de uma raridade espantosa, contudo no podemos perdoar que homens de notoriedade cometam tais erros.
83
Em suma: quando se predica a presena, contraditrio predicar a ausncia sob o mesmo aspecto e simultaneamente. A posse a privao do mesmo no mesmo e, simultaneamente, contraditrio. (Diz-se simultaneamente, por que em outro momento poderia no o ter). Desse modo o ser que tem uma qualidade, enquanto tem essa qualidade, no pode no t-la. Se se disser: o que tem existncia no pode no ter existncia, em referncia a um ser contingente, pode no ser vlido, porque passvel de no ter existncia. Mas se se disser: o que tem existncia, enquanto tem existncia, no pode no ter existncia, dizemos verdade. Da se conclui a frmula: impossvel afirmar e negar o mesmo simultaneamente do mesmo. Temos, aqui, o enunciado do princpio de no contradio. O de Parmnides: o que , ; o que no , no , pode ser intitulado de tautolgico. Mas dizer-se o que no-ente, evita essa acusao. O enunciado clssico dos medievalistas : impossvel algo ser, e simultaneamente, e sob o mesmo aspecto, no ser. Esse enunciado, como se v, reduz-se formula que propusemos. Demonstra-se, assim, apoditicamente, o princpio de no-contradio. Contudo, ao comentar a frmula clssica dos medievalistas, chamou Kant a ateno para o fato de apresentar uma modal (impossvel ...), e temporalidade (simultaneamente), que tiraria o valor analtico do juzo. Contudo, mister considerar que a modal no indica uma certeza da mente apenas, mas uma certeza que decorre da objetividade da coisa (pois o ser afirma e no nega). Ademais, simultaneamente no quer dizer apenas temporalmente, mas essencialmente, o que no o restringe apenas ao tempo. O enunciado, que oferecemos, no contm os defeitos apontados por Kant. Contudo, h os que afirmam que algo , e algo no simultaneamente e sob o mesmo aspecto. Nesse caso desdobrando-se em dois juzos: algo no , ambos juzos seriam falsos, pois o primeiro o seria porque seria vlido o segundo, e o segundo, por que seria vlido o primeiro. Esse terceiro termo, que e no , impossvel e absurdo, porque no h meio-termo entre ser e nada, pois menos que ser nada e mais que nada ser. Ademias se a algo que , predicamos que no o negativo seria positivo, porque algo quando no . Da o enunciado lgico verdadeiro: algo de algo ou afirmado ou negado. No h lugar para uma terceira posio. Nota crtica: Foram sempre improcedentes os argumentos daqueles que combatem o princpio de no-contradio. Muitos apegaram-se frmula parmendica, outros cometeram a deplorvel confuso entre ser e nada. o prprio conceito de ser e a afirmao que nele h o que permite extrair o princpio de no-contradio e, deste, o de identidade e o do terceiro-excludo.
84
No se funda esse princpio em outro, e o alcanamos pela anlise do prprio conceito de ser, e do que o ser . evidente de per si, e primeiro, porque decorre do prprio ser. E da conjugao dos dois princpios, do de no-contradio e do de identidade, conclumos: O que no pode, simultaneamente, e sob o mesmo aspecto, ser o que no , porque o que . PRINCPIO DE RAZO SUFICIENTE E OS ERROS CORRESPONDENTES O termo razo vem do latim ratio, expresso usada pelos contabilistas e que se referia ao livro correspondente do mesmo nome. Como nesse livro eram lanados englobadamente os efeitos contbeis segundo a sua especificidade, serviu aos filsofos para indicar a faculdade intelectiva discursiva do homem. E no de admirar que assim fosse, porque a Filosofia, em seus primrdios, retirou da terminologia popular os vocbulos, com os quais construiu o seu universo de discurso. Hoje, vamos busca-los no latim e no grego, e no na linguagem popular, e essa a razo porque perdemos a noo da origem de tais termos, que nos parecem especialmente construdos para apontar as nossas intencionalidades intelectuais. Contudo, esse termo no tomou apenas esse sentido, mas tambm o de causa que motiva algum ato. Assim, diz-se que a razo de ser de alguma coisa o que causa a sua existncia. Tambm se emprega para significar a qididade, s vezes a natureza, a espcie, e at a forma das coisas. Na verdade, tomado in latu sensu, o termo tem o significado de o por meio do qual o ente o que . E indica, tambm, a ordem da essncia de alguma coisa (sentido mais amplo), a ordem da existncia, a ordem da sua inteligibilidade ou da sua verdade. Corresponde ao termo grego logos. Empregou-se muito na Filosofia a expresso razo suficiente. A intencionalidade dos filsofos era referir-se ao que requerido para uma coisa ser o que na ordem em que , e chamou-se de razo insuficiente quando no atingia tal requerimento. Tambm se tomaram a razo suficiente e a razo insuficiente em sentido absoluto e em sentido relativo No primeiro caso, diz-se quando atende plenamente ao ser, no segundo, quando apenas o atende parcialmente. Como as causas de uma coisa so ou intrnsecas ou extrnsecas, dividiu-se a razo suficiente em intrnseca ou extrnseca. Assim a causa formal e a material davam uma razo intrnseca do ser, e a eficiente, a final, a exemplar, uma razo extrnseca. Como o nada, nada pode e, conseqentemente, no faz nada, porque fazer implica poder, nem se transmuta em nada porque nada o que h, o que , o que existe, deve ter uma causa suficiente para ser o que , e no ser o que no . Da o enunciado clssico do princpio de razo suficiente: Nada pode ser sem a sua razo suficiente. E chamou-se de princpio, devido sua necessidade e absolutuidade, pois como algo poderia ser se no tivesse nenhuma razo para ser?
85
Na essncia, incluem-se no s as notas essenciais, como as propriedades, e at alguns acidentes. Da o enunciado clssico: Qualquer que tenha uma essncia determinada, tem de ter uma razo suficiente de tal essncia determinada. Temos, aqui, o emprego do princpio de razo suficiente quanto ordem da essncia. Tambm o que existe tem uma razo suficiente da sua existncia. a aplicao ordem da existncia. O que conhecido tem uma razo suficiente pela qual pode ser conhecido. a aplicao ordem da inteligibilidade. Tambm se expressa do seguinte modo: todo juzo verdadeiro tem uma razo suficiente da sua verdade. Num enunciado amplo, pode dizer-se: O que quer que seja, que existe ou que pode ser entendido, tem de ter, intrnseca ou extrinsecamente (em sua emergncia ou em sua predisponncia), parcial, ou totalmente, uma razo suficiente de sua essncia, de sua existncia ou de sua inteligibilidade. Em suma: eis o que o princpio de razo suficiente. Contudo, muitos filsofos, que no sabem o que ele seja, e que dele constroem uma caricatura, apresentam seus inapropriados argumentos para combat-lo. Afirma-lo no todo ou em parte, ou nega-lo no todo ou em parte, tem sido a atitude tomada por muitos filsofos atravs dos tempos. Propriamente, os gregos no o enunciaram, mas implicitamente j estava contido no pensamento positivo, que vem desde Pitgoras, atravs de Scrates, Plato e Aristteles. Tambm no o formularam, no incio, os escolsticos. Foi precisamente Leibnitz quem o postulou como fundamental da Metafsica, junto com o princpio de no-contradio. Kant e os idealistas consideraram, de incio, como um princpio meramente subjetivo, negando-lhe a necessidade objetiva. Os positivistas e os empiristas no negam totalmente o princpio de razo suficiente, mas julgam-no vlido apenas no campo dos fenmenos, pois no campo metafsico afirmam ser impossvel estabelecer a sua validez. Contudo, a tese positiva e concreta a afirmao da validez desse princpio, tanto em referncia aos entes necessrios como aos contingentes, e tanto na ordem da essncia, como no da existncia e no da inteligibilidade. Esse princpio se enuncia de modo universal, porque impossvel o ser sem uma razo de ser, o que revela sua universalidade e necessidade. universalssimo, porque se refere a toda espcie de ser, e convm a toda espcie de ser, e convm necessariamente, porque, sem ele, nenhum ser teria
86
razo de ser. evidente na ordem da essncia, porque tudo quanto tem uma essncia; na ordem da existncia, porque impossvel existir o que no tenha razo para tal, e o que existe porque tem uma razo para existir. Uma coisa s inteligvel, enquanto tem uma razo de sua inteligibilidade, pois o nada ininteligvel. Se o ser no tem notas cognoscveis, como conhece-lo? Por outro lado, um juzo verdadeiro na proporo da sua adequao, portanto, para que um juzo seja verdadeiro, mister que tenha uma razo para tal. Sem qualquer razo de cognoscibilidade, nada poderemos conhecer. desse modo um erro toma-lo apenas, regional e parcialmente, erro que cometeram muitos filsofos, e que foi acentuado, sobretudo, por autores modernos, que o reduzem apenas a um princpio lgico. So eles que julgam que a Lgica apenas uma expresso da maneira de funcionar a nossa mente, sem qualquer possibilidade de ter um fundamento positivo e concreto na realidade, da qual o homem tambm pertence. No sabem distinguir que a identidade o nexo das coisas ideais, e que a realidade o nexo das coisas reais, e que tambm h uma idealidade da realidade e uma realidade da idealidade. O CONCEITO POSITIVO E CONCRETO, E O PRXICO Nscio aquele que repele as afirmaes de um filsofo, julgando-as falsas pelo simples fato de no poder compreend-las. ... Enquanto o predicado no constituir algo da essncia do sujeito, ou lhe ser absolutamente inadequado, o juzo, pelo qual afirmamos ou negamos o predicado ao sujeito, no um juzo apodtico. No juzo apodtico, o predicado pertence ou no ao sujeito de modo necessrio. A demonstrao, para ser apodtica, e conter a validez que dela se exige, tem de fundar-se em ilaes rigorosamente lgicas, decorrentes de juzos apodticos. Enquanto no atingirmos esse estgio, estamos apenas fundando-nos em juzos contingente, que no nos podem dar a certeza desejvel na demonstrao. Para algum afirmar que o ser infinito inexistente dever demonstrar, apoditicamente, que a infinitude um atributo contraditrio ao ser. A concluso nunca pode ter mais extenso nem fora que as premissas sobre as quais se baseia. Quando um materialista relativista afirma que todos os seres so relativos, contingentes, finitos, e nega, terminantemente, a existncia de um ser infinito, sua negao deve fundar-se numa impossibilidade ontolgica, porque jamais do contingente e do limitado poderia afirmar ou negar o necessrio e o infinito. Para negar a infinitude, de modo apodtico mister que a negao se fundamente numa impossibilidade absoluta. De premissas contingentes, no possvel extrair uma concluso necessria. A afirmao pura e simples da no existncia de um ser infinito tem de reduzir-se ao juzo: necessariamente um ser
87
infinito no existe por ser absolutamente impossvel. Essa prova nenhum materialista at hoje foi capaz de fazer, nem o ser nunca. A experincia meramente sensvel no nos d seno contingncias. Os judicia sensuum, os juzos dos sentidos, so todos contingentes. A experincia sensvel, sendo o fundamento nico do conhecimento (como o para muitos) no dar nunca concluses necessrias, seno hipoteticamente, no absolutamente (simpliciter). Os agnsticos que se fundam nessa limitao do nosso conhecimento, so coerentes. Mas o seu erro principia quando negam qualquer outra via cognoscitiva alm da sensvel. O nullius est in intellectu quod non prius fuerit in sensu indica apenas que o conhecimento humano comea nos sentidos, no, porm, que apenas nele se fundamente, e que neles se esgote. Nenhum escolstico de valor aceitou a tese empirista de modo absoluto, mas apenas relativamente. A posio empirista racionalista, e no apenas empirista, nem apenas racionalista. O conhecimento comea pelos sentidos. Os dados sensveis servem-lhe de matria de exame, mas o intelecto atua sobre eles para captar juzos, que a experincia no nos d determinadamente, mas confusamente. O intelecto tem um papel e o seu atuar proporcionado sua natureza, natureza nomaterial, pois alcana a generalidades e a conceitos, que no so sensveis. A abstrao no comea pela generalizao. Esta que se funda na capacidade abstrativa. Tampouco a abstrao se cinge apenas generalizao. Ela vai alm, vai construo eidtica. Nossos conceitos tm um contedo prtico, o qual evidencia a influncia histrica. Podiam os romnticos afirmar que cada ciclo cultural tem sua maneira de conceber (conceptum, conceito) o tempo e o espao, como o afirmava Spengler. E realmente h muito de verdade nesses postulados. Mas a mente humana no se cinge apenas a construir esquemas prxicos (histricos), condicionados pelas estruturas variantes das diversas conjunturas, como o pretendem os romnticos, e entre eles os marxistas. Para o homem comum pode ser assim, no, porm, para o filsofo especulativo que segue a linha positiva e concreta. A construo do conceito obedece a uma decantao prxica constante, pois busca-se a pureza eidtica daquele. Assim, quando Scheler diz que prudncia uma virtude distinta para o homem hiertico, outra para o aristocrtico e outra ainda para o homem de negcios, h, no sentido prxico (dentro da Filosofia Prtica), muito de verdade. Se prudncia para o hiertico o saber que penetra no sentido mais profundo das coisas; se para o aristocrtico o munir-se de armas poderosas para a defesa e o ataque; se para o homem de negcios, o esprito alertado e astucioso para a conduta na vida econmica, embora tudo isso seja verdadeiro, para o filsofo especulativo, que segue a linha positiva e a concreta, o conceito de prudncia despojado de toda capa de facilidade, de toda influncia histrica, de toda vivncia cultural, tomando-o em sua pureza eidtica, como a virtude que consiste no conhecimento e no emprego habitual de meios adequados e aptos para alcanar fins desejados. Justos so todos os meios e fins que no atentem ao
88
direito humano, considerado apenas como o que devido convenincia da natureza de uma coisa dinamicamente considerada. Mas a prudncia pode estar desassistida da justia. No filosofar especulativo, deve-se evitar, de todo modo, a influncia axioantropolgica, a valorizao ou desvalorizao que o homem empresta aos fatos, segundo os seus interesses personalistas, de grupo, de estamento, etc., e a influncia que pode exercer sobre ele a estrutura cultural. inegvel que tais influncias se do. inegvel que os nmeros tm uma simblica. Mas considera-los, por isso mesmo, como portadores, no s de uma simbolizao, mas de uma significabilidade objetiva, como realmente portadores do que se lhes atribui apenas simbolicamente, transforma-los em valores em si. Trs pode simbolizar a trindade, mas considera-lo como a Trindade, dar-lhe um valor e uma significabilidade diferente da primeira. Se no decorrer da histria, e atravs dos ciclos culturais, os seres humanos revelaram que davam valores diversos aos fatos e aos seus smbolos, o papel do filsofo especulativo de carter positivo e concreto consiste em dar aos nmeros um papel simblico, e no de simbolizado, e compreender que so anlogos, e no o analogado. Feito esse trabalho de despojamento do smbolo, busca seu significado verdadeiro e puro, e compreender que trs apenas trs e, enquanto tal, ele o em todos os ciclos culturais do passado e do presente, e o ser dos do futuro, desde todo o sempre para todo o sempre. Esse trabalho de purificao e de busca cuidadosa do contedo eidtico puro dos termos filosficos o primeiro passo, e tambm o principal para que a filosofia se torne positiva e concreta, e possa, ento, tornar-se, realmente, uma cincia e no uma arte, uma verdadeira epistme e no uma doxa, uma construo sria e poderosa, e no apenas um ensaio literrio e esttico. Ao alcanar esses conceitos, atinge-se ao que o mesmo e eternamente o mesmo para todos, e sempre. S ento se atinge a verdadeira positividade e a verdadeira concreo, pois a que se alcana ao que o mesmo em todos os tempos. No se tome o termo concreto apenas no sentido do que objeto de um conhecimento sensvel. Concreto o que cresce com, o que positivo e real e o que objetivo e real, salvo de toda subjetividade, psicologicamente considerada, despojado de toda facticidade vivencial. o conceito em sua pureza eidtica. O conceito, como esquema eidtico-notico, como um eidos que o esprito (nous) constri, deve ser despojado de toda influncia axioantropolgica, para que alcance sua pureza eidtica.24 A Cincia s conheceu um real progresso quando comeou a trabalhar com conceitos despojados da facticidade vivencial. E quem pode negar que esse trabalho de despojamento,
24
E que tal realizvel, demonstramo-lo em nossos livros, sobretudo em Filosofia Concreta.
89
iniciado por Pitgoras, desenvolvido por Scrates, ampliado por Plato e Aristteles, no foi cuidadosamente elaborado pelos escolsticos? E se o leitor quiser um tema de meditao, que pese bem as nossas palavras: no deve a Cincia moderna escolstica esse esprito, que lhe permitiu penetrar num campo de realizaes grandiosas?25 DAS PROPRIEDADES DO SER A Cincia, devido s suas caractersticas e ao seu campo de ao, cinge-se ao conhecimento das propriedades dos entes, como seu estgio mais elevado. Contudo, em torno do conceito de propriedade, as confuses, que se fizeram, geraram muitas outras, que cooperaram para o aumento do desprestgio da Filosofia, e para o desenvolvimento de confuses de graves conseqncias. Desde Aristteles, considera-se a propriedade um predicado no essencial de uma coisa, porque, se assim fosse, no seria uma propriedade, algo que pertence a uma coisa, mas algo que a prpria coisa. A propriedade algo que do haver de uma coisa. Entretanto, algo que se adita essncia, algo intimamente conjugado com esta ou aquela, de modo que no se pode separar nem a propriedade da essncia, nem a essncia da propriedade. Esta flui de modo necessrio da essncia. Por isso, a definio clssica de propriedade era: predicado no essencial, contudo conveniente, necessariamente a todo seu sujeito, s e sempre. , em suma, o que se predica de muitos como algo que necessariamente flui da essncia destes. Um predicado pertence a todos os entes de uma determinada espcie, somente a eles, e sempre, e temos a propriedade em seu sentido pleno. Contudo, pode pertencer a todos, no somente, pois outras espcies podem tambm t-lo, e sempre. Ser um predicado de grau menor. As combinaes possveis de predicado so: 1) todos no unicamente sempre 2) todos unicamente no sempre 3) a no todos unicamente sempre ou no sempre E, finalmente, o modo pleno da propriedade: 5) a todos unicamente sempre
25
Os escolsticos foram sempre um nmero diminuto de filsofos, e jamais foram os seus grandes representantes obstculos ao desenvolvimento da Cincia. Dentre eles, saram os maiores criadores no campo experimental e no cientfico, e foi o seu esprito filosfico que presidiu o desenvolvimento do conhecimento por caminhos distintos dos da influncia mstica. Ademais, os maiores construtores da cincia moderna foram discpulos dos escolsticos. A luta contra a cincia em formao no Renascimento era promovida pelos peripatticos e no pelos grandes escolsticos. Aqueles eram seguidores incondicionais de Aristteles, que era interpretado diferentemente do modo de faze-lo dos grandes escolsticos.
90
O que essencial propriedade de ser predicada como algo que flui de modo necessrio da essncia. Segundo o exemplo de Aristteles, o ser bpede um predicado de todos os homens, no unicamente, mas sempre. O encanecer predicado de todos os homens unicamente, no sempre. O ser gemetra no se predica de todos os homens, mas, sim, apenas do homem, nem sempre. Como exemplo de propriedade perfeita, temos a unidade predicado ao ser, porque todo ser, porque , uma unidade, e todos os seres, porque so, so unidade, e s o ser pode ser unidade, porque o nada no pode formar uma, e aquele sempre tal, porque ser. Os conceitos transcendentais (chamados assim porque so aplicados a todos os entes), como unidade, verdade, bondade (valor), alguma coisa (liquid), realidade (res) so propriedades de todos os entes, s e sempre. Uma propriedade pode ser metafsica se no se distingue real-realmente da essncia, mas apenas por razo, ser fsica, se real-realmente daquela se distinguir. Como exemplo da primeira, temos os conceitos transcendentais; da segunda, as propriedades da qumica. atributo o que se predica de uma coisa, o que se atribui a uma coisa, e, como tal, pode ser algo predicado acidental ou substancialmente (essencialmente). A propriedade um atributo quando logicamente enunciada, porque logicamente distinta. Alguns filsofos modernos, como certos existencialistas, negam a unidade no ser (no homem, na realidade humana), por ser um composto de ser e de no-ser. Mas esquecem que um ser o que , e no o que no . A unidade refere-se ao que , e o no-ser s pode ser privao de algo real, porque privao de nada nada de privao. O no-ser do ser finito apenas o seu limite especfico, porque toda espcie indica apenas o que ela . A unidade refere-se parte positiva, que, como tal, exclui o que no ela. Conseqentemente, o fato de um ser finito ter algo positivo, e no ter algo positivo, no impede que seja ele uma unidade. DA INDIVIDUALIDADE Diz-se que indivduo, o que in-divisvel, no induum (dois), o que no pode ser dividido em muitos. Verifica-se que uma coisa individua sob um aspecto, no o sob outro. Portanto, o verdadeiro conceito de indivduo o que, sob uma mesma razo, no pode ser dividido em muitos. Diz-se que indivduo o que tomado de modo a ter o carter de indivduo, assim se pode individuar determinadas coisas, quando tomadas sob uma totalidade individuada, cuja ao se chama individuao. O indivduo pode ser a parte rei, objetivamente quando sua indivisibilidade em si mesmo (indiviso in se), e distinto dos outros (et diviso a quolibet alio). Caracterizam, pois, a individuao as seguintes notas:
91
1)
Incomunicabilidade a individuao em sua singularidade, enquanto tal,
incomunicvel a outros: Scrates, enquanto Scrates, Scrates. 2) 3) 4) Indivisibilidade No pode ser dividido em partes, segundo a mesma razo. Distinguibilidade distinto de qualquer outro, e no outro que si mesmo. Irredutibilidade O conceito de indivduo no se reduz ao gnero nem espcie.
Apenas se afirma que o gnero e a espcie nele se do. Contudo ela no se reduz espcie nem ao gnero. Scrates, enquanto Scrates, no se reduz ao gnero animal, nem diferena especfica racional. H ago que transcende ao universal, que uma 5) diferena absoluta26 Chamam-se notas individuantes aquelas que distinguem um indivduo de qualquer outro. Os antigos reduziam-na, quanto ao indivduo humano, nos versos: Forma, figura, lcus, tempus, stirps, ptria, nomem: Haec ea sunt septem, quae non habet unus et alter. O tema do indivduo originou inmeros trabalhos filosficos. Duas so as posies genricas que se podem tomar: 1) que a individuao real a parte rei, objetivamente; 2) que a individuao apenas um ente de razo. Se algum se coloca na primeira posio, ter de buscar qual o fator de individuao extra mentis; se se coloca na segunda, esse fator ser buscado na mente humana. Partindo-se da singularidade, que evidente na nossa experincia, j que a singularidade indubitvel para todos, esta se mostra de modo evidente. Se se nega a singularidade, ter-se- que afirmar que a nica realidade a universal, posio que no tomaria nenhum universalista, nem muito menos nenhum daqueles que negam a realidade da universalidade. Para Aristteles, a realidade composta de singularidades. Essa a posio de todos que partem do empirismo. Essa a posio cientfica moderna, e nenhum filsofo de valor, em qualquer tempo, negou a realidade da singularidade. De qualquer modo, admite-se que, pelo menos, numericamente, os entes se distinguem uns dos outros, pois entes da mesma espcie, e que nos parecem idnticos, seriam distintos numericamente e, tambm, se materiais, distintos quanto s condies cronotpicas. Mas o problema surge quando se quer precisar qual o princpio da individuao. Esse princpio tem de ser intrnseco coisa individuada, deve-lhe pertencer. Deve ser uma razo pela qual a coisa se individue, princpio radical, que seja o seu fundamento, de modo que a coisa seja esse indivduo determinado e singular, que seja predicado de um s e de nenhum outro.
26
Como demonstramos em Ontologia e Cosmologia.
92
O que individualiza Scrates o que podemos apenas predicar-lhe, e de nenhum outro ente humano. Ante tais problemas eis as diversas posies que postulam qual o princpio de individuao: a)Durando afirmou que era a forma substancial. Esta, tambm, foi a posio de Avicena e Averris. b)Para outros, a existncia, o exerccio de ser do ente singular. c)Para os tomistas, provm da matria e da quantidade. H entre os tomistas variaes de relativa importncia. Para o Ferrariense, materiam signatam quantitate (a matria assinalada pela quantidade), posio que, com variaes de menor importncia, aceita por todos os tomistas. d)Para os suarezistas e escotistas, o princpio da individuao a entidade da coisa. No h na coisa algo distinto de si mesma que lhe d a individuao. ela mesma em sua prpria entidade que se individua. Seu prprio ser o princpio de sua prpria individuao. a afirmao de si mesmo que faz que o ente seja indivduo. Esta posio afirmaria que a matria, apenas assinalada pela quantidade, no seria o fator de individuao, mas, sim, esta matria, com esta determinao quantitativa, ou este ser em sua existencialidade, ou este ser possvel, enquanto ele mesmo. O que d a individualidade a prpria afirmao de si mesma. E essa posio, que positiva, corresponde melhor posio concreta, que a nossa, razo pela qual passaremos a demonstrar a sua apoditicidade. O que individualiza, em primeiro lugar, deve ser intrnseco ao ser. E que h de mais intrnseco em um ser que seu prprio ser? Todo ser forma uma unidade, mas o que forma esta unidade o prprio ser do ser.27 Na individuao, a haecceitas (a qualidade de ser haec, isto aqui), que o seu princpio, a heceidade. A afirmao da individuao no nega a realidade da universalidade, porque a individuao do ente, enquanto ele, no implica que no possua notas em comum com outros. Quando nominalistas e existencialistas negam a universalidade, pela afirmao da individualidade, comprovam que apenas confundiram o princpio de singularidade e o de individuao com o fator de universalidade, que a forma.28
27
Na Summa Theologica, I q. 14 1., afirma Toms de Aquino: substantis individuatur per seipsam (a substncia se individua por si mesma). 28 Essa confuso uma das pseudo-glrias de alguns filsofos modernos, as quais apenas evidenciam fraqueza e no pujana.
93
DA DISTINO No se pode falar da distino sem falar da identidade. A mente humana funciona polarmente sempre a tudo quanto d um qualis, a tudo quanto qualifica, separando, nos extremos, o que afirma algo e o que representa ou o estgio mnimo ou at a sua negao. No h definies da identidade por ser um conceito simples e primitivo. Contudo, indica ele o carter de ser idem, de ser si mesmo. Diz-se, assim, que h identidade, onde h permanncia perdurao, insistncia do ser em si mesmo. Afirma a identidade que h convenincia de uma coisa consigo mesma. O conceito de identidade implica o de unidade, pois s pode ser idem o que um. Ento, a identidade seria a perdurao, a permanncia e a insistncia do que um em si mesmo, enquanto tal. Neste sentido, s h identidade em algo, enquanto unidade em relao a si mesmo. Contudo, fala-se na identidade entre duas coisas, que, por sua vez, formam, cada, uma unidade outra que a outra. Ora, o conceito de distino afirma a contraposio da identidade. distinto tudo aquilo em que um no outro. A distino implica a negao, a recusa da identidade entre muitos, pois, para haver distino, mister, pelo menos, dois. Por isso os pitagricos de terceiro grau diziam que identidade um conceito uno, enquanto a distino um conceito dual. S h distino onde h, pelo menos, dois. Trs conceitos so muito usados como sinnimos, embora possuam sentidos vrios: distino, diferena e diversidade. H distino onde d-se simplesmente negao de um de outro; H diferena, quando os distintos nem sequer especificamente se identificam; H diversidade quando os distintos nem genericamente se identificam. Assim entre uma coisa aqui e outra ali h uma distino. H diferena entre um cavalo e um homem, porque especificamente no se identificam, embora genericamente se identifiquem como animais; entre um homem e uma pedra h diversidade, porque pertencem a outros gneros. Neste caso, a diferena e a diversidade so graus da distino. Na identidade, porm, no h graus. Se na primeira h mais ou menos, na segunda ou h ou no h (aut...aut). A identidade indivisvel. E de que modos podem ser as identidades? S se poder dizer que uma identidade real-real, quando se fundar no que in re, independentemente de uma operao mental, quando a identidade se d na coisa realmente. Chamar-se- de identidade de razo ou lgica aquela que apenas se fundamenta na mente; ou melhor, que apenas sabemos que se fundamenta numa operao mental.
94
Ser uma identidade especfica, quando se considera apenas a unidade que permanece em si mesma, e a espcie; genrica, quando o gnero. Tais modos de identidade so lgicos, porque espcie e gnero so entes de razo. Assim o conceito de homem, de cavalo e de pssaro se identificam no conceito de animal, ao qual se reduzem de certo modo (genericamente). Os filsofos falam em identidade adequada e inadequada. A primeira a identidade do todo com o todo; a segunda a convenincia entre o todo e a parte, ou entre parte e parte, sem identificao com o todo. As mesmas classificaes so aplicadas distino. Esta real-real, quando se d independentemente da mente humana; de razo, quando se fundamenta apenas na mente. Ser formal, se a sua base for formal; fsica, se fsica; modal, se entre a coisa e um modo de ser dela, como o movimento de um mvel e o mvel. Entre a causa e o seu efeito necessrio no conhecemos qual a distino real-real que se d, pois sabemos que o efeito, na sua componncia, contm ainda em parte as causas. de certo modo a causa, pois contm ainda suas causas. H conhecimento da distino real-real, quando h separabilidade, quando esta evidente. Quanto distino de razo, costumam os escolsticos, sobretudo os tomistas, dividir em distino de razo raciocinante e distino de razo raciocinada. A de razo raciocinante aquela distino que a mente realiza, e que no corresponde a nenhum fundamento na coisa; a de razo raciocinada a realizada pela mente com fundamento na coisa. Assim os atributos de Deus so distinguidos por distines de razo raciocinante; a entre a espcie e o gnero, de razo raciocinada. A primeira no tem fundamento na coisa, porque Deus um ser simplicssimo, pois no se pode ter outro conceito coerente de Deus; enquanto o gnero e a espcie tm fundamento na coisa.29 Um dos maiores problemas que surgem aqui o da separabilidade dos distintos, o que no matria desta obra. Pode-se, ainda, falar em distino atual e distino virtual; a primeira a que antecede a qualquer operao da mente; a segunda, a que a mente pode captar no que forma a mesma realidade. Os escotistas acrescentam ainda outra distino: a distino formal ex natura rei, a distino entre as formalidades, mas com fundamento real-formal, ou seja: entre as formalidades distintas, h uma realidade formal de sua distino, que outra que a fsica. Neste caso, as distines formais no apresentam separabilidade fsica, mas apenas formal.
29
A validez dos exemplos, porm, matria de discusso na Filosofia.
95
Entre os graus metafsicos, para os defensores da distino formal ex natura rei dos escotistas, h uma distino real formal, enquanto para os que no a aceitam, tal distino no real, mas apenas de razo raciocinada; ou seja, uma distino de razo, com fundamento na coisa. No nos cabe aqui tratar desta matria. O de que desejamos tratar do preconceito primrio de filsofos modernos, que tm uma averso, uma verdadeira alergia distino. E por que? A capacidade de distinguir revela uma acuidade mental acima da comum, pois o homem de mente deficitria costuma confundir (fundir com) o que distinto e outro. que se chama subtileza, e tem ela graus, desde os mais baixos aos mais altos, desde os bem fundados at s subtilezas de quinta-essncia, e que tanto mal fizeram ao filosofar. Quando um filsofo diz que nossos sentidos nos levam ao erro e que, portanto, no podemos confiar neles como fonte do conhecimento, e que o conhecimento humano, fundando-se em bases to frgeis, no tem valor algum, desde logo, quem tem acuidade mental nota os diversos erros que ressaltam, ao se fazerem algumas distines oportunas. Erram sempre os nossos sentidos ou algumas vezes? Se errassem sempre, se fosse da essncia dos nossos sentidos nos darem erros, poderia haver algum fundamento nesta tese, mas se tais iluses se do algumas vezes, no so elas da essncia dos sentidos, mas algo que com eles acontece, acidente. Ora, o que acidental no poderia fundar um juzo de necessidade, um juzo apodtico.30 DA VERDADE Um dos erros mais lamentveis, que cometem os filsofos afastados da linha positiva e concreta, consiste no que se forma em torno do conceito de verdade. No faltam cpticos para argumentarem com os erros comuns dos homens, com a variedade das opinies, com a difcil verificabilidade da adequao entre os esquemas mentais e os fatos, e no so poucos (e alguns famosos) que exclamam: A verdade de alm dos Pirineus no a mesma que a de aqum dos Pirineus, o que verdade aqui falsidade ali, tudo mentira (inclusive a afirmao de que tudo mentira, sem dvida), ou a verdade no existe, ou a verdade oculta-se aos homens, que jamais conseguem ver a beleza da sua face, e outras semelhantes. J vimos que o conceito de verdade dual: exige uma adequao entre dois termos, dos quais um deles, no caso da verdade lgica, o intelecto. Quando se usa, porm, o termo verdade, usa-se em sentido restrito; ou seja, no de adequao intencional entre o intelecto e a coisa, ou entre a coisa e o intelecto. Verdadeiro o que oferece essa adequao. Contudo, a verdade, tomada secundariamente, est nas coisas tambm. H a verdade material, aquela que est na coisa, pois o
30
Isto elementar em Lgica. Contudo, o filsofo transforma o juzo contingente num juzo necessrio, e conclui que, sempre e necessariamente, nossos sentidos levam ao erro.
96
ser verdadeiro, e o verdadeiro com ele se identifica, j que a falsidade uma carncia de adequao.31 Julgava Aristteles que nossa mente capaz de se adequar a toda realidade. Essa posio no foi, contudo, a admitida por todos os filsofos posteriores, pois inclusive os escolsticos afirmam que, por si s, a mente humana no capaz, intelectualmente, de alcanar a todas as verdades. Na filosofia moderna, o racionalismo cartesiano e o intelectualismo levaram mesma posio de Aristteles, enquanto Kant reduzia a verdade s nossas condies subjetivas, subordinadas s prprias leis apriorsticas da nossa mente, de modo que um X desconhecido ultrapassava as possibilidades de nossa mente. Hegel j aceitava a posio intelectualista. Para outros as verdades transcendentais so incognoscveis por ns, enquanto os irracionalistas, voluntaristas, infludos pelo romantismo, negavam a possibilidade humana de verdades intelectuais, mas apenas, quando muito, afetivas, vivenciais, ou, ento, meramente utilitrias, como os pragmatistas. Revivesceram o agnoticismo, o cepticismo e o relativismo neo-protagrico, e muitos estimulados pelo romanticismo, chegaram afirmao das verdades culturais, meramente histricas, como Spengler, ou, infludos pela teoria da luta pela vida dos evolucionistas, a funda-la no infra-humano, como Marx, a torna-la dependente do fato econmico. Alguns preferiram o absurdo verdade, tenderam para o paradoxo meramente esttico, enquanto outros extasiaram-se na contradio, como os existencialistas. Aqui se elaboraram tremendos erros. Em referncia ao ser, a verdade uma propriedade. E o por uma razo muito simples: o que de todos, s e sempre, ou a algo convm, uma propriedade. Ora, o que , adequa-se a si mesmo e em si verdadeiro, como j demonstramos. O verdadeiro e o ser se identificam. Portanto, o verdadeiro uma propriedade de todo ser. Ademais, todo ser adequado a uma mente, pois j demonstramos que todo ser, por ser inteligvel, deve ser entendido. S o ser inteligvel, j que o nada absoluto ininteligvel. E sempre, porque enquanto o ser , ele , portanto, perdurando no ser, sendo, afirma-se como verdadeiro. Para aqueles que transformam o absurdo numa categoria (a absurdidade) e at na suprema, como o faz Sartre, essa doutrina positiva e concreta rejeitada. Mas rejeitada, como? Por demonstraes? No, de modo algum, mas por argumentos carentes de base. O argumento fundamental que o ente finito, que o homem, composto de ser e de no-ser; que caracteriza o ser no a unidade, mas a no-unidade, devido contradio intrnseca do ser, que composto de ser e de no-ser; a bondade no uma propriedade do ente, porque, por ser contraditrio, amoral (diz ele), e assim como a beleza o corao do ser na Esttica, a absurdidade o corao do ser na Ontologia.
31
Como demonstramos na Filosofia Concreta, o nada absoluto absolutamente falso. Conseqentemente, o ser sempre verdadeiro, embora possam no ser verdadeiras as afirmativas de nossa mente, por no se adequarem com a
97
J mostramos em que consiste o ser e o no-ser do ente. O no-ser no consiste na privao do que , mas na privao do que no . O que falta a um ente determinado o que no pertence, quer especificamente quer genericamente. Uma cadeira no contraditria porque no uma mesa, nem uma mesa contradio da cadeira. Na contradio, h a relao de posse e de privao, e consiste, portanto, em afirmar, simultaneamente, a posse do mesmo e a privao do mesmo. Um ser, que o que , e no o que no , afirma a posse do que , e a privao do que no , mas o que no o mesmo, simultaneamente e sob o mesmo aspecto, o que no . Essa compreenso elementar faltou a tais escritores que, depois, afirmam que tudo contraditrio, tudo absurdo, porque se alguma coisa o que , no o que no . Finalmente, basta-nos rejeitar um ltimo argumento. Consiste que muitas coisas so falsas; ora, o que falso no verdadeiro; logo, muitas coisas no so verdadeiras. So falsas em si? Absolutamente no; mas enquanto so erradamente inteligidas. Portanto, muitas coisas so falsas por acidente, relao a outros, no enquanto em si mesmas. O uso da Lgica evitaria erros como estes. DO BEM inegvel que todo ser forma uma unidade, pois um ente sem unidade seria nada. E a unidade afirmao de si mesma, pois o ser, porque , afirma-se. Tende por pedir a si mesmo. O verbo latino formado de ad e petere, pedir para, dirigir-se para appetere, que deu o nosso apetecer, em sentido mais freqentativo. Com esse verbo, pretendia-se dizer o que, para o qual alguma coisa tende, por corresponder, de certo modo, sua convenincia. Assim as razes da rvore tendem para a unidade, para a gua, que conveniente sua natureza, como todas as coisas apetecem o que lhes conveniente, o que, na linguagem comum, se diz que lhes bom (o que um bem), que, por ser conveniente sua natureza, lhes aumenta o que h de conveniente em si mesmo e, por isso, so boas. No se ter compreendido nessa simplicidade de explanao e de contedo conceitual o que bom, o que bem, permitiu que muitos filsofos construssem em torno destes termos inmeras teorias e doutrinassem idias destrutivas, que s serviram para aumentar ainda mais a decepo humana, agravar as suas mgoas, e apressar a queda no niilismo e no desesperismo dos mais fracos. Na Economia, chama-se bem a tudo quanto pode satisfazer uma necessidade, tomado aqui este termo no sentido da carncia, que mister preencher, no desejo que preciso aplacar, na ausncia dos meios indispensveis conservao do indivduo. Bem econmico especificamente aquele bem que produzido pela ao inteligente (trabalho) do homem. Assim o ar um bem, no
coisa.
98
, porm, econmico, porque no produzido pelo homem, que dele normalmente se serve, de modo ilimitado, j que um bem ilimitado. Todo ser apetece, pois, a si mesmo, o que evidenciado pela unidade, que ainda afirma uma tenso de si mesma, que unifica e fortalece a si mesma. Desse modo, como todo ser unidade e toda unidade ser, todo ser um bem (pelo menos para si mesmo). Conseqentemente, era uma decorrncia rigorosa dos escolsticos afirmarem que bonum et ens convertuntur, que bem (bom) e ente se convertem, e metafisicamente, como conceitos transcendentais, de certo modo se univocam. Por outro lado, uma unidade, um ser pode ser apetecido por outro, por lhe convir sua natureza dinamicamente considerada e, portanto, ser um bem para outro. Nos seres inteligentes, pode dar-se a conscincia (saber com saber) do bem apetecido. E o homem, como ser inteligente, tem conscincia do que lhe seria bom, que sempre a completude do que lhe falta, a obteno do que carece, a incorporao do que mister sua conservao, a posse do que lhe aumentaria o tnus vital e o tnus intelectual e afetivo, etc. O homem tem conscincia do bem, e nada lhe seria melhor que a imerso ou a posse do Ser Supremo, que lhe aplacaria todos os desejos. Como no possvel admitir-se que o mais venha do menos, pois, ento, o nada seria criador do ser, o que absurdo, todas as perfeies, que so naturalmente presena e no ausncia de ser, devem estar contidas, desde todo sempre, no ser, que o princpio de todos os outros, chamem-no matria, energia eterna, esprito ou outro nome qualquer. O que importa que tal ser possuidor de todas as perfeies atualizadas ontem, atualizadas hoje e atualizveis para o futuro. Todas elas esto contidas no poder daquele ser, na sua onipotncia, porque ele pode tudo quanto pode ser, e tudo, perfectivamente, todas as perfeies j atualizadas e as atualizveis, porque, nele, ser, ter, haver e poder se identificam. Conseqentemente, ele o bem supremo, porque daria a soluo a todas as nossas carncias e , neste sentido, que as religies superiores o concebem. Por isso que o chamam de bem supremo. bem tudo quanto apetecido enquanto se apetece, ou apetecido. Como todo ser apetecido, ele bom, Bom de todos os seres, s dos seres, porque o nada, enquanto nada, no pode ser objeto de apetncia, porque nada; e sempre, por que sempre o ente apetece algum bem. Conseqentemente, o bom uma propriedade transcendental do ser, pois contm tudo quanto se requer necessariamente numa propriedade. Algum poder dizer, e muitos o dizem, que um ser pode desejar a sua destruio, e, portanto, a negao do seu bem, o que evidenciado nossa experincia de muitas maneiras. Negar tais fatos seria estulticie. No demonstram que no h apetncia ao bem, porque julgado a sua destruio um bem, que o ente pode deseja-la. E quem quisesse o mal pelo mal, j que sendo o contrrio do bem, a privao deste? Ora, o mal enquanto mal, apenas relativo. O bem, contudo, pode ser
99
absoluto, como o bem do Ser Supremo, como princpio de todas as coisas. O mal, sendo carncia de bem, carncia de ser, e relativo ao ser carecido. Um mal absoluto seria uma carncia absoluta, seria nada absoluto. Como o nada absoluto impossvel, porque h o ser, o mal absoluto absurdo, porque afirmaria o nada absoluto, que absurdo, Portanto, sempre relativo. Ora, o mal o que contraria, perturba, o que obstaculiza, o que destri o bem apetecido de uma coisa. Desejar a carncia pela carncia, seria desejar o mal pelo mal; desejar a carncia, porque ela carece, seria desejar, ento, nada, nada desejar. Mas, como o nada absoluto impossvel, esse desejar ser o desejar a ausncia de alguma coisa, que indesejada. Portanto, desejar o mal pelo mal, como o afirmam os satanistas, a mesma coisa que desejar a destruio como libertao de uma existncia dolorosa, considerada insuportvel. V-se, facilmente, que bem no somente o que captado pela cognio de um ser, nem muito menos o de que se tem conscincia. bem o que conveniente natureza da coisa considerada dinamicamente. Desse modo, os entes, que carecem de cognio, tambm apetecem bens, embora sua apetncia no seja cognoscitiva. Apetecem naturalmente, movem-se para eles, ordenam-se a eles. Apetite , portanto, ou natural, ou elcito, ou seja, produto de uma deliberao, ou de um mpeto consciente. Bem , pois, o perfectivo que conveniente natureza de alguma coisa dinamicamente considerada. A ausncia considerada boa, quando impede a perturbao da convenincia da natureza de tal coisa. A ausncia, considerada como tal, no um bem, este vai consistir na ausncia de alguma coisa que perturba um bem, que sempre perfectivo. O bem , portanto, ser, e no, no-ser. Conseqentemente, o bem verdadeiro, porque, como vimos, ser e verdadeiro se convertem. Um bem ser absoluto, se em si ou segundo a si mesmo , por si mesmo, conveniente. Ser relativo quando conveniente para outro e no para todos. O Ser Supremo um bem absoluto em si e para outros, enquanto este ou aquele bem so relativos, em relao aos outros. Os antigos classificavam os bens em: bem honesto, aquele que aperfeioa uma natureza e conveniente a ela, o que h per se convenincia com a natureza racional. Bem deleitvel, o que oferece algum deleite, o que aquieta o apetite; bem til, o que no o de per si, mas em razo de outro (honesto ou deleitvel), por meio do qual aquele obtido. Se se prestar bem a ateno, verifica-se que em torno do bem que giram muitas idias, no s no campo da Filosofia, como no da Economia e, sobretudo, no da Poltica. Nja maneira de se conceber o bem que se revela o otimismo ou o pessimismo, o desesperismo, o niilismo negro, etc. Vejamos primeiramente como ele foi concebido pelos filsofos:
100
1)Para Plato, o Bem a suprema afirmao, e a suprema afirmao o Bem, o supremo apetecvel, do qual todas as outras coisas participam e so boas na proporo dessa participao. Em outros termos, Plato, afirmando que o Bem a suprema afirmao e a suprema afirmao o Bem, afirma que o Bem o Ser Supremo e o Ser Supremo o Bem. Quem no compreende assim, que nada compreendeu de Plato. Como todo ser finito ser deficiente, e proficiente na proporo que , e deficiente na proporo do bem que lhe falta, seu ser participa do Ser, e bom na proporo dessa participao, porque ser e bem se convertem, 2)Aristteles, que sempre quis considerar Plato do ngulo idealstico, colocou a bondade na imanncia das coisas e no na transcendncia. Na verdade, julgou dizer outra coisa do que afirmava Plato, mas apenas disse o que j estava parcialmente incluso no pensamento, porque o grande discpulo de Scrates no negava o bem imanente, por afirmar o bem transcendente, 3)Os neo-platnicos, como Plotino, Santo Agostinho, Pseudo-Dionsio, Proclo, Bocio e outros deram apenas um novo colorido ao que realmente afirmava Plato, sem contradize-lo nem retific-lo. 4)A concepo de Toms de Aquino tambm platnica, embora muitos no a aceitem, pois afirma a bondade de ser na proporo da participao de ser. 5)No filosofar moderno, de carter negativista e abstratista, que surge o pessimismo, que j se evidenciara entre os gregos menores. Um dos maiores representantes do pessimismo moderno Schopenhauer. Para ele, a vida um contnuo desejo, cujo termo inacessvel. O mundo vontade, e a realidade de todos os entes querer-viver. A nica soluo humana, j que impossvel a satisfao de todos os desejos, a mortificao de todo o desejo. Hartmann, seu discpulo, chegou a afirmar que tudo tende para um suicdio coletivo. Spengler pregou o pessimismo cultural, afirmando a inevitabilidade da decadncia de toda sociedade humana superior (ciclos culturais). Nietzsche pregou uma atitude herica ante o pessimismo que o mundo oferece. Jaspers afirmou que marchamos para uma catstrofe, Heidegger, que o homem tende para a morte, que da sua essncia, e Sartre afirmou que toda existncia tediosa e nauseabunda. Para os existencialistas, o homem um desesperado, tende para o nada, condenado morte inevitvel. Para os pessimistas, todo ente um obstculo aos outros, portanto um mal. O existir finito um mal inevitvel e irrecupervel. Mas, na verdade, um mal relativo e no absoluto. O erro dos pessimistas tornar o mal, que relativo, em absoluto. O que fundamental no pessimismo a afirmao de que o bem absoluto inatingvel pelo homem, enquanto ser finito. At a ningum discorda deles. Mas se admitem que seria melhor e at timo se pudesse o ser humano alcanar o bem absoluto, afirmam, indiretamente, que a suprema
101
felicidade do homem, a sua quietao final, sua tranqilidade suprema, estaria na posse desse bem. No podem negar que o homem sabe que esse bem supremo seria a sua soluo. Afirmam, porm, que inatingvel. Mas aceitando o primeiro postulado, e comparando-o com o segundo, concluir-seia que o homem seria justificado se o bem absoluto lhe fosse atingvel, atualizvel. o que decorre da prpria concepo pessimista. Mas o defensor de tais idias afirma que no o . Precisamente, so as religies que afirmam em contrrio. Contudo, o homem sabe (e o sabe o pessimista tambm), que apetece ao que lhe daria uma plena satisfao, e o que lhe daria a plena satisfao ser, e no nada absoluto. Nem o nirvana ldico era uma busca do nada, pois Buda profligou aqueles que afirmavam que era ele um pessimista e que baixamente lhe atribuam um desejo de nada absoluto. O nirvana era o aniquilamento do que impede a plenitude da felicidade. O que impede o limite, a determinao, a fronteira fecha, o muro da vergonha, a cortina de ferro do ser. Sabendo o homem o que lhe daria a felicidade, ele ter que admitir que a felicidade inteligvel. Ora, todo ser inteligvel, e o inteligvel ser. Se a felicidade inteligvel ser, embora no atual para ns, mas potencial. Afirmar os postulados pessimistas como necessrios, seria afirmar uma absurdidade, porque seria afirmar o nada absoluto, negar totalmente o ser, negar o bem, mesmo relativo. O mal no essencial ao mundo, mas acidental. Surge de uma relao, e no em si, porque o mal no em si, pois carncia. O homem pode melhorar o mundo e a si mesmo. Ademais, verifica-se que uns so mais tristes que outros, mais infelizes que outros, enquanto outros mais alegres, mais afortunados. Ora, o que escalar no da essncia, porque a essncia no escalar. O que escalar s pode ser acidental. Portanto, o mal acidental, e o que acidental no absolutamente necessrio. O pessimismo , portanto, uma tendncia com razes e causas psicolgicas. Como posio filosfica, uma maneira deficiente de pensar. No se pode negar ao homem a esperana, e esta a virtude que consiste em confiar em valores superiores. Tambm no se justifica um otimismo cndido, mas a compreenso da realidade da nossa existncia. Se o homem sabe que h algo que lhe poderia dar a felicidade desejada, essa esperana, essa confiana nos valores superiores, tem uma raiz real e no um sonho. E sobre essa esperana que ele dever meditar. Crtica: aqueles que dizem que o bem apenas subjetivo, respondemos-lhes que confundem bem relativo com bem absoluto. DO FINITO E DO INFINITO Qual a inteno da mente ao pronunciar o termo finito? O que finitizado, o que tem um fim, como termo de si mesmo, o que limitado.
102
Ora, o termo limitado, do latim limes, significa trmino, e primariamente, significa limite quantitativo, trmino de uma quantidade. Secundariamente, significa carncia de ulterior perfeio num ser. Mas essa perfeio ulterior ou devida natureza do ser ou no. Se , se essa perfeio lhe pertence, da sua natureza t-la atual ou potencialmente, e um ser finito, limitado. Mas se no , se no lhe pertence, no se pode chamar por isso limitado, porque um ser poderia ser ilimitadamente a sua natureza. O que no pertence natureza, se falta, no uma negao daquele, nem propriamente uma privao. O que limita a cadeira no no ter vida. Tal explanao clara e evidente, e a intencionalidade de nossa mente, quando dirigida cuidadosamente, e com o rigor lgico e ontolgico, que se tem de exigir, no concluiria de outro modo. Contudo, h filsofos, que fazem tais concluses, criando uma pseudo problemtica, que surge da confuso e no do esclarecimento. comum confundir-se limite com determinao. O limite indica at onde o ser o que , e no o que no , distinto dos outros. Ele afirma apenas o que positivo no ser. Neste sentido, pode-se empregar o termo limite tanto pra o ser finito como infinito. Determinar e dar a preciso especfica a alguma coisa, indicar-lhe ou estabelecer-lhe o quid, sua quididade. Determinao a ao que lhe segue. Em suma, finitude indica o ter limite, nega a um ser uma outra qualquer perfeio, quer existente, quer possvel. O ser finito o que carece de ulterior perfeio, aquele ser que, em sua linha, podemos pensar que poderia ser maior. Tal conceito da prpria experincia pois as coisas do nosso mundo nos mostram tal finitude. Notamo-la materialmente e formalmente. Contudo, nem todos os filsofos julgam assim. Descartes afirmava que alcanvamos a idia de finito e de infinito pela interna cognio de Deus. Os ontologistas afirmavam que alcanvamos a idia de finitude pela idia de infinitude, ao pensarmos nas coisas fora de Deus. A primeira inteno da mente ao falar em infinito indicar o que no tem fim ou limite. Formado da partcula negativa in, etimologicamente, este o sentido que tem: o que carece de limite, de fim. Podia-se, pensando que infinito apenas isso, falar-se nele em sentido privativo, como uma quantidade infinita, ou como o informe, o que no tem forma nem figura. Ora, esse conceito primarssimo de infinito no o que a Filosofia positiva considera. Infinito no o negativo, mas o positivo, conceito que contm uma perfeio inexaurvel, perfeita, o que contm toda perfeio de ser em toda latitude, que carece de qualquer limite, o omniperfeito, o infinito simplesmente compreendido em toda a sua pureza. Fala-se, ainda, num infinito considerado apenas em sua linha, e que, nessa linha, carece de limites: o infinito, segundo a qididade, o infinitum secundum quid dos medievalistas, enquanto o primeiro o infinitum simpliciter.
103
O infinito, segundo a qididade, pode ser atual ou potencial. Atual seria o que h em ato, como uma quantidade sem fim, em ato; potencial, o que pode ser aumentado ilimitadamente, como a quantidade, a srie numrica. O primeiro era chamado pelos antigos de infinitum secundum quid categorematicum, e o segundo de infinitum secundum quis sincategorematicum.32 Tambm se distinguem a infinidade extensiva e a infinidade intensiva. A primeira indica a posse perfeita de todas as perfeies possveis em toda a linha do ser; a segunda, o sumo grau de perfeio nas perfeies possudas. comum confundir-se infinito com perfeito. Diz-se que perfeito o ser ao qual nada falta que lhe devera caber. Assim Scrates, enquanto homem, perfeito, no, porm, infinito. Outros confundem com totalidade. Ora, a totalidade, ou melhor, o todo, o ao qual nenhuma parte est fora, mas o infinito implica o que sempre est alm de, o que est fora de... Outro conceito confundido o de indeterminado, que implica a negao de algum limite, mas indica a mxima potencialidade para recebe-lo, enquanto o infinito o ser maximamente determinado e exclui toda potencialidade. Entre indefinido e infinito costume tambm fazerem-se confuses: indefinida a potncia que pode alcanar ou transitar para o ato, enquanto o infinito implica plena atualidade. Estabelecem-se, assim, as propriedades do infinito: 1)No o resultado de adies finitas. 2)A diferena entre infinito e finito no pode, portanto, ser um finito, porque no h nenhuma proporo entre um e outro. 3)o infinito no pode ser aumentado nem diminudo, por que seria potencial e no atual, e o infinito tem de ser necessariamente atual. 4)O infinito indivisvel, porque se fosse divisvel, s-lo-ia em partes em nmero quantitativo infinito e o nmero quantitativo s potencialmente infinito, e no atualmente infinito. Os nmeros infinitos, de que falam alguns matemticos moderno, no so quantitativos, mas valores. 5)Outras propriedades do infinito e do finito, distintas entre si, so: Infinito Tende (fim) para si mesmo. Seu fim intrnseco. Enquanto absolutamente simples, no tem um incio, nem princpio. Enquanto tomado segundo a qididade, tem uma razo ontolgica em outro, ou no. Finito Tende (fim) alm de para si mesmo, para fora de si mesmo tambm tem um fim extrnseco.
32
Assim a quantidade infinita em ato, o infinito segundo a qididade em ato, implicaria uma quantidade em ato sem fim (em Filosofia Concreta demonstramos ser absurdo). A quantidade infinita em potncia, como a da numerao, admissvel, pois esta potencialmente infinita, no atualmente infinita, porque ao ltimo nmero poder-se-ia ainda acrescentar mais uma unidade.
104
sempre relativo, e tem incio e princpio em outro. Sua razo ontolgica sempre em outro. No tem razo suficiente de si mesmo em si mesmo.
Estas ltimas caractersticas decorrem do que j vimos e das anlises que faremos. Uma formalidade infinitamente ela mesma, como a humanitas infinitamente humanitas, um infinito segundo a qididade. No se discute por ora saber se h ou no a humanitas, mas h, pelo menos, enquanto formalidade, com fundamento in re. A humanitas algo que h como esquema mental como universal, que tem seu fundamento in re, no nos homens enquanto tais, enquanto existentes, mas nos homens enquanto possibilidade de ser que se atualizou. Se jamais houvesse homens, a humanitas seria uma formalidade na ordem do ser. E poderiam, dadas certas condies e causas, existencializarem-se seres que participariam dessa formalidade: o homem. Os universais no so meras palavras, meras vozes, nem meros conceitos. J mostramos e demonstramos a validez do realismo moderado. H o eidos (a forma) do que possvel, que pertence ordem do ser, porque o possvel, de certo modo, no ser; h o esquema mental, que um esquema eidtico-notico, no homem; e h o logos, a lei de proporcionalidade intrnseca, na coisa, que uma participao pela coisa do eidos da ordem do ser, intencionalmente referido pelo nosso esquema mental (eidtico-notico). O infinito simpliciter, tomado simplesmente, plenitude absoluta de ser. No se deve confundir absoluto com infinito. Absoluto o que solto de qualquer outro (ab-solutum), o que tem em si mesmo sua razo suficiente de ser, e que no precisa de outro para ser. O ser infinito simplesmente absoluto e, neste sentido, absoluto e tomado como infinito. Contudo, o infinito, tomado segundo a qididade, no absoluto, porque a sua razo suficiente est no ser e no apenas em si mesmo, pois no de per si subsistente.33 Um dos maiores erros filosficos tem consistido na aceitao do ser infinito quantitativo, da magnitude em ato, cuja absurdidade j se demonstrou, pois a quantidade implica partes extra partes, partes aps partes, e num ser de magnitude infinita em ato suas partes seriam infinitas e tomado de um ponto, de cada latitude, seria infinito, o que, tomado integralmente, seria maior que o infinito, o que seria absurdo. Se pensarmos numa esfera infinita, em ato, o raio seria infinito, mas o dimetro, que tambm seria infinito, seria maior que o raio, e, ento, haveria um infinito maior que outro, o que seria absurdo. De modo algum, e por muitas outras razes, no h uma magnitude infinita em ato, embora possamos conceb-la em potncia, porque, no limite da magnitude, podemos pensar num mais adiante.
33
Na verdade, um ser infinito simplesmente s pode ser um e no muitos, como se demonstrou em Filosofia Concreta, j que se fossem muitos, um teria o que o outro no teria, e sendo ambos apenas ser, seriam, afinal, o mesmo, idnticos.
105
Aqueles que imaginam o ser como quantitativo em ato e infinito cometem um dos erros mais elementares, tanto lgica como ontologicamente. Contudo, cometeram vrios filsofos esse erro. Alguns, por exemplo, imaginam o espao como infinito em magnitude, e como um atributo infinito no pode ser predicado de um sujeito finito, como a quantidade, pois o predicado no pode ter mais realidade que o sujeito, terminam por considera-lo como um atributo do Ser Supremo, como o fazem alguns filsofos orientais e tambm ocidentais. Ta surge pela impossibilidade, que encontram, em conceber o espao como limitado, pois tal limite implicaria um espao, no qual estaria o espao. Mas aqui nos encontramos ante uma dificuldade cosmolgica, onde tambm surgiram espantosos erros, que perturbaram muitas teorias e hipteses da Fsica e das Cincias Naturais. Como no se pode admitir o infinito quantitativo em ato, e como alguns no podem conceber outro, seno de tal espcie, muitos filsofos menores preferem negar qualquer validez ao conceito de infinito no tocante sua objetividade. O infinito no h, dizem, por ser contraditrio. Se apenas se tratasse do infinito quantitativo em ato tais argumentos estariam certos. Mas j vimos o que se entende por infinito, e o que expressamos no contm contradio, como contm aquele outro. A prova e a demonstrao da realidade do infinito simpliciter fizemo-lo em Filosofia Concreta, e de modo apodtico, que desafia refutao. Mas se meditar que no h meio termo entre ser e nada, o ser como fonte e origem de tudo o que , tem de ser a fonte e origem de todo poder e de toda perfeio e, como tal, tem de ser infinito simpliciter, simplesmente ser, e nada mais que ser, nem nada menos que ser; tem de ser simplesmente ser. Como tal, infinitamente ser, sem mescla de qualquer espcie, sem deficincia de qualquer espcie, porque o que lhe faltaria seria nada, e faltando nada, nada falta. Conseqentemente, h um Ser Supremo, ser infinito simplesmente. A nica oposio aparentemente sria contra essa afirmativa s poderia ser feita pelo atomismo. No pelo atomismo como o entende a cincia moderna, mas pelo atomismo adinmico dos gregos (Demcrito), e que tem seus seguidores no ocidente, a ainda os h hoje, embora sem a menor significao filosfica.34 DA SUBSTNCIA35 O termo substncia vem do latim substantia (de sub e stare, estar sob, o que sub-est). No grego corresponde a hipokeimenon, de hipo, sob, e keimenon, o que est sob, o que se deita, jaz, portanto com o mesmo sentido do latim. Ele foi tomado em vrios sentidos:
34
Em Filosofia Concreta, refutamos devidamente o atomismo adinmico, que obrigado a lanar mo das maiores absurdidades para explicar a sua concepo. Como matria cosmolgica, deixaremos para tratar com mais pormenores em outros trabalhos. 35 Tema de Ontologia que examinado em Ontologia e Cosmologia.
106
1)como essncia das coisas; 2)como o que no acidental, como substncia transcendental; 3)como a entidade no acidental das coisas; 4)como o que incomunicvel nas coisas; 5)como o composto das causas emergentes (intrnsecas) da coisa: forma e matria, na linguagem aristotlica; 6)como o que perdura durante as modificaes acidentais. O termo substncia, em seu sentido etimolgico, no s decorre do substare, mas tambm de subsistere. Tomando o sistere, e dele sistentia, sistncia, no sentido do que se afirma, se d, pela prefixao, temos sub-sistncia, ex-sistncia, ad-sistncia (assistncia), per-sistncia, in-sistncia, re-sistncia, etc. Neste caso, substncia a sistncia que jaz sob os acidentes, portanto algo que no fenomnico, porque s o acidental o , ou melhor o fenomnico pe apenas o acidental, tomado no sentido, na amplitude e funo que se realiza no homem: para este, o fenomnico o que sensvel, o que seus sentidos captam, mas tambm o que est apto a ser verificado por seus efeitos, enquanto , em sua origem, algo acidental, algo que acontece. Considerando-se assim, a substncia o que perdura, sendo si mesmo, o que tem constncia (no tempo, por exemplo) sem ser fenomnica imediatamente, mas que se pode verificar como algo que se d separado no espao e no tempo de outros seres, como portador de acidentes. Compreende-se desde logo que o conceito de substncia implica: 1)certa independncia em relao a outros entes; 2)algo que em si e por si (ensidade e perseidade); 3)algo que distinto do que sucede em algo e por algo; 4)algo que portado de acidentes, ao qual acontecem algumas coisas fenomnicas ou no. Assim se tem concebido em linhas gerais a substncia, o que permite, ento, tentar-se uma definio de carter filosfico: A substncia algo, cuja qididade consiste em no ser em outro (aspecto negativo) ser por si estante, sistente per se e at existente per se (aspecto posititvo). Ou seja o que por si e no em outro. preciso desde logo clarear as expresses: em si e no-em-outro. Em si quer dizer o que no por acidente, o que no acontece em outro. No-por-outro o ser por si, que pode identificar-se a si mesmo (consigo mesmo), e que se ope ao ser-em-outro. A substncia tem uma unidade de essncia, e no um ente de outro, mas de si, e considerando-se como acima fizemos, o aspecto negativo e o positivo se coordenam, de modo que o negativo decorre necessariamente do aspecto positivo, o que d a positividade desejada. Quando se
107
diz que no outro, diz-se que um subjecto em si, e no apenas uma nota ou aspecto acidental de outro ser. A substncia o sujeito da sustentao dos acidentes, que dela dependem, o sujeito de inheso, o que recebe uma forma. a substancia razo suficiente do ser. Para muitos escolsticos no da essncia da substncia ser portadora de acidentes, pois o ser infinito (Deus) uma substncia sem acidentes, uma substncia plenssima e perfeitssima. Em Filosofia Concreta mostramos a inconvenincia de considerar assim, pois o ser infinito no uma substncia no sentido que intencionalmente se d a esse termo, cujo conceito implica sempre o de ser portador de acidentes, j que a discusso em torno da separabilidade real de substncia e acidente tema ontolgico, que no nos caberia tratar aqui, por no ser propriamente fonte de erros prejudiciais ao pensamento humano. Mais adiante trataremos deste aspecto, depois de havermos examinado as diversas sentenas que os filsofos de maior notoriedade lanaram sobre esta matria. Para Descartes, como substncia s se pode entender a coisa que existe, que no precisa de nenhuma outra para existir. E a substncia nica, nessas condies, Deus. Na verdade, s Deus propriamente uma substncia, enquanto as outras, dos seres finitos, so apenas anlogas quela, e nunca unvoca quela. Spinoza diz: entendo por substncia o que em si e por si concebido; ou seja, o cujo conceito no necessita do conceito de outra coisa para ser formado. A substncia no formada por outro ser, pois este seria a substncia. Conseqentemente, a substncia, verdadeiramente, no se distingue uma de outra, o que leva a afirmar que a substncia necessariamente infinita, o que o lanou decisivamente no pantesmo. Segundo Leibnitz o ser capaz de ao, a matria capaz de agir e de resistir. Rosmini afirma que energia pela qual os entes existem em ato. Para Wolf o ser perdurvel e modificvel, sujeito das determinaes intrnsecas, constante e at varivel. o que contm em si o princpio das mutaes. Para os escolstico, h uma substncia transcendental, que a entidade que transcende a todos os predicamentos, a entidade no acidental, que suficiente e existe per se. S nesse sentido se pode dizer que Deus substncia. Mas deve-se acrescentar o atributo de incriada, para distinguila da substncia criada. Por sua vez, dividem a substncia criada em completa e incompleta. A primeira a que concebido como substncia ntegra, enquanto a segunda concebida como composta. Aristteles subdivide a substncia em primeira (que a matria) e segunda (que a forma), cuja composio constitui o synolon, a unidade substancial. A substncia o que se diz de qualquer subjecto, ou dele se predica, no estando, contudo, num subjecto. Para os escolsticos, as propriedades da substncia so as seguintes:
108
1)No est num subjecto de inheso, nem de informao, nem de sustentao; um ser completo de ordem substancial; enquanto completo, no pode ser parte de outra substncia; enquanto substancial, no pode ser subjecto de inheso. 2)Predica-se univocamente de seus inferiores. 3)Significa algo aqui. 4)No tem contrrio. 5)No sujeito a mais ou menos, o que da prpria razo formal da substncia. 6)Pode receber em si os contrrios, mas sucessivamente. Problemtica Dois problemas fundamentais surgem em torno deste tema: 1)Se h substncia? a pergunta na sit? (se ) 2)Em que consiste? a pergunta quid sit? (O que ) Nenhum filsofo pode negar a realidade do que acidental, porque so fenmenos, ou seja, so captveis pela nossa sensibilidade, tm uma base emprica. Contudo, a substncia algo metaemprico, acima da empria comum. Ante essa problemtica, as principais respostas foram as seguintes, que passamos a sintetizar, para depois analisar e discutir. Entre os que afirmaram a realidade da substncia, alm dos que examinamos, como Aristteles, os escolsticos, os racionalistas, como Descartes, Spinoza, Leibnitz, embora falseando o seu sentido, vejamos a posio dos que negam a sua no existncia (os negativistas). Os empiristas e sensistas negam a existncia da substncia, por no ser ela objeto de empria, e no ser captada pelos sentidos, j que a fonte do conhecimento (posio de Locke) so os sentidos, e estes no nos do o conhecimento da substncia. O que se entende por substncia a representao da unidade das diversas percepes, realizada pela atividade intelectual, que unifica as percepes simples, e lhe impe, depois, o nome de substncia. Em suma: a substncia o resultado de uma operao mental, que consiste em dar a representao da unidade das percepes. Nossa mente no pode admitir que certos aspectos e propriedades existam sem um ser subsistente que os conserve. Assim, conceitos como fora, energia pertencem noo de substncia. Berkeley tambm nega a existncia da substncia das coisas, pois a nica realidade destas, consiste em serem percebidas (esse est percipi). S a alma e Deus constituem, para ele, seres reais. Os acidentes no tm um substractum. O empirista Hume afirma que a substncia no captada nem pela experincia interna nem pela externa, mas a idia da substncia nada mais que a coleo das idias simples que, pelo influxo da imaginao, foram unidas... Em suma, a substncia algo desconhecido, que julgamos existir.
109
Kant, infludo por Hume, reduziu a substncia a uma categoria a priori, conceito no emprico, mas condicionado pela experincia, cujo valor objetivo desconhecido ao homem. Na verdade, diz ele, o que se entende por substncia a permanncia no tempo. Fichte nega simplesmente a substncia, salvo a do ego fichtiano. No h substncia permanente, sustentadora de acidentes. Os positivistas negam a substncia para afirma-la apenas como um conceito til. Alguns cientistas negam-na, j que toda natureza fsico-qumica est em constante mutao, como nos mostram os conhecimentos da atomstica. No se poderia discutir o em que consiste a substncia, sem que primeiramente se analise os fundamentos da sua existncia. A questo na sit (se existe) deve preceder a quid sit (em que consiste, o que ). Os que defendem a objetividade da substncia argumentam do seguinte modo: Realmente, existe um mundo exterior ao homem. Ademais, nas coisas existe alguma coisa realmente objetiva. A primeira premissa foi demonstrada quando a refutao do idealismo. A segunda premissa recebe a seguinte demonstrao: H coisas realmente existentes. Ou elas existem em si mesmas, ou existem em outras. Se existem si: eis a substncia delas. Se existem em outras, estas existem em si ou em outras, e se interrogarmos mais, h de haver uma que exista em si, j que o processo in infinitum repugna. E repugna por que? Pela seguinte razo: o subseqente subordinado ao precedente. Se este faltar, falta o segundo. Ora, numa srie, se o antecedente a razo do conseqente, e se, por sua vez, tem sua razo noutro antecedente, se nenhum da srie tem a razo, como a tem a srie? Se faltar o primeiro que d a razo srie, toda srie deixa de ter razo de ser. E se no fosse assim, ento, toda a srie teria uma substncia, seria a sua substncia, a sua razo de ser, seria per se. Por tais razes impossvel aceitar a tese negativa. Por outro lado, afirmam que no temos experincia interna da substncia. Mas nosso eu, como o sentimos, o concebemos? Como nada ou como alguma coisa? Qual o argumento que pode negar a experincia interno do eu, da nossa pessoa? A experincia externa junto com o raciocnio tambm nos demonstra a objetividade da substncia. Percebemos os acidentes, o que acontece a alguma coisa, como algo que pode ou no acontecer, como sujeito de inheso de tais aspectos.E por que surgem tantos erros em torno desta? Por vrias razes: no mundo cronotpico, h coisas que devm, que esto em constante mutao. Contudo, tambm conhecemos coisas que no sofrem mutaes, como a multiplicao de 7 por 4, que d, deu e dar sempre, e de todo sempre, 28. Mas ningum dir que 7 ou 4 e 28 so substncias. Muitos julgaram que a essncia da substncia fosse a permanncia. E que entenderam por tal? Entenderam a imutabilidade. Mas acaso tais conceitos so idnticos? Esta casa permanece aqui, a Terra a girar em torno do Som, o Sol a brilhar no espao. Para que tais coisas se dem, mister que
110
esta casa, a Terra e o Sol sejam imutveis? Por no haver imutabilidade absoluta no h permanncia? Contudo, no a permanncia a essncia da substncia, porque ento o 3, que permanece sempre e de todo sempre 3, seria uma substncia. A substncia permanece, mas nem tudo que permanece substncia, porque um acidente tambm permanece, sem ser substncia. O que se pode e se deve entender por substncia o ser sujeito de inheso, o que pode existir independentemente como tal. Esta casa existe como um sujeito de inheso de seus acidentes. Como estes no se do amparados no nada, porque no tm um existir independente, pois, do contrrio, seriam substncia, e so algo que acontecem com alguma coisa, esta deve permanecer, enquanto eles se do, pois, do contrrio, sustentados em que se dariam? A permanncia no tempo de uma substncia pode se dar numa frao mnima de tempo, instantnea, no importa como acontece com certos entes sub-atmicos. Se um acidente tem em si sua razo de ser, ele substncia. Ora, os adversrios da substncia no afirmaro que aquele tenha razo de ser em si mesmo. Ento onde estar sua razo de ser? Sustentada pelo nada? Sustentada por alguma coisa que seja seu sujeito de inheso? Ento afirmar a substncia. O fato de no ser a substncia objeto sensvel, no implica a sua no-realidade. Seria mister provar, e o exigiramos apoditicamente, que s pode ter realidade o que objeto sensvel. E onde encontrariam a razo suficiente de tal afirmativa os sensistas? A substncia por ns captada numa experincia conjugada com a razo. Vemos esta casa, mas, na verdade, no vemos a casa, como no v a casa um co. A casa algo que j implica uma esquemtica. O que vemos so os acidentes que tal casa mostra. Para dizermos que isto uma caixa de fsforos, que aquilo uma rvore, que esse animal um co, j penetram a conceitos, esquemas eidtico-noticos diversos, uma operao mental superior. Os sentidos podem ser a fonte de nossos conhecimentos, ou melhor estes principiam ali, mas so estruturados, segundo a esquemtica fundamental da nossa mente sem dvida, que capta, nas coisas, o que estas tm de essencial, o que nela permanece sendo o que elas so. Imobilidade i imutabilidade no so da essncia da substncia. Nem permanncia se identifica com aquele conceito. Os erros, que surgem sobre a substncia, nascem dessas confuses, que, depois, vo originar erros em mentes deficientes. A idia da substncia um conceito da razo, como o eu o da intuio. Se chegarmos idia da substncia atravs do raciocnio, no quer tal dizer que no tenha objetividade, porque ningum demonstrou (e no poderia faze-lo) de modo apodtico, que o captado pela nossa razo seja apenas nada e no ser, apesar dos excessos dos racionalistas que, despojando os conceitos de contedo, terminam por torna-los nada. No seguimos a linha racionalista, que, como ismo uma forma viciosa do pensamento humano. A razo dos racionalistas despojadora de realidade, no porm, a
111
razo concreta dos que seguem a filosofia positiva e a concreta. O racionalismo permaneceu jungido logicidade, mas a filosofia positiva e a concreta permanecem tambm na ontologicidade e na onticidade, como demonstramos em nossas obras. COMENTRIOS SOBRE O TEMA DA CAUSA E DO EFEITO Sem dvida em torno do tema de causa tm surgido uma seqncia de erros para a Filosofia. a Etiologia a disciplina ontolgica que se dedica ao estudo das causas, e cabe a ela examinar a problemtica que surge aqui, e dar as solues que se impem. Procuraremos ser o mais sinttico possvel na explanao desta matria, pois o que nos interessa apontar os erros famosos, que tanto perturbaram o processo filosfico. Diz-se que princpio o de onde alguma coisa se origina, de onde ela surge. O princpio pode ser de dois modos: um que realiza um influxo positivo e comunica seu prprio ser; outro, o do qual surge outra coisa, que no o positivo influxo e comunicao do ser do primeiro, mas outro ser, privado do ser do primeiro, e dependente, porm, daquele. Em suma: o primeiro princpio o que, no catolicismo, se empresta a Deus, como princpio do Filho, cujo ser o mesmo, embora com papis diferentes, pois o Pai a onipotncia, e o Filho, a Vontade, a intelectualidade, a onipotncia ao criar isto e no aquilo. O segundo princpio o que iremos tratar com maior cuidado. O princpio apresenta uma srie de caractersticas: 1) comum a todo princpio a prioridade sobre o principiado, prioridade pelo menos ontolgica; 2)certa conexo do principiado ao princpio, j que este princpio daquele. 3)Nem h razo de equivocidade (do contrrio no haveria nenhum enx), nem de univocidade (do contrrio seria o mesmo princpio e principiado), mas de analogia entre ambos. Princpio o que pelo qual algo procedente de certo modo (Principium est id a quo aliquid procedit quocumque modo). No conceito de procedere, h a implicncia da consecuo e da conexo. Essa definio de Toms de Aquino mais ampla que a de Aristteles: id unde liquid est (o de onde alguma coisa ), aut fit, aut cognoscitur (de onde feita ou conhecida). Incluemse o princpio da coisa, da cognio de do devir (fieri). A causa de certo modo um princpio, porque o de que (ou pelo qual) alguma coisa procede, dela procedente. Causa um princpio que influi por si ser em outro. Como princpio razo de ser do outro. Mas eis aqui o que distingue causa de condio. A chamada causa permissiva, que permite que outro princpio infunda o ser em outro, propriamente a condio, que no obstaculiza a ao da causa, no infundindo, porm, ser ao que daquela resulta. Se se deixasse, como se deve deixar, para o conceito de causa, o que acima dissemos, no confundindo a condio com ela, evitar-se-iam erros graves, que povoam a filosofia.
112
O causado depende necessariamente da causa. Se h um ser que, para ser, mister que outro lhe infunda o ser, necessariamente tal ser implica outro, como analiticamente decorre de sua prpria conceituao. Uma srie de distines podem ser construdas entre causa e princpio. 1)O princpio um conceito mais genrico que causa, oferece uma razo genrica. 2)O causado depende necessariamente da causa, enquanto o principiado no depende como o caso do princpio, que comunique positivamente o seu prprio ser ao principiado. 3)O causado contingente e finito, enquanto o principiado no o necessariamente. O outro no qual a causa influi por si ser, o que se chama efeito. Consequentemente, na relao causa e efeito, h uma distino real, porque a natureza do efeito outra que a de causa, e h prioridade desta sobre aquela, prioridade de natureza e o nexo de dependncia real, que a causalidade. Pois um ente causa, quando influi ser em outro; ou seja, enquanto causante, e o pelo qual a causa formal e imediatamente se constitui em causante e o que se chama causalidade. Outro conceito que merece preciso o de ocasio. Consiste esta em ser o que, por cuja presena, a causa induzida a agir. A ocasio no influi ser ao efeito, no exerce nenhum influxo causal, por isso no uma causa suficiente, mas insuficiente, inadequada. Quando se diz que a ocasio faz alguma coisa e se d como causa de tal coisa, est se dando uma razo insuficiente do efeito, est se apresentando uma causa inadequada do efeito. Distinguidos causa e efeito, ocasio e condio do modo como fizemos, muitos erros lamentveis na Filosofia poderiam ter sido evitados, e no o foram, porque as confuses dominaram a mente de filsofos no devidamente advertidos de tais conceitos, por no se terem demorado no melhor e mais ntido estudos dos mesmos. Podem as causas serem intrnsecas ou extrnsecas. As primeiras so as emergentes, como as chamamos, pois emergem na natureza da coisa causada; as segundas (que chamamos predisponentes) distinguem-se do causado, influindo no modo de ser deste, marcando-lhe uma direo, no constituindo a sua natureza. Diz-se que uma causa adequada, quando ela influi totalmente o ser no causado: inadequada, a parcial, que atua com outras causas para que o efeito se d. Diz-se que uma causa per se, quando, pela prpria entidade, enquanto tal, influi verdadeiramente ser, e per accidens (por acidente), a que influi somente em conjuno outras, que por si influem o ser. Assim o vaso, solto no ar, cai por uma causa per se, mas o ferimento que provoca em quem passa, realiza-o per accidens; o agricultor, que lavra, causa per se de sua ao, mas do diamante que descobre, causa per accidens. Conseqentemente chama-se efeito per se o correspondente primeira causa, e per accidens segunda. O trgico est nos efeitos per accidens,
113
e no nos per se. O heri trgico aquele que est sujeito s causas per accidens, que realizam nele efeitos per accidens. Diz-se que uma causa imediata, quando ela realiza o efeito sem qualquer outra intermediria; e mediata, quando no realiza imediatamente o efeito, mas emprega intermedirios. conhecida universalmente a diviso aristotlica das quatro causas: a eficiente (a que faz), a formal (a que constitui a forma da coisa), a material (a matria de que constituda a coisa) e a final (ao para que tende a coisa feita). A formal e material so causas intrnsecas (emergentes) do efeito; a eficiente e a final so causas extrnsecas (predisponentes) do efeito. So essas causas, segundo a linguagem escolstica, a quo, ex quo, per quid et propter quid. O que est no efeito tem de estar contido de certo modo na causa. Esta tem de conter o efeito: virtualmente, ou sejam a causa tem de poder realizar o efeito; formalmente, a perfeio do efeito tem de estar contida na causa; eminentemente, no estar contida na mesma razo, porque ento o efeito seria idntico causa, mas sua razo (seu logos) tem de estar contido no logos da causa. Conseqentemente: o efeito no pode conter perfeies de ser que no esteja de certo modo (virtual, formal eminentemente) contidas na causa, portanto jamais o efeito pode ser maior que suas causas, pois o excesso de ser viria do nada, o que absurdo. O mais deve preceder o menos, portanto uma concepo evolucionista, que afirme que o mais viria depois do menos (salvo em sentido quantitativo), absurda e falsa. A causa tem de ter prioridade ao efeito (prioridade lgica, ontolgica, ntica). O efeito depender da causa (pender dela), mas essa dependncia ser real e no apenas lgica (ser tambm ontolgica e ntica). Conseqentemente, causa no apenas ser antecedente ao efeito, e este como conseqente. mister o nexo-real de dependncia, que se chama causalidade. Foi isso que no compreenderam muitos modernos, entre eles Hume e Kant, que divulgaram erros tremendos nesta matria, como veremos. A causa eficiente, enquanto tal, em ato, e realiza uma ao, a de infundir ser em alguma coisa. universal, quando infunde ser a todos os seres, particular, quando apenas a uma regio de seres, ou a um ser. Poder ser adequada ou inadequada, mediata ou imediata, necessria ou livre, etc., segundo as mesmas razes acima j expostas. A causa eficiente, por que faz, atua uma ao no que feito, efeito. Pode ser principal e instrumental. A principal aquela que faz sem necessidade de meios, enquanto a instrumental usa instrumentos (meios teis) para obter o efeito. A causa eficiente principal implica as secundrias, pois como causa eficiente principal absolutamente considerada s o Ser Supremo Primeiro, Ser absoluto (Deus), pode ser considerado tal.
114
Uma causa eficiente implica os seguintes adgios: a)s atua enquanto em ato, porque no pode operar o que no princpio de operao; b)ao modo de operar segue-se o modo de ser, porque o efeito no pode superar a causa; c)no atua de modo superior sua espcie (tambm pelas mesmas razes); d)realiza no efeito algo semelhante a si; ou seja, o efeito de certo modo tem de estar contido na causa; e)quanto mais poderosa a causa, superior ser o efeito ( uma conseqncia do que j se examinou). Esses cinco postulados so axiomticos para todos os que seguem a filosofia positiva e a concreta. A sua no aceitao precipita fatalmente o pensamento na confuso e na absurdidade.36 Podemos alcanar agora ao que se chama princpio de causalidade. A exigncia de uma causa para ser o ente o que , foi expressa pelos filsofos positivos de vrias maneiras: 1)o que feito tem causa; 2)nada feito sem causa; 3)nada transita do no ser para o ser, sem causa; 4)no h efeito sem causa; todo efeito tem causa; 5)o que principia a ser tem uma causa eficiente para ser, pois o que comea a ser, antes no foi como , e tem uma causa eficiente realmente distinta de si, que o faz ser; 6)todo ser contingente (que aquele que, para ser, precisa de outro) tem uma causa eficiente de si, realmente distinta de si mesmo. Estabelecida a matria, no modo como fizemos, estamos agora aptos a estudar a maneira como foi concebida a causa, e revelar, assim, as origens dos grandes erros perpetrados por filsofos de renome e que ainda perduram na Filosofia. Um dos conceitos mais caros de certos filsofos o de devir, do vir-a-ser, do fieri, como se este fosse outro que o ser. Julgam que, afirmando o devir, negam o ser, enquanto outros pensam que o devir outro que o ser, e seria, portanto, no-ser, como o ser seria um no-devir. Mas que devir conhece o homem se no a passagem do que potencial para o atual? Ademais, que pode haver entre ser e nada? O devir no um meio-termo entre ser e nada, mas o ser em sua dinamicidade, e nada mais. Contudo, esse conceito foi usado, e ainda o , por muitos, como uma refutao do ser, como se o que devm fosse nada, e se o devir pudesse sustentar-se sem o ser. O que devm ser para que haja o devir. E de onde provm esse erro? Vem de julgarem que ser imobilidade, imutabilidade total e absoluta, por no haverem compreendido a doutrina da enrgeia e da dynamis de Aristteles.
115
Ao examinarmos a razo suficiente do devir, mostramos que tudo quanto h tem uma razo suficiente intrnseca ou extrnseca para vir-a-ser. O que comea a ser no pode comear a ser por si mesmo, porque, ento, j existiria antes de existir, o que absurdo. Nem pode surgir do nada, porque este no pode influir ser em alguma coisa, j que no tem, e no pode dar o que no tem para dar, nem ser o que no coisa alguma, nada. O que comea a ser exige algo que infunde o ser. Negar-se tal pensamento afundar-se, avassalar-se no absurdo. Mas h os que preferem o absurdo. Tais absurdos afirmam e negam simultaneamente o mesmo do mesmo. So contradies que afirmam a posse e a privao simultneas do mesmo no mesmo e sob o mesmo aspecto, quer dizer d e tira. Ora, nossa experincia j mostra que pr algo e tirar o mesmo termina por privar, por negar. No possvel nossa experincia que algo esteja e ao mesmo no esteja no mesmo lugar e sob as mesmas condies. E tambm no admissvel ontologicamente, como no o onticamente. ... Faamos um rpido panorama da maneira de conceber a causa, acentuando os que negam validez a tal conceito. Ente os gregos, Enesidemo, Sextus Empricus e os cpticos em geral negaram valor ao princpio de causalidade e declaravam nada saber sobre a causa; ou melhor, que causa no pode existir nem antes, nem durante, nem depois do efeito. Na Idade Mdia, fundando-se em Aristteles, sobretudo em seu adgio: o que movido por outro movido, afirmava-se a causalidade, posta em dvida por filsofos modernos, entre eles Nicolau de Beguelin, porque o adgio de Aristteles no um juzo analtico, pois o que se move, sendo movido por si mesmo, no implica contradio com o primeiro juzo. A maioria dos escolsticos maiores reconhecem que tal juzo no analtico, e no sobre ele que fundam a causalidade. Os principais adversrios da idia de causa so: Locke, que afirmava que chamamos causa ao que precede a um fenmeno e, sobretudo, Hume. Este afirmava que o princpio o que comea a existir deve ter uma causa de sua existncia era destitudo de fundo. No temos certeza intuitiva dessa proposio, que s seria verdadeira se provssemos ser impossvel que alguma coisa comeasse a ser sem um princpio produtivo. E tal, afirma Hume, impossvel fazer, porque a idia de causa separada da idia de efeito. S alcanamos a estes conceitos pela observao da sucesso, pois a experincia no nos d o nexo interno. Como surge para ele a idia de causa? Causa e efeito no so inerentes qualidade de qualquer objeto. A idia de causalidade deriva de algum relao. Qual ela? O que chamamos causa e efeito so algo contguos num objeto. Essa contingidade percebida como essencial noo de causa. Observa-se alguma prioridade no tempo da causa sobre o efeito. O que apenas captamos na nossa experincia contigidade e
36
Infelizmente, para prejuzo do desenvolvimento intelectual do homem, houve filsofos que caram em postulados contrrios, embora sem percebe-los no incio, mas a ele s chegam, se levado o seu pensamento at s ltimas
116
sucesso, duas relaes, que no so por si s suficientes para explicar a idia de causa, na qual se inclui uma connexio entre ela e o efeito. Nada mais nos d a experincia, e nada mais construmos seno o que cabe aos trs modos de associao: semelhana, contigidade, sucesso. impossvel penetrar na conexo ntima entre causa e efeito. Acompanhou a Hume em suas crticas, Stuart Mill. O fundamento, que se oferece para a causalidade, apenas a ordem de antecedncia e conseqncia, o que no implica que seja objetivo, mas cuja nica base psicolgica. Infludo por tais crticas, Kant afirma que o postulado da causalidade um juzo sinttico a priori, pois acrescentamos ao sujeito um predicado que lhe estranho, e a priori, porque um juzo necessrio, universal e independente da experincia. o produto de uma sntese das categorias de causa e efeito (pois, para Kant, so apenas categorias) com o esquema sensvel da sucesso regular. Portanto, s tem um valor subjetivo, e quando aplicado s coisas transfenomenais, leva, inevitavelmente, a concluses transcendentes e eminentemente problemticas. Alguns cientistas modernos, que fazem tambm filosofia, negam objetividade ao princpio de causalidade, que implicaria a existncia de leis naturais, supostamente reais, o que no possvel provar, nem tampouco que h leis estticas, que negam os fenmenos, cuja fixidez necessria para dar base ao princpio de causalidade. Em oposio a toda essa postulao negativa, os filsofos positivos e concretos afirmam a objetividade do princpio de causalidade, e que esse princpio analtico e apoditicamente verdadeiro. Pela exposio que fizemos at aqui, nota-se, facilmente, que os negativistas, nesta matria, tm um conceito de causa e efeito, que no o que na filosofia positiva e concreta se considerou como tais. Contudo, pode-se demonstrar a validez da posio positiva e concreta de modo rigoroso e apodtico. Necessariamente o que comea a ser, antes que comeasse a ser, era um mero possvel. Ora, o que um mero possvel no pode surgir na existncia, a no ser que outro ser a comunique. Conseqentemente, o que comea a existir, necessariamente exige outro ser que lhe d a existncia, sou seja, exige causa. Provemos apoditicamente, com todo o rigor da Filosofia Concreta, as premissas expostas. O mero possvel no existente, enquanto mero possvel, pois do contrrio no seria apenas um mero possvel, mas um possvel j atualizado. O que ainda no , e vem a ser, comea a ser o que . Tm tais argumentos um rigor de necessidade. Se o mero possvel comea a ser, s pode ser por si, por outro ou pelo nada. Por si no
conseqncias.
117
cabvel, porque ainda no , pois um mero possvel; pelo nada, ningum poder afirmar que o nada capaz de infundir, de comunicar ser, pois no o tem. Resta apenas ser por outro, j que impossvel admitir outra sada. O mero possvel o que indiferente para ser ou para no ser. O que por si indiferente existncia, como poderia realizar a sua existncia? Necessita de outro para ser, sua causa. O ser contingente mero possvel e de per si insuficiente para existir. Necessita, pois, de outro ser que lhe comunique ser. E tem de ser outro ser, porque como o nada poderia comunicar ser? No pode vir de si mesmo, pois, ento, no seria um mero possvel de ser, mas j existente. Restaria apenas admitir que o que comea a ser no comea a ser, e j desde todo o sempre. Nesse caso, ter-se-ia de negar o devir, o vir-a-ser das coisas, para afirmar a imutabilidade absoluta de tudo, pensamento a que chegou o parmenidismo pela mesma dificuldade de compreender o devir. Tais argumentos so lgicos e ontolgicos. No faramos, porm, uma prova concreta sem o fundamento ntico, que nos d a experincia externa e a interna, que devemos conexionar com o lgico e o ontolgico para alcanarmos a verdade concreta. Nossa experincia nos demonstra que h seres que principiam a ser no precpuo instante que comeam a ser, e que antes no eram. Se tal se d, tm uma causa. Nosso psiquismo, nosso corpo, nossa experincia interna e externa nos revelam a realidade de tais casos. Podemos fazer coisas, realiza-las, tornar um pouco de barro, cose-lo, transforma-lo num slido tijolo, etc. A nossa sabor,fazemos artefacta, realizamos a tcnica, escrevemos livros, construmos casas, pensamos, adquirimos conhecimentos, formulamos juzos. A experincia interna, como a externa, nos provam que entes comeam a ser os quais antes no existiam. Plantamos a semente, ergue-se o arbusto, alteia-se a rvore, desabrocham-se as flores, surgem os frutos... Se no h causas, se no h o que infunde, o que comunica ser a tais coisas, ento o nada seria criador, infundiria e comunicaria o que no tem. Alguns preferiro este absurdo. E por que? Na verdade, em toda a histria do homem, no seu desenvolvimento, desde as formas mais primitivas s mais civilizadas, houve uma intensa luta entre o bom senso e a loucura, entre a sanidade mental e a insanidade, entre a proficincia mental e a debilidade. A luta entre a loucura e o bom senso no terminou, e talvez no termine nunca. H momentos em que uma ou outra prepondera. Diziam os pitagricos que quando o erro vence, o filsofo positivo e concreto deve recolher-se ao silncio, e aguardar que o erro malogre e a verdade outra vez surja dominadora. Scrates foi um pitagrico, mas compreendeu diferentemente essa mxima dos Versos ureos Foi para a rua para denunciar os fariseus da cultura grega, os falsos sbios que inundavam o mundo de erros. No era de admirar que o condenassem morte, quando ele os havia condenado ao escrnio na memria do povo. Outros fariseus de nossa poca tambm surgem, os mesmos, com a mesma auto-suficincia de um Hipias, com iguais erros. Tambm estes hoje envenenam a
118
conscincia da juventude e acusam os Scrates de impiedosos, de corruptores da mocidade, porque dar bom-senso aos jovens , para eles, a suprema das afrontas, o crime mais indigno e infame, e que merece a pena mxima. Estamos realmente, sobretudo entre ns, numa poca de inverso dos valores; os valores mais baixos sobem para o pice da hierarquia, enquanto os mais nobres, e que sempre dignificaram o homem, descem para as regies inferiores. que realmente assistimos uma invaso vertical de brbaros na cultura ocidental, mas brbaros no sentido cultural, brbaros da honra e da dignidade, homens voltados apenas para os interesses mais baixos, para as meras satisfaes dos seus desejos escusos. No de admirar que sejam punidos os que dignificam uma vida, e exaltados os patifes afortunados. Contudo, no se iludam os inadvertidos: os maus no so a maioria, nem os crpulas os dominadores seno eventuais. A humanidade ainda tem uma parte s poderosssima, e quando ela decidir-se a lutar pela dignidade humana, higienizar e libertar o mundo desse vrus. ... O fato de muitos homens, que escrevem sobre filosofia, no terem compreendido o conceito de causa, o que se entendem, positiva e concretamente, sobre ela, foi o que provocou tantos erros neste setor. Entende-se por causa o que infunde, o que comunica ser a alguma coisa. No exame das causas, como ainda veremos, elas de certo modo, permanecem no efeito, causando-o ainda, como a causa material permanece na coisa material, constituindo- Se no houvesse causas, toda a cincia se afundaria na incompreenso. Desde Scrates, exotericamente (j o havia feito Pitgoras), o primeiro papel do filsofo consiste em clarear os conceitos, buscando alcanar a pureza eidtica dos mesmos, como o Scrates. Ora, se partimos da intencionalidade humana ao considerar o conceito causa, desde logo se entende o que pe em causa, o que d surgimento a alguma coisa, qiditivamente distinta; ou seja, outra que o que ape em causa. ago que infunde ser, que comunica ser, que d ser, ou que constitui ser de alguma coisa. Como o influxo e a comunicao de ser se do de vrios modos, os antigos classificavam as causas segundo tais modos, o que levou Aristteles a compendia-las em quatro causas principais: a eficiente, a formal, a material e a final, que sero por ns examinada. Como um ente que comea a ser no pode comunicar o ser a si mesmo, pois ento j existiria antes de existir, o que absurdo, e aceito esse absurdo, tudo j era, desde sempre, o que , e isso nos levaria a outros absurdos, impossvel, invencvel, e ainda necessrio, que o ser seja comunicado ao ente que comea a ser. O conceito de causa, tomado assim (e s assim apoditicamente certo, e s assim adequado intencionalidade eidtica), quando pronunciamos o termo causa, na Filosofia, desfazem-se todas as confuses que filsofos modernos espalharam.
119
H argumentos, vindos de todos os quadrantes, que objetam a concepo de causa e efeito. De alguns, que j os examinamos, mostramos a completa invalidez, seno a insanidade. Mas h outros, apresentados por vultos de renome, como: na verdade, o princpio de causalidade nos dado pela experincia e pela induo. Ora, a experincia e a induo no tm validez universal. Logo... Mas esquecem tais senhores, que combatem a experincia e a induo, ou pelo menos que restringem o seu valor, que o princpio de causalidade, em sentido materialiter, pende da experincia e da induo, no, porm, formaliter, pois, formalmente, o que nele se predica, decorre, necessariamente, da natureza do sujeito. O ter o que comea a ser uma causa decorre, necessariamente, do comear a ser o que e, pois, do contrrio, no poderia comear a ser o que . Outros partem do lado inverso: afirmam que uma criao a priori, e no fundada na experincia, por isso no tem valor absoluto. No verdade que tal princpio nos surja apenas a priori. O ser humano apreende pela experincia tais fatos, e pelo entendimento capta a razo de conexo entre o que infunde e comunica o ser, e o novo ser que surge. O princpio de causalidade no apenas um enunciado apriorstico, mas o resultado de uma operao do esprito humano, fundando-se nos fatos de experincia. Outros afirmam: h muitos fenmenos, cientificamente comprovados, graas aos microscpicos eletrnicos, que nos revelam acontecimentos que se realizam sem leis, ao acaso, o que prova que o princpio de causalidade no universal. Tais argumentos causam d por partirem de homens de Cincia, que tambm contribuem com seu esforo para aumentar a confuso nas idias. Em que se baseiam para afirmar que h ausncia de leis? Apenas no desconhece-las. Mas desde quando a ignorncia argumento em favor da negao de alguma coisa? Pode a Cincia desconhecer hoje tais leis, mas da afirmar que tudo isso se d sem leis, teriam tais cientistas que apresentar a prova apodtica de que tais fenmenos se do sem leis, e tal no o fazem. A Cincia no conheceu suas leis desde o incio. Basta que procedamos ao estudo da sua evoluo, para vermos que muitos fatos, que pareciam obedecer ao acaso, forjam, depois, compreendidos como obedientes a leis. Onde a Cincia no capta as leis, estabelece leis provveis, formula hipteses, mas da afirmar a ausncia de leis um salto sem justificao. Se so to exigentes para os outros, por que no o so para si mesmos? Em que fundamento apodtico baseiam a sua afirmativa? Em nenhum; apenas na ignorncia. Esclareamos o conceito lei (do latim lex, legis, do mesmo radical lec, log, lig, que
encontramos em intelecto, seleco, ler, de legere, eleger, lico, logos, palavra, verbo, lei, princpio, etc.). O termo lex vem de ligare, ligar, o que liga, o que conexiona, o que prende .. Na idia de lei, h o sentido do que obrigado... E quando se fala em leis da natureza, entende-se (a
120
intencionalidade), as inclinaes estveis, que regem nas coisas, e exigem o modo constante e uniforme de agir. Os escolsticos admitiam dois tipos de leis: as in actu primo, que so as prprias inclinaes, e as in actu secundo, que o exerccio da constncia e da uniformidade no operar; ou seja, o modo constante e uniforme pelo qual surgem os acontecimentos naturais. No primeiro caso, a lei imutvel; no segundo possunt esse quaedam variationem iuxta diversitatem
circunstantiaruem vel concausarum et dependenter..., ou seja, podem sofrer certas variaes, dependentes da diversidade das vrias causas que cooperam no evento. Quando alguns cientistas falam em leis provveis pensam que, na natureza, h essa probabilidade que eles afirmam, esquecendo que a probabilidade surge apenas do no conhecimento preciso de tais leis, julgadas assim, que, provavelmente, seja elas as que regulam os fatos em exame. Os antigos ainda admitiam leis racionais, empricas, e inclusive estatsticas, leis chamadas dinmicas, fundadas apenas na regularidade verificada, que ainda subdividiam em leis lgicas e leis ontolgicas, que, neste setor, no da Lgica e no da Ontologia, so certssimas, embora no o sejam no da Cincia Natural.37 EXAME DE TEMAS SOBRE AS CAUSAS Um dos termos, que tm servido de tema para muitas confuses, foi o de fim, e, conseqentemente, o que se tem chamado de princpio de finalidade. Fim significa a meta, um para onde tende alguma coisa, um termo para o qual algo se dirige. Ora, onde h ao, h um termo para o qual a ao tende, sem o qual aquela no h, pois, seria absolutamente esttica, e no tenderia para nada. Tender para o nada no pode ser a meta de uma ao, mas sim, para algum termo positivo. Pois bem, esse termo, para o qual tende a ao, o fim, prximo ou remoto, pouco importa. Tudo o que devm (que se torna), realiza-se em direo a algo. E isto e nada mais do que isto o que se pode entender concretamente por fim. Ora, se toda ao, tudo o que devm, tende para algo, esse tender tem de ser proveniente, essa tendncia tem de preceder ao, pois o que tende para..., est potencialmente disposto para o que tende, do contrrio o termo, para o qual tende, seria impossvel, o que absurdo, pois seria tender para nada, o que seria nada tender. O fim tem de ser de certo modo da tendncia do agente. Os antigos dividiam o fim em: finis qui, o fim objetivo, o objetivo, o objeto para o qual tende; finis cui, o fim subjetivo para que tende o objeto, e finis quo, o fim formal, o pelo qual a inteno se aquieta ao atingi-lo.38 Deixamos de consignar aqui as diversas outras divises de fim, que os antigos estudavam, para apenas salientar a do fim intrnseco e a do fim extrnseco. O primeiro o que imanente coisa,
37
121
como a conservao individual um fim intrnseco de toda unidade fsica, e o fim que dado coisa, que o fim extrnseco. Assim o po uma finalidade extrnseca do trigo, porque este, intrinsecamente, no tende para tornar-se po, mas para conservar-se, perpetuar-se, multiplicar-se, reproduzir-se. O homem que lhe d outro fim, extrnseco ao trigo. As mais famosas sentenas sobre o princpio de finalidade se reduzem aos seguintes adgios da filosofia positiva e concreta: 1)Todo agente atua em direo a um fim. Toda atuao implica um termo de partida e um termo para onde tende, sem o qual a atuao seria nula. necessrio, pois, que quem atua, atue em direo a um fim. Da a sentena: 2)Todo agente, necessariamente, atua tendente a um fim, que j expressa a apoditicidade que faltava primeira sentena. O fim conexiona, pois, a ao do agente e a sua realizao, o seu produto, a obra. Conseqentemente: 3)Toda obra est conexionada (ordenada) a um fim. Esta sentena decorre necessariamente das outras. 4)O que devm, devm tendendo para um fim. outra sentena que decorre das anteriores. 5)Todo efeito termo de uma ao. Toda causa, enquanto atua, tende para um fim. 6)O que contingente (o que exige uma causa eficiente para ser) tem uma causa final ( termo de uma ao). uma decorrncia do princpio de causalidade j demonstrado, pois toda ao tendendo para um fim comunica ao que faz uma tendncia para um termo. 7)Um agente intelectual, enquanto o , atua com cincia do fim, mas o fim considerado formalmente. Portanto, o agente intelectual atua formalmente em direo a um fim. O agente no intelectual atuar materialmente. O agente intelectual tem uma inteno do fim. Examinemos agora os argumentos dos negativistas. Comecemos pelos empiristas e Hume, que negavam o princpio de finalidade, porque negavam o princpio de causalidade. Kant chamavao de princpio teleolgico (do gr. telos, fim), que considerava apenas uma crena dos homens, produto da nossa mente, e nada mais. Schopenhauer e Hartmann consideravam apenas uma inteno inconsciente da natureza. Outros, embora aceitando a finalidade, deram-lhe diversos sentidos, e defenderam-na de modo deficiente. Nenhum negativista nega a finalidade do agente intelectual, enquanto o . Negam apenas nas coisas no-intelectuais a presena de idia do fim? Mas, ento, no seriam no-intelectuais, mas intelectuais. Como no tm, nesse caso no atuam segundo um fim, uma meta. Mas o erro est a. A finalidade no apenas uma nota consciente. Todo agente atua por natureza ou pelo intelecto. O que age pelo intelecto, age tendendo para um fim. O que age por natureza, age tendendo para um
38
Assim o salrio para o homem que trabalha, um finis qui, mas com ele pode dar cultura ao filho (finis cui), para que, com cuja cultura, possa amanh tornar-se um homem de mais valor (finis quo) na vida social.
122
fim, porque o efeito sempre proporcionado s suas causas. Na verdade, o verdadeiro nome de causa fim. Toda causa, enquanto tal, tende a realizar um efeito, que lhe proporcionado. DA CAUSA MATERIAL E DA FORMAL So estas as causas chamadas intrnsecas, ou como as chamamos emergentes, por emergirem na natureza da coisa, constiturem a sua natureza, o que nasce com a coisa. Sem discutirmos o que seja matria, cujo exame j fizemos anteriormente, pois o conceito cosmolgico distinto do ontolgico, aqui, o termo tomado neste ltimo sentido, como o de que feito uma coisa. Esse de que infunde e comunica ser ao ente, e como constitui o seu ser, uma causa intrnseca do mesmo (emergente). A coisa feita ex quo (do que) a constitui intrinsecamente. Dividiam os escolsticos a matria em ex qua, in qua e circa quam. Ex qua significa a matria constitutiva da coisa; in qua, a em que introduzida a forma, e circa quam, aquela na qual opera o agente. A matria ex qua que dividida em transeunte e manente. A matria ex qua transiens a matria que no s causa material, mas tambm inclui o termo pelo qual; assim a lenha matria ex qua para que o fogo se realize. No propriamente a causa material do que se trata. A matria manente a causa material que mana no composto (matria e forma). A forma (causa formal) uma causa intrnseca, constituinte do composto, que tem o papel de parte especfica, que indica a qididade (o que) a coisa . Para os pitagricos, a forma o logos de proporcionalidade intrnseca do ser, ou melhor, a relao formada entre a disposio harmnica das partes, obedientes normal dada pela totalidade, pois em todo ser, que qididativamente formado, os elementos constituintes da sua estrutura, embora opostos entre si, analogam-se, segundo uma normal dada pela totalidade, e funcionam, nesta, segundo essa normal, o que constitui a harmonia, que h em todo ser formalmente constitudo. Num ser absolutamente simples, cuja estrutura apenas ele mesmo, sem composies, como o Ser Supremo, sua forma identifica-se com ele mesmo, e no ela um logos de proporcionalidade, mas o prprio logos, sua prpria lei, seu prprio princpio, si mesmo. Este objeto um livro, porque tem a forma do livro; ou seja, suas partes esto dispostas de modo a constituir o que exige o logos do livro. As confuses apontadas sobre o conceito de causa levaram muitos filsofos modernos, por inadvertncia ou deficincia, julgarem que eram o que no eram, afirmando que tais conceitos tinham uma significao que, na verdade, no se lhes deu, nem se poderia dar, sob pena de tornarem-se confusos e eminentemente falsos. PALAVRAS FINAIS Sabemos que esta obra provocar, em muitos, uma oposio, porque ferimos muitas de suas mais caras idias. Mas, como sempre dissemos em nossos trabalhos, o valor do que postulamos est
123
no valor das nossas demonstraes. Nossas obras valem o que valerem as suas demonstraes. Na Filosofia s h uma autoridade: a demonstrao. O resto a falsa autoridade do ttulo, da propaganda, do elogio fcil. A Filosofia no pode prosseguir sendo o campo de torneiros estticos, nem de faanhas meramente intelectuais, sem outra finalidade que dar vazo aos mpetos patticos de uma afetividade admissvel no campo da Esttica, mas completamente extempornea e inatual no campo da Filosofia. preciso distinguir a Filosofia Especulativa da Filosofia Prtica. Enquanto esta ltima se dedica ao humana, a primeira se empenha no estudo da eideticidade da realidade da idealidade, e da idealidade da realidade, ou seja, do nexo real dos eide (conceitos, j purificados de todo o axioantropolgico, da influncia das valorizaes e desvalorizaes humanas), bem como do nexo eiditco que h na realidade. Mas, seguindo as lies dos pitagricos e de Scrates, e procurando a eideticidade do conceito de prudncia, alcanaremos que a inteligente aplicao dos meios melhor adequados para obter os fins convenientes a quem os emprega, ou o conhecimentos dos meios melhor adequados aos fins desejados. Se nos primeiros casos poderemos falar da prudncia do aristocrata e da do burgus, no ltimo falaremos da prudncia em sua pureza eidtica. E se em Marte ou em Vnus houver seres inteligentes, prudncia l tambm ser como o dissemos, e o ser em qualquer ordem onde haja seres inteligentes. Com esse ltimo enunciado, alcanamos o aspecto especulativo mais elevado do conceito, e podemos tratar dele como algo j intemporal e inespacial. A prudncia, tratada assim, j no pertence nem ao tempo nem ao espao: pois onde e desde o sempre, para todo o sempre, e em toda a parte, onde houver seres inteligentes, prudncia ser o que dissemos. A Filosofia Prtica, por cuidar da ao e do devir humano, no impede que a Filosofia Especulativa nela penetre e possa examinar e usar os seus mtodos e seus postulados para dar queles um contedo mais seguro. Se a Cosmologia pertence Filosofia Especulativa, tal no impede que as suas conquistas apodticas no possam ser aplicadas no campo das Cincias Naturais. Tambm nada impede que se trate a Moral, que pertence Filosofia Prtica, com o rigor especulativo que se pode fazer na tica, que preferimos sempre distinguir daquela, dando a esta um sentido especulativo e quela um sentido prtico. Nada impede que se trate da Economia, que uma cincia prtica, e pertence ao mbito da filosofia prtica, dando-lhe um rigor matemtico crescente ( a Matemtica pertence Filosofia Especulativa), de modo a dar maior e menor eideticidade aos seus conceitos, e permitir examinar, com o mximo cuidado, os seus postulados, dentro do rigor apodtico que a Filosofia Especulativa exige. Assim se deve procurar proceder no mbito do Direito, da Histria, da Sociologia, da prpria Axiologia, porque o caminho para levar a Filosofia dos meros ensaios, do campo das asseres para o da especulao rigorosa, da cincia no sentido da epistme dos gregos.
124
E se exigirmos de todos os que propem idias, posies, teses, que as demonstrem rigorosamente, e no apenas juntem argumentos e mais argumentos, estaremos dispondo-nos a seguir o verdadeiro caminho da cincia, aquele que nos poder permitir alcanar cada vez mais a mathesis Suprema (Mathesis Megisthe), a Suprema Instruo, o Conhecimento Elevado, que o objeto de amor do sbio, cujo afanar-se por ele realmente a Filosofia, que nada mais que o caminho que o amante do saber percorre para atingir aquela. ...
You might also like
- Música, Inteligência e Personalidade by Minh Dung NghiemDocument211 pagesMúsica, Inteligência e Personalidade by Minh Dung NghiemGabriel Henrique100% (1)
- Noologia Geral, A Ciência Do Espírito by Mário Ferreira Dos SantosDocument222 pagesNoologia Geral, A Ciência Do Espírito by Mário Ferreira Dos SantosCarlos RuaroNo ratings yet
- Mário Ferreira Dos SantosDocument574 pagesMário Ferreira Dos SantosLuizEduardoCamposCustódioNo ratings yet
- BERTI, Enrico. As Razões de Aristóteles. São Paulo. Editora Edições Loyola, 1998 PDFDocument203 pagesBERTI, Enrico. As Razões de Aristóteles. São Paulo. Editora Edições Loyola, 1998 PDFMárcio RubenNo ratings yet
- O método cético de oposição na Filosofia ModernaFrom EverandO método cético de oposição na Filosofia ModernaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- 1.1 - LIVRO PRIMEIRO, Metafísica de Aristóteles - Pedro Da FonsecaDocument804 pages1.1 - LIVRO PRIMEIRO, Metafísica de Aristóteles - Pedro Da FonsecaIsaias K.No ratings yet
- Teses Da Existência e Inexistência de Deus - Mário Ferreira Dos Santos (1946) (Pseudônimo Charles Duclos)Document82 pagesTeses Da Existência e Inexistência de Deus - Mário Ferreira Dos Santos (1946) (Pseudônimo Charles Duclos)gdfsdfsdgfsdgfdgfs75% (8)
- Mário Ferreira Dos Santos (Pseudônimo Charles Duclos) - Teses Da Existência e Inexistência de DeusDocument158 pagesMário Ferreira Dos Santos (Pseudônimo Charles Duclos) - Teses Da Existência e Inexistência de DeusJhonatan SouzaNo ratings yet
- MFS - Cristianismo, A Religião Do Homem - Versão 2Document134 pagesMFS - Cristianismo, A Religião Do Homem - Versão 2jhonbanczek100% (1)
- Como ler a filosofia clínica, ou melhor, a orientação filosófica: Prática da autonomia do pensamentoFrom EverandComo ler a filosofia clínica, ou melhor, a orientação filosófica: Prática da autonomia do pensamentoNo ratings yet
- Análise de Temas Sociais 01 - Mário Ferreira Dos SantosDocument102 pagesAnálise de Temas Sociais 01 - Mário Ferreira Dos SantosJoão Rodrigo Stinghen100% (3)
- O Critério - Jaymes BalmesDocument370 pagesO Critério - Jaymes BalmesJosé Alváres100% (1)
- Ideologia e Mitologia: História, Símbolos, Política e Religião em Eric VoegelinFrom EverandIdeologia e Mitologia: História, Símbolos, Política e Religião em Eric VoegelinNo ratings yet
- Vidas dos Sofistas: Ou (O Métier Sofístico Segundo Filóstrato)From EverandVidas dos Sofistas: Ou (O Métier Sofístico Segundo Filóstrato)No ratings yet
- Recomendações Do Seminario de Filosofia OlavoDocument10 pagesRecomendações Do Seminario de Filosofia OlavomakeallNo ratings yet
- Técnica Do Discurso Moderno (Mário Ferreira Dos Santos)Document115 pagesTécnica Do Discurso Moderno (Mário Ferreira Dos Santos)Isabela Abes Casaca100% (2)
- Edoc - Pub - Regis Jolivet As Doutrinas Existencialistas PDFDocument183 pagesEdoc - Pub - Regis Jolivet As Doutrinas Existencialistas PDFRenato DeákNo ratings yet
- Sabedoria Perene 1 PDFDocument232 pagesSabedoria Perene 1 PDFWalter ValesiaNo ratings yet
- Lógica: evolução, sistemas formais e lógicas clássicasDocument222 pagesLógica: evolução, sistemas formais e lógicas clássicasnailtongomesNo ratings yet
- Filosofia, Encantamento e Caminho: Introdução ao Exercício do FilosofarFrom EverandFilosofia, Encantamento e Caminho: Introdução ao Exercício do FilosofarNo ratings yet
- Szondi, Lipot - Introdução À Psicologia Do DestinoDocument59 pagesSzondi, Lipot - Introdução À Psicologia Do DestinoPaulo Yuri Castro100% (2)
- Boécio e Os UniversaisDocument16 pagesBoécio e Os Universaisjorgefilipetl100% (1)
- O despertar da consciência: a revolução socráticaDocument199 pagesO despertar da consciência: a revolução socráticaIngrid SouzaNo ratings yet
- PIAGET, Jean - Sabedoria e Ilusões Da Filosofia PDFDocument86 pagesPIAGET, Jean - Sabedoria e Ilusões Da Filosofia PDFWilton100% (4)
- Logica e Ontologia em Pedro Da Fonseca PDFDocument60 pagesLogica e Ontologia em Pedro Da Fonseca PDFIvan Sousa100% (1)
- Aristóteles e o Método Científico - ApostilaDocument10 pagesAristóteles e o Método Científico - ApostilaAlexandre Nardelli100% (1)
- O Ponto de Partida Da Metafísica - Caderno 1 - Da Antiguidade Ao Fim Da Idade Média: A Crítica AntigDocument48 pagesO Ponto de Partida Da Metafísica - Caderno 1 - Da Antiguidade Ao Fim Da Idade Média: A Crítica AntigElienai BaltazarNo ratings yet
- A Filosofia e Seu Inverso e Outros Estudos de Carvalho, Olavo ZDocument190 pagesA Filosofia e Seu Inverso e Outros Estudos de Carvalho, Olavo ZAlex JuniorNo ratings yet
- Mendo Henriques Lonergan Filosofo para o Seculo Xxi PDFDocument15 pagesMendo Henriques Lonergan Filosofo para o Seculo Xxi PDFmaiaramonNo ratings yet
- Joao Duns Scot e A Prova Metafisica Da E PDFDocument848 pagesJoao Duns Scot e A Prova Metafisica Da E PDFCaroline MarquesNo ratings yet
- O caminho para a realização do bemDocument126 pagesO caminho para a realização do bemspoudaios777100% (1)
- Brasil Um País Sem Esperança - Mário Ferreira Dos SantosDocument35 pagesBrasil Um País Sem Esperança - Mário Ferreira Dos SantosPepe legal100% (1)
- O Sentido Da Vida - Desidério MurchoDocument24 pagesO Sentido Da Vida - Desidério MurchoYuri Romanelli Santos100% (1)
- SOKOLOWSKI, Robert. Introducao À FenomenologiaDocument126 pagesSOKOLOWSKI, Robert. Introducao À FenomenologiaErcilia SobralNo ratings yet
- Ortega y GassetDocument9 pagesOrtega y Gassetapi-3718864100% (2)
- História da Filosofia Antiga em 40 LivrosDocument15 pagesHistória da Filosofia Antiga em 40 LivrosWalmir Silva100% (1)
- 20131209-Americo Pereira 2013 Obras 1 Estudos Sobre A Filosofia de Louis LavelleDocument157 pages20131209-Americo Pereira 2013 Obras 1 Estudos Sobre A Filosofia de Louis LavelleMarjorie ChenedeziNo ratings yet
- O Homem Que Nasceu Postumo - Mario Ferreira Dos SantosDocument167 pagesO Homem Que Nasceu Postumo - Mario Ferreira Dos SantosMurilo O. BarbosaNo ratings yet
- O HOMEM QUE NASCEU PÓSTUMO - Mário Ferreira Dos SantosDocument111 pagesO HOMEM QUE NASCEU PÓSTUMO - Mário Ferreira Dos SantosMFS5651100% (2)
- Pe. Stanislavs Ladusãns - Significado e Ampliação Da Gnosiologia Pluridimensional (Revista Brasileira de Filosofia, V. 36, N. 147, P. 264-268, Jul.-Set., 1987)Document5 pagesPe. Stanislavs Ladusãns - Significado e Ampliação Da Gnosiologia Pluridimensional (Revista Brasileira de Filosofia, V. 36, N. 147, P. 264-268, Jul.-Set., 1987)Matheus Vidotti MonteiroNo ratings yet
- Filosofia e realidade em Eric WeilFrom EverandFilosofia e realidade em Eric WeilMarcelo PerineNo ratings yet
- Resumo Ciencia PoliticaDocument8 pagesResumo Ciencia PoliticaYMABR67% (3)
- Introdução à FenomenologiaDocument42 pagesIntrodução à Fenomenologialeonardo100% (1)
- Foucault, Deleuze e Guattari - Corpos, Instituicoes e SubjetividadesDocument140 pagesFoucault, Deleuze e Guattari - Corpos, Instituicoes e SubjetividadesAdla Viana100% (7)
- Mário Ferreira Dos Santos - Técnica Do Discurso Moderno PDFDocument115 pagesMário Ferreira Dos Santos - Técnica Do Discurso Moderno PDFאריה האלNo ratings yet
- ALQUIE Ferdinand A Filosofia de DescartesDocument137 pagesALQUIE Ferdinand A Filosofia de DescartesNathalia LuchesiNo ratings yet
- MFS - Análise Dos Prolegômenos de KantDocument95 pagesMFS - Análise Dos Prolegômenos de KantManuel GuilhermeNo ratings yet
- Mário Ferreira Dos Santos - A Ciência Dos Valores em FilosofiaDocument1 pageMário Ferreira Dos Santos - A Ciência Dos Valores em FilosofiaAntonio Sávio100% (1)
- Estado como religiãoDocument4 pagesEstado como religiãoBelchior TobiasNo ratings yet
- Raízes da ModernidadeDocument2 pagesRaízes da ModernidadeMardem LeandroNo ratings yet
- Transtorno Bipolar: A Normal "Patologia" de Tomás de AquinoDocument11 pagesTranstorno Bipolar: A Normal "Patologia" de Tomás de AquinoLincoln Haas Hein100% (1)
- O problema de Deus na filosofia moderna e contemporâneaDocument12 pagesO problema de Deus na filosofia moderna e contemporâneaLucas GesteiraNo ratings yet
- Caderno de Aulas Dialético - Julgamento de SócratesDocument40 pagesCaderno de Aulas Dialético - Julgamento de SócratesHali CabralNo ratings yet
- Carta de Descartes sobre declinações do ímãDocument6 pagesCarta de Descartes sobre declinações do ímãneirsouzaNo ratings yet
- Administração Mercadológica - Geral - Apostila PDF - 132 Pág.Document132 pagesAdministração Mercadológica - Geral - Apostila PDF - 132 Pág.HugodePayensNo ratings yet
- A Teoria Tridimensional Do DireitoDocument5 pagesA Teoria Tridimensional Do DireitoPaulo FidélisNo ratings yet
- A tradição intelectual do pensamento ocidentalDocument8 pagesA tradição intelectual do pensamento ocidentalChiara ContinenzaNo ratings yet
- Elias Canetti e Theodor Adorno - Diálogo Sobre As MassasDocument17 pagesElias Canetti e Theodor Adorno - Diálogo Sobre As MassasEttore Dias MedinaNo ratings yet
- Educação e DemocraciaDocument19 pagesEducação e DemocracialeoamphibioNo ratings yet
- Abrantes - Do Método Biográfico em Sociologia Da EducaçãoDocument27 pagesAbrantes - Do Método Biográfico em Sociologia Da EducaçãoDarbi SuficierNo ratings yet
- Administração de CooperativasDocument103 pagesAdministração de CooperativasIolanda Santos100% (1)
- Clifford, J. Sobre A Autoridade EtnográficaDocument26 pagesClifford, J. Sobre A Autoridade EtnográficaVivian Lee100% (4)
- Psicanáslise e NeurociênciaDocument11 pagesPsicanáslise e NeurociênciaDouglas Naegele100% (1)
- Logica ClassicaDocument46 pagesLogica ClassicaChrystian StoccoNo ratings yet
- Rudolf Carnap: vida, obras e pensamentoDocument15 pagesRudolf Carnap: vida, obras e pensamentoLucas SimasNo ratings yet
- Darwin e Mendel no ensino de evoluçãoDocument23 pagesDarwin e Mendel no ensino de evoluçãoBruno TakahashiNo ratings yet
- Quase Biografia - Poesia e Pensamento em Drummond (Roberto Said)Document282 pagesQuase Biografia - Poesia e Pensamento em Drummond (Roberto Said)resch66No ratings yet
- Carlos Millan Dissertacao MateraDocument442 pagesCarlos Millan Dissertacao MateraAstolfo AraujoNo ratings yet
- Educação - Pesquisa, Complexidade e ContemporaneidadeDocument24 pagesEducação - Pesquisa, Complexidade e ContemporaneidadeprofessorseanNo ratings yet
- Formação professores BrasilDocument26 pagesFormação professores BrasilRubens LemsNo ratings yet
- Serie Vagalume Infantil Analise PDFDocument305 pagesSerie Vagalume Infantil Analise PDFjeronymomonteiroNo ratings yet
- Referencial Teórico UNIRBDocument10 pagesReferencial Teórico UNIRBantonioNo ratings yet
- O nascimento da Estatística e sua relação com o surgimento da Teoria de ProbabilidadeDocument6 pagesO nascimento da Estatística e sua relação com o surgimento da Teoria de ProbabilidadeLuis AnunciacaoNo ratings yet
- Gêneros Discursivos Irene Machado PDFDocument17 pagesGêneros Discursivos Irene Machado PDFMárcia Lupia100% (2)
- A arte como ação coletivaDocument10 pagesA arte como ação coletivaMaíra LemosNo ratings yet
- Ideias, conhecimento e causalidade em Descartes e HumeDocument7 pagesIdeias, conhecimento e causalidade em Descartes e HumeLiliana MatosNo ratings yet
- Direito Da Personalidade - Natureza Juridica, Delimitação Do Objeto e Relações Com o Direito ConstitucionalDocument26 pagesDireito Da Personalidade - Natureza Juridica, Delimitação Do Objeto e Relações Com o Direito ConstitucionalRodrigo Araújo ReülNo ratings yet
- Karl Popper e a Filosofia AustríacaDocument11 pagesKarl Popper e a Filosofia AustríacaPharis Jesus VegaNo ratings yet
- A Física Quântica Seria Necessária para Explicar A ConsciênciaDocument153 pagesA Física Quântica Seria Necessária para Explicar A ConsciênciaAlzamir FeijóNo ratings yet
- Interpretação Fenomenológico ExistencialDocument20 pagesInterpretação Fenomenológico ExistencialSteve CollierNo ratings yet
- Taxonomia facetada para teses e dissertaçõesDocument195 pagesTaxonomia facetada para teses e dissertaçõesRonnie Farias100% (1)
- (SMIT) A Representação Da ImagemDocument9 pages(SMIT) A Representação Da ImagemfariashcrfNo ratings yet