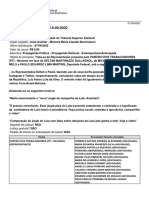Professional Documents
Culture Documents
Identidade Fragil
Uploaded by
Clara RohemCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Identidade Fragil
Uploaded by
Clara RohemCopyright:
Available Formats
Texto apresentado, em Praga em Outubro de 2000, ao Congresso da Federao Internacional da Aco dos Cristos para a Abolio da Tortura.
Texto publicado em Les droits de la personne en question Europe Europa 2000, publicao FIACAT.
Identidade frgil: respeito pelo outro e identidade cultural O filsofo Paul Ricoeur analisa o problema da identidade colocando a questo da memria, a da memria pessoal e da colectiva, num vaivm entre o nvel pessoal e o da comunidade. O que torna a identidade frgil, a relao ao tempo e a confrontao com o outro, sentida como uma ameaa. Uma violncia fundadora, legvel por todo o lado, conduz a comportamentos onde se opem os direitos da pessoa e a segurana institucional. Sem sanes, o direito quedase sob a guarda exclusiva do protesto moral. Estou contente com o facto de o nosso colquio da Federao Internacional da ACAT ter escolhido como tema a questo da identidade associada do reconhecimento de outrem. Esta questo coloca-nos, de facto, diante de uma grande perplexidade que se exprime sob a forma interrogativa: quem somos ns? De forma mais grave, somos de repente confrontados com o carcter presumido, alegado e suposto das revindicaes de identidade. Tal presuno instalase nas respostas que visam dissimular a ansiedade da questo. questo quem? Quem sou eu? Ns damos respostas que tm a forma de o qu? Que tm a seguinte forma: eis o que ns somos, ns outros. Somos assim, assim e no de outra maneira. A fragilidade da identidade que vai ocupar-nos de aqui a pouco, mostra-se na fragilidade destas respostas, que tm a forma de o que? e pretendem dar a receita da identidade afirmada e reclamada. A questo da memria Gostaria de consagrar o primeiro momento das minhas reflexes ao desdobramento da questo no plano pessoal e no colectivo. A questo quem? Pode ser colocada na primeira pessoa do singular: eu, ou na primeira pessoa do plural ns, ns outros. A legitimidade desse desdobramento foi experimentada por ocasio do problema da memria, que vai desempenhar um papel importante na nossa discusso atravs da narrativa e da histria. J no plano da memria, a questo do significado da identidade no fcil neste sentido em que pelo menos, primeira vista, a memria poder ser uma identidade no apenas pessoal mas ntima: recordar-se , ao mesmo tempo, recordar-se de si. Esta j a lio de Santo Agostinho nas Confisses e, na poca moderna, a do filsofo de lngua inglesa, John Locke. No Ensaio sobre o entendimento humano, este filsofo prope-se identificar todos os termos da seguinte srie: identidade, conscincia, memria, si. Por identidade, ele entende o primado do mesmo sobre o que ele chama a diversidade e que ns chamamos alteridade; isto, em virtude do princpio segundo o qual uma coisa a mesma e no uma outra. Esta identidade consigo mesmo que podemos seguir do tomo ao carvalho, que continua o mesmo da semente at 1
rvore, culmina com o si prprio que se reconhece, no momento da reflexo como o mesmo, atravs dos diferentes lugares e tempos. E a memria que atesta a continuidade da existncia e a permanncia de si mesmo. Tomada radicalmente, esta srie de equaes no deixa lugar para qualquer coisa semelhante a uma memria colectiva e, correlativamente, para uma ideia de identidade aplicada a grupos, a colectividades, a comunidades e a naes. Tratarse-ia, quando muito, de uma analogia possivelmente ilusria. No entanto, a experincia comum contrria a este puritanismo semntico. A memria no somente rememorao pessoal e privada mas igualmente comemorao, isto , memria partilhada. Vemo-lo nas nossas narrativas, nas nossas lendas, nas nossas histrias, em que os heris so povos, tal como indivduos; vemo-lo nas nossas festas com as suas celebraes e os seus rituais. No s a ideia de memria colectiva parece apropriada a uma experincia directa e imediata da memria partilhada, mas podemos tambm legitimamente perguntar se a memria pessoal, privada, no em grande parte um produto social: pensai no papel da linguagem na memria na sua fase declarativa: uma recordao diz-se na lngua materna, a lngua de todos, as nossas recordaes mais antigas, as da nossa infncia, representam-nos associados vida dos outros, em famlia, na escola e na cidade; muitas vezes juntos que evocamos um passado partilhado; por fim, o exame das situaes particulares como a da cura psicanaltica revela-nos que a rememorao mais privada no fcil e exige ser ajudada, at permitida, autorizada por um outro. Em suma, a nossa memria est desde sempre associada dos outros. Para encerrar rapidamente esta discusso prvia, gostaria de dizer que a atribuio da memria a algum uma operao muito complexa que pode ser legitimamente efectuada em benefcio de todas as pessoas gramaticais: eu recordo-me, ele/ela recorda-se, ns, eles/elas, recordam-se. Esta atribuio mltipla da memria ser doravante o nosso guia na sequncia das nossas anlises e autorizar um vaivm incessante entre o nvel da pessoa e o da comunidade. Vamos ver que este encadeamento de tal ordem que, em certos casos de identidade colectiva, colocar de forma mais viva e mais inquietante o problema da sua justificao, ou seja, da sua purificao, ou cura, uma vez que verdade que as nossas memrias colectivas, so memrias feridas, doentes mais ainda do que as nossas memrias pessoais. Estando provisoriamente regulada esta questo da atribuio de igual direito de memria e, atravs da memria, de identidade a pessoas e comunidades, podemos confrontar-nos com a maior dificuldade, a da fragilidade da identidade. Ser ao longo desta segunda fase da nossa investigao que se impe o confronto com a alteridade de outrem, tanto no plano individual como no plano colectivo. O que ser que origina a fragilidade da identidade? necessrio indicar a relao difcil da identidade com o tempo como primeira causa da sua fragilidade; dificuldade primria que justifica o recurso memria enquanto componente temporal da identidade, em ligao com a avaliao do presente e a projeco prpria do futuro. Ora, a relao ao tempo cria dificuldades em virtude do carcter equvoco da noo do mesmo, implcita na do idntico. O que significa, com efeito, continuar a ser o mesmo atravs do tempo? Dediquei-me anteriormente a este enigma, para o qual propus distinguir dois sentidos do idntico, o mesmo como idem, same, gleich, o mesmo como ipse, self, selbst. Pareceu-me que a conservao de si no tempo repousa sobre um jogo complexo entre mesmidade e ipseidade, se ousarmos usar estes barbarismos; os aspectos prticos e anmicos 2
deste jogo equvoco so mais perigosos que os aspectos conceptuais e epistmicos. Direi que a tentao identitria, a irracionalidade identitriacomo diz Jacques Le Goff, consiste na retirada da identidade ipse pelo efeito da identidade idem, ou se preferirdes, no deslocamento, na deriva que conduz da flexibilidade prpria da conservao de si na promessa, rigidez inflexvel de um carcter, no sentido quase tipogrfico do termo. Paremos um pouco nesta primeira causa da fragilidade. Em virtude do que acabmos de dizer sobre a imbricao da memria individual e da memria colectiva, esta gesto difcil do tempo diz respeito s duas espcies de memria. No plano individual aprendemos com a psicanlise como difcil fazer memria e enfrentar o nosso prprio passado. O sujeito est exposto a traumatismos e feridas afectivas; e, observa Freud num ensaio famoso intitulado Rememorao, Repetio, Perlaborao (Errinern, Wiederholen, Durcharbeiten), tem a propenso de ceder compulso da repetio que o psicanalista atribui s resistncias do recalcamento. O resultado que o sujeito repete os seus fantasmas em vez de os elaborar; e mais do que isso deixa que eles se transformem em acto, segundo gestos que o ameaam a si e aos outros. A analogia torna-se evidente ao nvel da memria colectiva: as memrias dos povos so memrias feridas, assombradas pela recordao das glrias e das humilhaes de um passado longnquo. Podemos at espantarnos e inquietar-nos pelo facto de a memria colectiva apresentar uma verso caricatural desses acessos de repetio e de passagem a acto, sob a forma da assombrao de um passado indefinidamente repisado. preciso mesmo reconhecer que o trabalho de memria mais difcil de conduzir no plano colectivo do que no plano individual e que as possibilidades da cura psicanaltica neste caso no tm equivalncia. Onde se situaria o equivalente transferncia? E o do colquio? Quem o psicanalista? Quem pode dirigir o trabalho de perlaborao, de working through? A questo torna-se mais perturbadora ainda quando acrescentamos, ideia de trabalho da memria, a de trabalho da dor. Um outro ensaio de Freud diz que esta consiste no tratamento emocional da perda do objecto de amor e, por isso, tambm no tratamento da perda do objecto de dio. O sujeito convidado a romper os laos resultantes dos seus investimentos libidinosos, um a um, sob o duro constrangimento do princpio de realidade, oposto ao princpio do prazer. o preo a pagar por um desinvestimento libertador; de outro modo, o sujeito conduzido pelo caminho que leva da dor melancolia, depresso, ou perda do objecto junta-se a da estima de si, desse Ichgefhle de que fala Freud. A este respeito, devemos ser alertados por uma nota deste ensaio: falando dos sujeitos melanclicos, Freud diz que os seus lamentos so acusaes [Ihre Klagen sind Anklagen]. Tudo se passa como se o dio de si se transformasse em dio de outrem na funesta qumica da melancolia. O resultado desta anlise que o trabalho da memria sobre si no se efectua sem um trabalho de dor, o qual no se resume lamentao passiva, mas consiste num trabalho feito sobre a perda, que levada at reconciliao com o objecto perdido, no termo da sua completa interiorizao. Os paralelos com o plano da memria colectiva no faltam; a noo de objecto perdido encontra uma aplicao directa nas perdas que afectam igualmente o poder, o territrio e as populaes que constituem a substncia de um Estado. As dificuldades em fazer o luto so aqui at mais graves do que no plano individual. Da o carcter equvoco das grandes celebraes funerrias em torno das quais se rene um povo mortificado. E a frase ihre Klagen sind Anklagen soa de modo sinistro, a esse nvel. O facto perturbador que a memria 3
das feridas mais longa e mais tenaz no plano colectivo do que no plano individual; os dios so a milenares e inconsolveis. Da a impresso de excesso que elas transmitem: demasiada memria aqui, demasiado esquecimento acol. A mesma memria repetitiva, a mesma memria melanclica conduz alguns passagem a acto, visvel nas violncias que no so simblicas e outros repetio assassina das feridas antigas. no plano da memria colectiva, mais ainda talvez do que no da memria individual, que a comparao entre trabalho da dor e trabalho da recordao toma todo o seu sentido. Tratando-se de feridas de amor-prprio nacional, podemos justamente falar de objecto de amor perdido. sempre com as perdas que a memria ferida obrigada a confrontar-se. O que ela no sabe fazer o trabalho que a experincia da realidade lhe impe - um abandono dos investimentos pelos quais a libido continua ligada ao objecto perdido enquanto a perda no for definitivamente interiorizada. Mas esta igualmente a ocasio de sublinhar que esta submisso experincia da realidade, constitutiva do verdadeiro trabalho de dor, faz tambm parte integrante do trabalho da recordao. No que diz respeito componente melanclica das perturbaes da memria colectiva, podemos inquietar-nos com a ausncia de paralelismo no plano teraputico. Podemos quando muito, apelar pacincia relativamente aos outros e a si mesmo; o trabalho de dor no exige um tempo menor do que o trabalho de memria. O Outro como ameaa Vou agora evocar uma segunda fonte de fragilidade da identidade: sentir a confrontao com o outro como uma ameaa. um facto que o outro, porque outro, chega a ser entendido como um perigo para a prpria identidade, para a do ns e para a do eu. Podemos, com certeza espantar-nos com isto: ser que necessrio que a nossa identidade seja frgil ao ponto de no poder suportar, de no poder sofrer o facto de os outros terem formas, diferentes das nossas, de conduzirem a sua vida, de se compreenderem e de inscreverem a sua prpria identidade na trama do viver em conjunto? de facto assim. So realmente as humilhaes, os danos reais e imaginrios estima de si, sob os golpes sofridos por uma alteridade mal tolerada, que transformam a relao que o mesmo mantm com o outro, levando-a do acolhimento rejeio e excluso. Ser possvel analisar mais profundamente esta reaco hostil ao outro? Podemos talvez encontrar uma raiz biolgica para ela, na defesa imunitria do organismo, como acontece na rejeio do intruso no caso dos transplantes; o organismo defende ferozmente a sua identidade, salvo em duas excepes, que so mais do que excepes: o cancro e a gestao do embrio. A este respeito, a sida d um exemplo perturbador da astcia do intruso que negoceia a passagem atravs dos ferrolhos da imunidade. Passa-se aqui qualquer coisa nas fronteiras da clula e do organismo: as operaes de reconhecimento e de identificao desenrolam-se nestes casos, reguladas por cdigos precisos. Esta defesa identitria toma formas propriamente humanas, a partir do instante em que intervm o fenmeno da lngua. Apesar dos xitos relativos da traduo e das trocas lingusticas, as lnguas no so hospitaleiras umas para as outras. Surge a este nvel qualquer coisa de comparvel defesa imunitria do plano biolgico; a linguagem, porm, constitui a mediao essencial entre a memria e a narrativa; as memrias articulam-se em narrativas: Hannah Arendt diz algures 4
que a narrativa diz o quem da aco. Logo, a narrativa contribui facilmente para o fechamento da identidade de uma memria sobre ela mesma; as minhas recordaes no so as vossas; em necessidade elas excluem as vossas. Para complicar as coisas, acresce ao sentimento de ameaa resultante de uma alteridade mal tolerada, a relao de inveja que cria no menos obstculos ao reconhecimento de outrem; a inveja, diz um dicionrio, consiste num sentimento de tristeza, de irritao e de dio contra quem possui um bem que no temos. A inveja torna intolervel a felicidade dos outros. dificuldade de partilhar a infelicidade, junta-se a recusa de partilhar a felicidade. Seria preciso mostrar aqui como ao lado passivo da inveja se junta o lado activo da rivalidade, na posse; Ren Girard constri, a partir desse desejo de usufruir de uma vantagem, de usufruir de um prazer igual ao do outro, a sua teoria da mimesis e ainda a sua interpretao do fenmeno do bode expiatrio como sendo uma sada da rivalidade mimtica que resulta da reconciliao de todos contra um. Esses fenmenos de defesa, de rejeio e de inveja convidam-nos a ultrapassar a distncia entre identidade individual e identidade colectiva; o fenmeno nuclear o do carcter ameaador que constitui a simples existncia de um outro diferente de mim para a integridade do meu si mesmo. Esta ameaa ressurge a uma escala desmedida no plano colectivo. As colectividades tm tambm um problema de defesa imunitria quase biolgica. mesmo a esta grande escala que se deixam ler fenmenos que nada tm de equivalente, no plano pessoal, a no ser por transferncia inversa do plano colectivo para o plano da identidade pessoal. Trata-se dos fenmenos de manipulao que podemos atribuir a um factor inquietante e multiforme que se intercala entre a reivindicao identitria e as expresses pblicas da memria. O fenmeno est ligado com a ideologia cujo mecanismo continua naturalmente dissimulado; ao contrrio da utopia, com a qual a ideologia merece colocada a par, ele inconfessvel; dissimula-se transformando-se em denncia dos adversrios, no campo da competio entre ideologias; sempre o outro que estagna na ideologia. Alm disso, ele funciona a mltiplos nveis. Mais prximo da aco ele constitui uma estratgia incontornvel, enquanto mediao simblica que depende de uma semitica da cultura (Geertz); a este ttulo de factor de integrao que a ideologia pode jogar um papel de guardi da identidade. Mas esta funo de salvaguarda no vlida sem as manobras de justificao num dado sistema de ordem ou de poder, quer se trate das formas da propriedade, das da famlia, da autoridade, do Estado e da religio. Todas as ideologias giram, em definitivo, em torno do poder. Delas, passamos facilmente aos fenmenos mais aparentes de distoro da realidade em que os adversrios se comprazem em acusar-se mutuamente. Veremos em seguida a que nvel os idelogos podem intervir no processo de identificao de si prprio de uma comunidade histrica: ao nvel da funo narrativa. A ideologia da memria tornou-se possvel por meio das potencialidades de variao que o trabalho de configurao da narrativa oferece. Toda a narrativa selectiva. No narramos tudo, mas apenas os momentos notveis da aco que permitem a encenao por meio da intriga, que envolve no s os eventos narrados mas os protagonistas da aco, os personagens. Daqui que possamos contar sempre de modo diferente. esta funo selectiva da narrativa que abre manipulao a oportunidade e os meios de uma estratgia ardilosa que consiste desde logo mais numa estratgia do esquecimento, tanto quanto da rememorao. Dessas estratgias relevam as tentativas exercidas por certos grupos de presso quer estejam no poder, na oposio ou refugiados em minorias provocadoras, para impor uma histria autorizada, uma histria 5
oficial, assumida e celebrada publicamente. De facto, no plano institucional, uma memria praticada uma memria ensinada; a memorizao forada assim recrutada em benefcio da rememorao das peripcias da histria comum conservadas pelos acontecimentos fundadores da identidade comum. O fechamento da narrativa , assim, posto ao servio do fechamento identitrio da comunidade. Histria ensinada, histria aprendida, mas igualmente histria celebrada. memorizao forada acrescentam-se as comemoraes convencionadas. Desta feita, estabelece-se um pacto forte entre rememorao, memorizao e comemorao. Esta manipulao da histria no a especialidade dos regimes totalitrios; ela apangio de todos os zelos da glria. Dissemos o suficiente relativamente a esta segunda causa da falibilidade da memria e da sua explorao ideolgica. Uma das respostas a esse tipo de manipulaes deve ser procurada no mesmo nvel em que elas se exercem, por privilgio. O da narrativa. Podemos, sempre contar de outra forma. No entanto, este recurso no s se abre distoro dos factos, como crtica da manipulao. Narrar diferentemente, confrontando narrativas divergentes, como os historiadores aprenderam a fazer no plano da crtica dos testemunhos, narrativas essas tornadas documento e arquivo. Confrontar as narrativas , desde logo, deixar-se narrar pelos outros e em particular deixar que os outros contem as nossas narrativas fundadoras, e assim aceder a uma encenao diferente dos acontecimentos que esto na base das nossas celebraes comunitrias ou nacionais. Tocamos aqui nos correctivos que a histria pode exercitar em relao memria. Alm da sua amplitude no espao e no tempo, a histria fornece o estmulo da comparao, por meio da qual somos convidados a reinterpretar a nossa identidade como diferena em relao s identidades adversas. nesta via que pode voltar-se contra si mesma a tendncia inicial para sentir o confronto com outrem como uma ameaa para a prpria identidade, seja esta a do ns ou a do eu. Confortar a sua identidade, sem recusar a do outro e sem a maltratar, o ttulo da nossa sesso. A narrativa crtica pode faz-lo contra as narrativas da irracionalidade identitria. A herana da violncia fundadora Para finalizar, gostaria de evocar uma ltima causa da fragilidade da identidade, a herana da violncia fundadora. Esta ltima considerao aproxima-nos das preocupaes principais da nossa Federao Internacional da ACAT: a tortura. Enquadramo-la num contexto mais largo ao evocar o que eu acabei de chamar a herana da violncia fundadora. um facto que no existe histria que no tenha nascido de uma relao, que se pode dizer original, com a guerra. O que ns celebramos sob o ttulo de eventos fundadores so, no essencial, actos violentos legitimados antes de mais por um Estado de direito precrio e, no limite, pela sua prpria antiguidade, pela sua vetustez. No por acaso que os fundadores da filosofia poltica, com Hobbes cabea, colocaram o receio da morte violenta na base do reflexo de segurana no qual se enxertam as formas variadas e divergentes do princpio de soberania. No sentido forte do termo, a segurana que os indivduos esperam do Estado, independentemente da forma como este procede na sua resposta ao receio da morte violenta ao nvel institucional. Evocar este receio, lembrar o lugar do homicdio na gnese do poltico. Podemos perguntarnos legitimamente se esta cicatriz foi alguma vez apagada, mesmo nos Estados de direito. As marcas da violncia so legveis por todo o lado. No plano individual, a persistncia do esprito 6
de vingana est no corao do esprito de justia. Evidentemente que o Estado desarmou os cidados, privando-os da possibilidade de fazerem justia por si mesmos; mas concentrou nas suas mos o exerccio da violncia reputada como legtima; toda a punio, por mais proporcionada que seja ao delito e ao crime, adiciona um sofrimento quele que infligido ao agressor. E entre as sanes, a pena de morte, justificada no incio do sculo por toda a Europa, continua a ser praticada em muitos Estados, alis, democrticos. Quer isto dizer que o exerccio da morte violenta no foi erradicado dos nossos Estados de direito. Prope-se neles uma discordncia de um tipo particular, que distingue de forma radical o plano poltico do plano privado na ordem das relaes exteriores. A saber, que os comportamentos de hostilidade entre os povos ou os seus Estados so de uma ordem distinta das relaes de inimizade entre particulares; estas permanecem acessveis ao compromisso, transaco. Ao nvel dos Estados prevalece a relao amigo inimigo que provoca danos nas situaes em que a sobrevivncia ou a integridade da comunidade esto em jogo. Sabemos de que forma um pensador poltico como Carl Schmitt concluiu nesta linha de pensamento. O que quer que pensemos, o problema agudo da guerra e do seu direito cruel continua actual. O que dizer, em particular, do assentimento dado ao homicdio nos perodos de guerra? Matar no apenas permitido mas exigido. Ora, sabemos bem que sob a cobertura do pretenso direito de guerra que a tortura foi e ainda praticada. Claro que foram impostos limites a este pretenso direito pela comunidade internacional, com a designao de crimes de guerra, para j no falar do genocdio e dos crimes contra a humanidade. Ora, a tortura e os tratamentos desumanos figuram entre os crimes de guerra. Mas esse direito permanece destitudo de sanes, continua apenas a sob a guarda exclusiva do protesto moral. Devemos pelo menos saber porque que protestamos e militamos. em nome da ideia de dignidade de todo o ser humano, mesmo culpado; do seu direito a considerao. Porque, por trs do fazer sofrer esconde-se uma humilhao que gostaria que o outro perseguido perdesse o respeito por si e se desprezasse. Aqui o meu discurso encontra-se com os dos outros oradores deste colquio e os de todos os seus participantes. .
You might also like
- Políticas Públicas e Governo Local - Exercício Avaliativo 1Document9 pagesPolíticas Públicas e Governo Local - Exercício Avaliativo 1Renan50% (4)
- Excludentes No Direito Penal - Ilicitude, Culpabilidade, TipicidadeDocument16 pagesExcludentes No Direito Penal - Ilicitude, Culpabilidade, TipicidadeIgor SantosNo ratings yet
- Olavo de Carvalho vs. Reinaldo AzevedoDocument76 pagesOlavo de Carvalho vs. Reinaldo AzevedoJoão Pedro GarciaNo ratings yet
- Plano Nacional de Cultura PDFDocument102 pagesPlano Nacional de Cultura PDFVera Vicc100% (1)
- Nvivh9 ppt1Document20 pagesNvivh9 ppt1odeteNo ratings yet
- Codigo de Etica IlustradoDocument16 pagesCodigo de Etica IlustradoMaria Conceição OliveiraNo ratings yet
- Paul Ricoeur - Memória, História, EsquecimentoDocument7 pagesPaul Ricoeur - Memória, História, EsquecimentoThiago AlvarengaNo ratings yet
- Acta Avulsa NºDocument3 pagesActa Avulsa NºANONIMONo ratings yet
- Questionário Unidade I (2017/1Document7 pagesQuestionário Unidade I (2017/1oruam nonneNo ratings yet
- O Povo Iorubá: Origem, Cultura e ReligiãoDocument106 pagesO Povo Iorubá: Origem, Cultura e ReligiãoQueliNo ratings yet
- Ricoeur-Imaginacao e MetaforaDocument10 pagesRicoeur-Imaginacao e MetaforaCarlos OrellanaNo ratings yet
- CienciasDocument5 pagesCienciasClara RohemNo ratings yet
- Conhecimento de SiDocument7 pagesConhecimento de SiClara RohemNo ratings yet
- O Bom Uso Das Feridas Da MemoriaDocument4 pagesO Bom Uso Das Feridas Da MemoriaClara RohemNo ratings yet
- Educação de Mesquita sucumbeDocument2 pagesEducação de Mesquita sucumbeClara RohemNo ratings yet
- Abordagem Triangular, autobiografia e aprendizagem em ArteDocument10 pagesAbordagem Triangular, autobiografia e aprendizagem em ArteUriel BezerraNo ratings yet
- Requerimento - PMCEDocument2 pagesRequerimento - PMCEluizhafNo ratings yet
- Decisao Gatos Salvador 1 - 020320205651Document2 pagesDecisao Gatos Salvador 1 - 020320205651ddudee2No ratings yet
- Terapias holísticas e direito no BrasilDocument13 pagesTerapias holísticas e direito no BrasilLarissa AssisNo ratings yet
- Conceitos Fundamentais do Estado e Teorias Políticas ClássicasDocument21 pagesConceitos Fundamentais do Estado e Teorias Políticas ClássicasAna VicenteNo ratings yet
- Decisão Maria Claudia BucchianeriDocument10 pagesDecisão Maria Claudia BucchianeriManoela AlcântaraNo ratings yet
- Assistente Social Como Trabalhador Assalariado-RaichelisDocument15 pagesAssistente Social Como Trabalhador Assalariado-RaichelisNatalia CoelhoNo ratings yet
- Lava Jato: aprendizado e ação estratégica na JustiçaDocument268 pagesLava Jato: aprendizado e ação estratégica na JustiçaRenato SilvaNo ratings yet
- Análise de Políticas PúblicasDocument38 pagesAnálise de Políticas PúblicasLaunelleNo ratings yet
- Deputados Distritais Apoiam Reeleição de Rafael PrudenteDocument4 pagesDeputados Distritais Apoiam Reeleição de Rafael PrudenteMetropolesNo ratings yet
- Caderno em Poesia Direito AdministrativoDocument408 pagesCaderno em Poesia Direito AdministrativoJair TerraNo ratings yet
- PORTARIA #300, DE 3 DE SETEMBRO DE 2018 - Imprensa NacionalDocument6 pagesPORTARIA #300, DE 3 DE SETEMBRO DE 2018 - Imprensa NacionalDibson FloresNo ratings yet
- Trabalho de SociologiaDocument3 pagesTrabalho de Sociologiaallyn camposNo ratings yet
- Normas jurídicas e atuação policial nas eleiçõesDocument30 pagesNormas jurídicas e atuação policial nas eleiçõesEwertonNo ratings yet
- Tratado de Direito Privado Tomo47Document217 pagesTratado de Direito Privado Tomo47Wilson GomesNo ratings yet
- 6 Relação Entre Economia e o Direito Resumo Aula 2 Economia PoliticaDocument2 pages6 Relação Entre Economia e o Direito Resumo Aula 2 Economia PoliticaSimone Drumond IschkanianNo ratings yet
- Pet 10474 - DecisãoDocument7 pagesPet 10474 - DecisãoTacio Lorran SilvaNo ratings yet
- Mercado de Terras No Brasil PDFDocument446 pagesMercado de Terras No Brasil PDFAntonio P. OliveiraNo ratings yet
- Exercícios de Fixação - Módulo IDocument4 pagesExercícios de Fixação - Módulo IRafael AlvesNo ratings yet
- B2 - O Poder Imperial E As Instituições Políticas: Nome: N.: Turma: Class.: Assinatura Do Prof.: Assinatura Do EE.Document2 pagesB2 - O Poder Imperial E As Instituições Políticas: Nome: N.: Turma: Class.: Assinatura Do Prof.: Assinatura Do EE.ricardojorgecruzNo ratings yet
- Edital Assembleia Extraordinária Virtual 29.05.2023Document2 pagesEdital Assembleia Extraordinária Virtual 29.05.2023JulaiRohrbacherNo ratings yet
- +a Geografia e o Resgate Da AntigeopoliticaDocument20 pages+a Geografia e o Resgate Da AntigeopoliticaCristian Abad RestrepoNo ratings yet