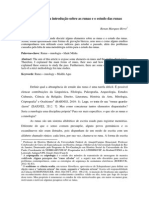Professional Documents
Culture Documents
Liberalismo
Uploaded by
Downloader180Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Liberalismo
Uploaded by
Downloader180Copyright:
Available Formats
DONALD STEWART JR.
O QUE O
LIBERALISMO
5
9
EDIO
REVISTA E AUMENTADA
IL
INSTITUTO
LIBERAL
RIO DE JANEIRO /1995
Copyright Donald Stewart Jr., 1988.
Direitos reservados para publicao:
INSTITUTO LIBERAL
Rua Professor Alfredo Gomes, 28
CEP 22251-080- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- Brasil
Printed in Brazilt1mpresso no Brasil
ISBN 85-85054-43-3
Reviso tipogrfica
REGINA ISABEL VASCONCELLOS SILVA
Editorao eletrnica
SANDRA GUASTI DE A. CASTRO
Projeto grfico
EDUARDO MUNIZ DE CARVALHO
Ficha catalogrfica elaborada pela
Biblioteca Ludwig von Mises do Instituto Liberal - RJ
Responsvel: OTVIO ALEXANDRE JEREMIAS DE OLIVEIRA
Stewart Jr., Donald, 1931 -
S849e
5.ed.
O que o liberalismo I Donald Stewart Jr. - 5. ed. rev. aum.- Rio
de Janeiro : Instituto Liberal, 1995.
118 p.
ISBN 85-85054-43-3
1. Liberalismo. 2. Economia de mercado. 3. Interveno do estado.
4. Escola austraca. 5. Ao social. 6. Poltica fiscal. 7. Brasil. I. Instituto
Liberal, Rio de Janeiro. 11. Ttulo.
CDD. 320.510981
AGRADECIMENTOS
Que o meu primeiro agradecimento seja a Caio Graco Prado,
por me ter solicitado um texto que explicasse o que o liberalismo.
No fosse essa "provocao", talvez este livro no tivesse sido
escrito.
Aos amigos Og Francisco Leme, Jorge Gerdau Johannpeter,
Jorge Simeira Jacob, Maria Helena e Otvio Salles, Roberto Deme-
terco, Srgio Andrade de Carvalho e Alexandre Guasti, os meus
agradecimentos por terem com seus comentrios e observaes me
ajudado a rever e a complementar alguns conceitos que precisavam
ser melhor enunciados.
A Jos Guilherme Merquior, um especial agradecimento pela
gentileza de ter encontrado uma parcela de tempo para ler o original
e por t-lo saudado de forma to generosa.
A Vera Castello Branco, que teve de enfrentar, por um lado,
um microcomputador nacional (sempre a reserva de mercado!) que
freqentemente enguiava, perdendo a memria de inmeras laudas
j digitadas, e, por outro lado, o autor debutante- cuja inexperincia
obrigava a que o texto fosse revisto e corrigido um nmero de vezes
muito acima do tolervel -, o meu agradecimento por t-lo feito com
invarivel bom humor e delicadeza.
A Adayl, minha querida mulher, cujo exame atento e severo foi
to importante durante a elaborao deste trabalho, agradecer seria
um pleonasmo; a ela dedico carinhosamente este livro.
INTRODUO
Captulo 1:
O "RENASCIMENTO" DO PENSAMENTO LIBERAL
O apogeu do liberalismo
O declnio do liberalismo
O abandono do liberalismo
A social-democracia
A lgica do intervencionismo
A explicitao da idia liberal
O ''renascimento" do pensamento liberal
A divulgao das idias liberais
O neoliberalismo
Captulo 2:
Ao humana
A sociedade humana
A cooperao social
SUMRIO
11
19
19
22
23
26
26
28
31
33
34
37
37
40
41
As regras de justa conduta
O mercado
O lucro
A funo empresarial
A competio
A igualdade de oportunidade
A acumulao de capital
Gesto empresarial e gesto burocrtica
O "grau de servido"
A importncia da economia
A importncia das instituies
Captulo 3:
O QUE O LIBERALISMO
Os pilares do liberalismo
Liberdade econmica
Liberdade poltica
Princpios gerais
O papel do Estado
A diviso de poderes
A garantia do mnimo
Os impostos
As tarifas aduaneiras
Autoridade monetria
Declarao de princpios
Captulo 4:
A SITUAO BRASILEIRA
Apndice:
43
45
47
50
52
56
60
62
63
65
67
71
72
73
75
76
77
79
81
82
83
85
88
93
ALGUNS CASOS CONCRETOS DA REALIDADE BRASILEIRA 103
A previdncia social compulsria 103
O monoplio estatal do petrleo 105
A dvida externa 107
As concorrncias pblicas 1 09
Os investimentos e as tarifas 11 O
BIBLIOGRAFIA
113
LIBERALISMO a suprema forma de generosidade; o direito que a
maioria concede minoria e portanto o grito mais nobre que j ecoou neste
planeta. o anncio da determinao de compartilhar a existncia com o
inimigo; mais do que isso, com um inimigo que fraco. incrvel como a
espcie humana foi capaz de uma atitude to nobre. to paradoxal, to
refinada e to antinatural. No ser portanto de estranhar que essa mesma
humanidade queira logo se livrar desse compromisso. uma disciplina por
demais difcil e complexa para firmar-se definitivamente na Terra.
ORTEGA Y GASSET
em A revolta das massas
INTRODUO
O extraordinrio progresso da humanidade a partir do final do
sculo XVIII um fato incontestvel. Telefone, televiso, eletricidade,
comodidades que h duzentos anos nem os reis podiam imaginar,
hoje, esto disposio da maioria dos indivduos que no conse-
guem sequer conceber como seria possvel viver sem essas comodi-
dades. Foi uma transformao muito grande, sem paralelo na histria
da humanidade. No obstante desejarem usufruir desse progresso
cientfico e tecnolgico, no obstante no estarem dispostos a renun-
ciar aos seus benefcios, no obstante lutarem por alcanar um poder
aquisitivo cada vez maior para melhor usufruir desses confortos,
esses mesmos indivduos, inadvertidamente, liderados por suas res-
pectivas elites intelectuais adotam uma postura ideolgica de conde-
nao s causas, s teorias, aos princpios que tornaram possvel
esse enorme aumento da riqueza. Esse verdadeiro divrcio entre
causa e efeito tem impedido a humanidade de alcanar um nvel ainda
maior de desenvolvimento e de prosperidade.
Efetivamente, est se tornando cada vez mais difcil conciliar
o desejado aumento de riqueza com a obstruo economia de
mercado; compatibilizar investimentos com a obstruo circulao
11
-
de capitais; harmonizar o progresso tecnolgico com o desapreo
propriedade privada dos meios de produo; elevar o padro de vida
dos trabalhadores, impedindo a competio empresarial. Em suma,
torna-se uma tarefa sobre-humana tentar atingir objetivos e ao mes-
mo tempo condenar, renegar, desprezar os meios que nos levariam
a atingi-los.
Apreciar os efeitos e condenar as causas um comportamento
dilacerante, esquizofrnico. Da a perplexidade, o atordoamento, a
revolta desordenada, a busca de falsos culpados para as nossas
mazelas; da tambm a crescente necessidade de esclarecer esse
paradoxo, de apontar as premissas erradas que deram origem a essa
contradio, de revelar os equvocos que a sustentam.
Jacques Monod, prmio Nobel de biologia, em seu notvel
ensaio O acaso e a necessidade, situa o fulcro dessa questo num
conflito epistemolgico: enquanto a cincia conseguiu alcanar um
extraordinrio progresso por ter se libertado de sua tradio animista,
o mesmo no ocorreu com os sistemas de organizao da sociedade,
que continuam a encarar os problemas sociais sob um enfoque
essencialmente religioso, seja ele de origem crist ou marxista.
Enquanto a cincia adota o conhecimento objetivo como nica fonte
de verdade autntica, "os sistemas enraizados no animismo esto
fora do conhecimento objetivo, fora da verdade, so estrangeiros e
definitivamente hostis cincia, que querem utilizar, mas no respei-
tar e servir". [46, p.188]'
O conhecimento objetivo que permite identificar os meios que
devemos adotar para melhorar as condies de vida do gnero
humano- desiderato comum a todas as ideologias nos propor-
cionado, sobretudo, pela cincia econmica. Pela correta compreen-
so da cincia econmica, mister que se acrescente, j que um
grande nmero de economistas parece acreditar que a preocupao
de natureza social ou a imposio de natureza poltica so motivo
suficiente para adotar medidas que contrariam os fundamentos da
* Os nmeros entre colchetes, em todo este trabalho, referem-se bibliografia da
pgina 113. O primeiro nmero indica o livro e o segundo, a pgina.
12
economia e que, embora possam ser agradveis para algumas
pessoas ou durante o curto prazo, produzem conseqncias bastante
desagradveis para a maioria das pessoas, a longo prazo.
O liberalismo uma doutrina poltica que, utilizando ensina-
mentos da cincia econmica, procura enunciar quais os meios a
serem adotados para que a humanidade, de uma maneira geral,
possa elevar o seu padro de vida. At o princpio deste sculo,
s se podia formar uma idia sobre o iderio liberal a partir do
estudo das obras dos grandes mestres do liberalismo clssico e
dos diversos autores que os seguiram. A primeira tentativa - e,
tanto quanto estamos informados, a nica- de enunciar a doutrina
liberal foi feita por Ludwig von Mises em 1927. Na introduo de
seu livro Liberalismo, afirma ele:
"O liberalismo no uma doutrina completa e nem um dogma
imutvel. Pelo contrrio, a aplicao dos ensinamentos da cincia
vida social do homem. Assim como a economia, a sociologia e a
filosofia no permaneceram imutveis desde os dias de David Hume,
Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham e Wilhelm Humboldt,
assim tambm a doutrina do liberalismo diferente hoje do que foi
sua poca, muito embora seus princpios fundamentais tenham per-
manecido inalterveis. Durante muito tempo, ningum tomou a si a
tarefa de apresentar uma exposio concisa do significado essencial
dessa doutrina. Isso pode justificar nosso presente esforo em forne-
cer justamente este trabalho". [40, p.5]
Uma doutrina poltica que lida com as conseqncias futuras da
ao do homem, no sendo dogmtica, no sendo uma doutrina com-
pleta e acabada, e sofrendo os naturais ajustes decorrentes da evoluo
cientfica, est sujeita a ser enunciada de vrias formas; natural,
portanto, que uma investigao histrica sobre o liberalismo aponte uma
diversidade de escolas e interpretaes. Isto tem causado a impresso
de que o liberalismo uma idia desarticulada e- o que grave- permite
que a inegvel popularidade do conceito de liberdade, e de seus
derivados liberal, libertao, seja usada como um biombo para esconder
idias retrgradas e j superadas, como o mercantilismo e o Estado
provedor, que j no deviam ter adeptos desde que foram completa e
inequivocamente desmistificados pelas idias liberais.
13
Mas, as diversas formas com que tm sido enunciadas as
idias liberais so apenas variaes de um pequeno conjunto de
princpios que esto presentes em todos os autores verdadeiramente
liberais. Recentemente, em 1986, John Gray assim se manifestou
sobre essa "unidade" do liberalismo:
"H uma concepo especfica, de carter nitidamente moder-
no, que comum a todas as variantes da tradio liberal. Quais so
os elementos que compem essa concepo? Ela ndvdualsta,
porque sustenta a proeminncia moral do indivduo em relao aos
desejos de qualquer coletividade social; igualitria, na medida em que
confere a todos os homens o mesmo status moral, no admitindo que
existam diferenas de natureza poltica ou legal entre os seres
humanos; universalista, por afirmar a homogeneidade moral do g-
nero humano e atribuir uma importncia secundria a certos aspectos
histricos e culturais; e meliorista, por considerar a possibilidade de
correo e aperfeioamento das instituies sociais e polticas.
essa concepo do homem e da sociedade que d ao liberalismo uma
identidade que transcende a sua enorme diversidade e complexida-
de". (14, p. IX]
Se as vantagens de natureza prtica e os fundamentos de
natureza terica justificam que se proponha a adoo da doutrina
liberal na organizao da sociedade, esta proposta se torna irrecus-
vel, se considerarmos a sua enorme preocupao de natureza tica.
A tica sempre ocupou um lugar central no liberalismo, desde os seus
primrdios.
Adam Smith era professor de Filosofia Moral e de tica, na
universidade de Glasgow. Se o seu famoso livro Riqueza das naes
no lhe tivesse granjeado justa e merecida fama, de igual prestgio e'
reverncia seria merecedor por ter escrito, quase vinte anos antes, o
belo livro The Theory of Moral Sentiments. Enquanto naquele Smith
"lida com as motivaes mais fortes do gnero humano, neste trata
de suas motivaes mais elevadas" (60, p.1 ]. Sua viso "econmica"
fortemente condicionada por suas preocupaes de natureza tica
e moral.
A superioridade de natureza tica se evidencia pelo fato de
que, numa sociedade liberal sujeita a uma economia de mercado, s
14
pode ser bem-sucedido aquele que servir ao prximo, ao consumidor.
O caminho do sucesso depende necessariamente de se produzir algo
que, a juzo do consumidor, seja considerado melhor e mais barato.
Na economia de mercado, no so os empresrios, nem os agricul-
nem os capitalistas que determinam o que deve ser produzido.
Sao os consumidores. Mises ilustra bem a soberania do consumidor
ao mostrar que na economia de mercado cabe "aos empresrios a
de todos os assuntos econmicos. Esto no leme e pilotam
o nav1o. Um observador superficial pensaria que eles so os sobera-
nos. Mas no so. So obrigados a obedecer incondicionalmente s
ordens do capito. O capito o consumidor". O empresrio-piloto
obrigado a conduzir o navio ao destino que o consumidor-capito lhe
determinou. Se no obedecer s ordens do capito, se no obedecer
"s ordens do pblico tal como lhe so transmitidas pela estrutura de
preos, sofre perdas, vai falncia e , assim, removido de sua
posio eminente no leme do navio. Um outro que melhor satisfizer
os desejos dos consumidores o substituir". (41, p.40]
No se deve confundir liberalismo com conservadorismo. Na
liberais e conservadores s tm em comum a sua oposio
ao soc1ahsmo. Como prevalece de uma maneira geral a iluso de que
o espectro poltico seja linear, os liberais ora so colocados direita
dos conservadores, ora mais ao centro. Nada mais equivocado. Na
realidade, se quisermos usar uma figura geomtrica para ilustrar
0
espectro poltico, melhor seria usar o tringulo, onde teramos, nos
seus vrtices, socialistas, conservadores e liberais. O excelente
posfcio de Friedrich A. Hayek em seu livro Os fundamentos da
liberdade- "Por que no sou um conservador" - uma convincente
explicao de mais esse equvoco. (22, p.466]
A crescente evidncia do fracasso do socialismo como forma
de organizao social e a conseqente diminuio de sua ameaa
comeam a tornar as coisa mais claras; comeam a tornar possvel
separar o joio do trigo. Enquanto conservadores e socialistas se unem
para apoiar a interveno do Estado em favor do protecionismo, da
reserva do subsdio, os liberais pregam a abolio
desses pnv1leg1os; enquanto inmeros empresrios solicitam que
0
EsJ ado "proteja" a empresa privada, os liberais defendem o livre
15
mercado e a soberania do consumidor.
No Brasil, a ideologia dominante, o intervencionismo, que tem
impedido o nosso pas de ser uma nao livre e desenvolvida,
sustentada - ainda que por razes e com intensidades diferentes -
pelos socialistas que idolatram o Estado; pelos empresrios podero-
sos que no querem correr o risco do mercado; pelos conservadores
que se opem a mudanas; pelos militares que combatem o comu-
nismo, mas estatizam a economia; pelos sociais-democratas que so
liberais em poltica e socialistas em economia; pelos polticos popu-
listas que usam o Estado para dar conseqncia a sua demagogia;
pelos intelectuais que vem no Estado a nica chance de se projeta-
rem; pelos burocratas das estatais, que no querem perder suas
vantagens e suas mordomias; pelos religiosos e por todos aqueles,
enfim, que , sensveis s necessidades dos mais carentes, defendem
de alguma forma o Estado Provedor, sem perceber que esse no
o meio adequado para minorar o infortnio dos mais pobres.
O liberalismo se insurge contra essa ideologia dominante,
contra os que a sustentam. Liberalismo liberdade poltica e liberdade
econmica; ausncia de privilgios; igualdade perante a lei;
responsabilidade individual; cooperao entre estranhos; compe-
tio empresarial; mudana permanente; a revoluo pacfica que
poder transformar o Brasil no pas rico e prspero que inegavelmen-
te pode vir a ser.
O propsito deste pequeno livro o de tentar esclarecer e
informar, de maneira simples e condensada, o que o liberalismo,
segundo a corrente de pensamento habitualmente denominada de
Escola Austraca, que, a nosso ver, a que explicita a doutrina liberal
de forma mais completa e mais consistente. Para melhor compreen-
so do que seja o liberalismo, pareceu-nos necessrio descrever,
ainda que sumariamente (Cap. 1 ), a trajetria do pensamento liberal
desde o seu surgimento no sculo XVIII, seu apogeu no sculo XIX,
seu quase total esquecimento e abandono na primeira metade do
nosso sculo e, finalmente, o seu "renascimento" nesse final de
sculo. Pareceu-nos ainda necessrio analisar, tambm de forma
sumria (Cap. 2), os principais aspectos de sua base conceituai. Aps
enunciar os principais postulados da doutrina liberal (Cap. 3), para
16
que se percebam as conseqncias de natureza prtica em virtude
dos equvocos que vm sendo cometidos, acrescentamos uma an-
lise da situao brasileira (Cap. 4), para finalmente ilustr-la com o
exame de alguns casos concretos mais relevantes (Apndice). Pro-
curamos, desta forma, antecipar as respostas s perguntas que mais
freqentemente nos so feitas por jovens, por pessoas engajadas nas
ideologias socialistas e intervencionistas, e mesmo por aqueles que
so liberais porque a vida, o bom senso, assim os ensinou, embora
no tenham chegado a se interessar por conhecer as suas bases
tericas.
17
O apogeu do liberalismo
O "RENASCIMENTO" DO
PENSAMENTO LIBERAL
O liberalismo surgiu, gradativamente, como uma forma de
oposio s monarquias absolutas e ao seu correspondente regime
econmico, o mercantilismo.
O regime mercantilista pressupe a existncia de um Estado,
seja ele representado por uma monarquia ou por um governo repu-
blicano, com poderes para intervir na economia a fim de promover o
desenvolvimento e redistribuir a renda. Com esse objetivo, favores e
privilgios so concedidos s elites e aos grupos de presso (os
"mercadores", no sculo XVIII), na presuno de que assim se estaria
protegendo o cidado de algo desagradvel, ou proporcionando-lhe
algo desejvel. Devemos ter em mente que at o sculo XVIII a
produo. quer fosse de velas ou de tecidos, de l ou de seda, enfim,
a produo mercantil organizada dependia de uma concesso do
monarca, dos "favores do rei", que desta forma determinava quem iria
produzir o qu e qual a regio a ser abastecida por aquele produtor.
No raro o monarca reservava para si o privilgio de participar
em algumas dessas atividades, seja porque fossem extremamente
19
lucrativas, seja porque produziriam bens de grande luxo s acessveis
alta nobreza.
ilustrativo relembrar que quando Lus XIV, preocupado com
a m performance econmica de seu reinado, perguntou ao seu
ministro da Fazenda que medidas deveriam adotar para conter a
crescente insatisfao popular, ouviu como resposta: Lasser faire,
laissez passerl Essa expresso, que em nossos dias tem sido to
injusta e inadequadamente vituperada, no foi proferida com a cono-
tao anrquica e desumana que lhe atribuem; significa apenas: no
impea os outros de produzir, no impea a circulao de mercalo-
rias. Em suma: no conceda privilgios.
Pode-se dizer com inteira propriedade que naquela poca o
mercado interno era um patrimnio nacional ou seja, um patrocnio
do rei, que dele dispunha ao seu alvitre, concedendo privilgios aos
seus "amigos". No por mera coincidncia que essa expresso foi
colocada na nossa Constituio de 1 8 8 : porque aqui e agora, como
l e ento, vigorava o mesmo regime econmico, o mercantilismo.
O mercantilismo se baseia no conceito de que, quando algum
ganha, algum perde. Est implcita nessa noo a idia de que a
riqueza uma grandeza definida, de que a maior riqueza de uma
nao s poderia existir como fruto da pobreza de outras naes. A
quintessncia dessa doutrina a crena de que existe um conflito
irreconcilivel entre os interesses das vrias classes de um pas e,
mais ainda, entre os interesses de qualquer pas e os de todos os
outros pases.
A economia era portanto considerada como um jogo de soma
zero. A evoluo do conhecimento econmico viria a demonstrar
sociedade que a economia de mercado um jogo de soma positiva.
Numa troca livremente pactuada, ambas as partes saem ganhando
porque ambas preferem o stato quo post ao stato quo ante, ou ento
no teriam efetuado a troca.
Na poca das monarquias absolutas, a cincia econmica
ainda no existia como uma disciplina autnoma, separada dos
demais ramos do conhecimento humano; a idia liberal que surgia-
e se insurgia contra o poder absoluto dos monarcas- era de natureza
essencialmente poltica; as vantagens da liberdade econmica foram
20
usufrudas antes de serem explicadas.
Na esteira da liberdade poltica, na Inglaterra, comearam a
surgir movimentos em favor de medidas especficas de natureza
econmica, como por exemplo a abolio das Com Laws (leis que
garantiam a reserva de mercado de cereais aos produtores ingleses).
Entretanto, no chegou a haver uma explicitao do que seria uma
doutrina liberal de economia, nem tampouco se compreendia, naque-
1 ~ tempo, como funcionava o mercado. O prprio Adam Smith, con-
Siderado o fundador da cincia econmica, no chegou a explicar o
funcionamento do mercado. Limitou-se a relatar, com uma acuidade
extraordinria, como as coisas se passavam; descreveu o que existia
e que j era familiar aos seus contemporneos. De uma maneira
geral, suas observaes so simples e incontestveis; so registras
da realidade e continuam to verdadeiras hoje como ontem.
No final do sculo XVIII, a idia dominante entre as elites
intelectuais era o liberalismo. Ser um intelectual era sinnimo de ser
liberal. A partir de ento, o sopro da liberdade poltica e econmica
mudou a humanidade. Comearam a cair as monarquias absolutas
advm a separao entre a Igreja e o Estado; surge nos EUA ~
primeiro regime constitucional.
Embora mais tarde o liberalismo viesse a ser considerado uma
"explorao dos mais pobres", as grandes beneficirias de seu ad-
vento foram as massas. Seu principal galardo ter possibilitado um
crescimento populacional sem precedentes na histria da humanida-
de, acompanhado de um aumento na expectativa de vida e no
conforto material. O inegvel progresso econmico diminuiu a morta-
lidade infantil, criou empregos, aumentou a produtividade, possibilitou
a sobrevivncia de um grande nmero de pessoas que estavam
fadadas a morrer por inanio, misria e doena. A humanidade
ganhou anos de vida, com mais conforto.
At mesmo Marx, no Manifesto comunista, reconhece que, " ...
em cem anos, o predomnio do capitalismo criou foras produtivas
mais macias e colossais do que todas as geraes precedentes em
conjunto".
H os que pensam, curiosamente, que esse desenvolvimento
seria inevitvel, natural, e que os empresrios e os capitalistas apenas
21
dele se "aproveitaram", ficando com a melhor parte. No pode haver
equvoco maior. Em economia, freqentemente apreciamos os efei-
tos e condenamos as causas; apreciamos o aumento de riquezas,
mas condenamos a propriedade privada, o lucro, o livre comrcio, a
liberdade de produzir, que so os fatores geradores da riqueza. E,
sem perceb-lo, ao anular as causas, impedimos os efeitos. A fbula
da galinha dos ovos de ouro continua vlida, mais do que nunca!
O declnio do liberalismo
O prprio sucesso do liberalismo, do chamado capitalismo, o
fato de ter gerado uma riqueza sem precedentes, sem que a sua base
terica tivesse sido enunciada, viria a minar as instituies sociais que
o tornavam possvel. No se sabendo por que tanta riqueza era
gerada, aquilo que cem anos antes ningum possua passou a ser
considerado um "direito" de todos.
Esse equvoco foi grandemente fortalecido pelo sucesso da
teoria marxista, no s em funo do que Marx escreveu, mas,
sobretudo, em funo do que seus seguidores e discpulos espalha-
ram pelo mundo. Marx acreditava que o comunismo seria, inexora-
velmente - por determinismo histrico -, a etapa seguinte do capita-
lismo (que, segundo ele mesmo, havia criado "foras produtivas mais
macias e colossais do que todas as geraes precedentes em
conjunto"). Era portanto indispensvel a prvia criao de riqueza
para que ela fosse socializada; no lhe passava pela cabea comu-
nizar uma sociedade pobre. Se quisermos comparar o tom proftico
de Marx com as observaes de Adam Smith, teremos de reconhecer
o fato de que um lida com iluses, enquanto o outro lida com a
realidade.
Mas compreensvel que as idias marxistas e socialistas
tenham despertado a devoo das massas. As massas, observa
Eugen von Bhm-Bawerk, "no buscam a reflexo crtica; simples-
mente seguem suas prprias emoes. Acreditam na teoria da explo-
rao porque ela lhes convm, lhes agrada, no importando que seja
falsa. Acreditariam nela mesmo que sua fundamentao fosse ainda
22
pior do que ". [5, p. 123]
Esse comportamento, nas massas, compreensvel; o mes-
mo, entretanto, no se pode dizer no caso das elites intelectuais e
polticas. Na verdade, essas elites tm preferido defender medidas
de cunho intervencionista que, embora momentaneamente agrad-
veis, provocam necessariamente efeitos perversos. Por outro lado,
rejeitam as propostas de liberalizao da economia que, embora
momentaneamente desagradveis, produziriam efeitos amplamente
benficos num futuro prximo. A reiterao desse tipo de escolha tem
impedido que muitos pases, sobretudo os menos desenvolvidos,
alcancem um maior e to desejado nvel de riqueza e de desenvolvi-
mento.
No obstante, convm lembrar que at 1914, no mundo oci-
dental, no havia controle e nem imposto sobre a renda; no havia
restrio aos movimentos de pessoas e de capitais; no havia Banco
Central e as moedas tinham seu valor equivalente em ouro - no
havia inflao; o recrutamento nacional era mnimo e raro, e jamais
uma medida de sustentao de guerra. Tudo isso se modificaria.
O abandono do liberalismo
O fim da Primeira Guerra Mundial marca o advento da implan-
tao de regimes totalitrios de conseqncias desastrosas para a
humanidade. Na URSS surge o primeiro regime comunista, cuja
feio verdadeiramente genocida s veio a ser revelada recentemen-
te por autores como Soljenitsin, e cuja ineficincia e incapacidade de
proporcionar o bem-estar para as massas comeam agora a ser
reconhecidas pelo prprio Gorbachev. Na Itlia, com a implantao
do regime fascista, cria-se o stato corporativo, um regime hbrido que
mantm a propriedade privada apenas na aparncia, submetendo-a,
entretanto, inteiramente, s determinaes e s ordens do poder
central. Na Alemanha, o regime nazista (nacional-socialista), com
caractersticas idnticas ao fascismo italiano, deflagra a Segunda
Guerra Mundial e promove o maior genocdio da histria da humani-
dade. O notvel livro Modem Times, do historiador Paul Johson,
23
descreve esse perodo com uma riqueza de detalhes e de informa-
es inexcedvel, especialmente no que diz respeito aos crimes
monstruosos cometidos por Hitler e Stalin. [27, p. 285-31 O]
As idias corporativistas tiveram grande aceitao: receberam o
apoio da Encclica Papal Quadragsimo Anno, de 1931, influenciaram
decisivamente a doutrina do partido nazista alemo e de inmeros outros
movimentos fascistas em diversos pases. No Brasil, foi notria a sua
influncia na dcada de 30, durante a ditadura de Getlio Vargas.
curioso notar que hoje em dia nenhum partido se denomina de nacional-
socialista (nazista), embora muitos deles defendam ardorosamente as
idias nacionalistas e socialistas. Preferem usar denominaes como
"democrtico", "liberal", "social", "progressista".
Essa confuso semntica est hoje largamente disseminada.
No leste europeu, os regimes de partido nico se auto-intitulam de
"democrticos"; a ndia, que sempre viveu sob o mais odioso regime
de castas, e os rabes, que s conheceram os regimes mais violentos
e autocrticos, falam de sua "tradid' democrtica; nos EUA, "liberal"
designa os que defendem o Estado provedor ( welfare state), a tal ponto
que os verdadeiros liberais tiveram de se refugiar sob a denominao
de "libertrios"; no Brasil, lderes polticos que defendem as idias
mercantilistas do sculo XVIII se auto-intitulam de "progressistas".
As conseqncias dessa confuso semntica so muito mais
graves do que possam parecer primeira vista. A popularidade das
noes de liberdade, democracia, progresso usada para defender
idias e conceitos que sem dvida contrariam frontalmente o inequ-
voco sentido desses termos.
tambm no perodo entre guerras que tem incio a expanso
e disseminao mundial das idias comunistas, fortemente apoiadas
pela Unio Sovitica. Curiosamente, essa expanso s encontraria
receptividade nos pases mais pobres e mais atrasados, e no nos
pases desenvolvidos que, pelo menos luz da teoria marxista, so
os que estariam em condies de ingressar na era socialista que se
seguiria ao perodo capitalista.
Para completar esse quadro de abandono da idia liberal,
comeam a fazer sucesso, no mundo ocidental, as idias de Keynes
que defendia- com uma aura de saber cientfico a interveno do
24
Estado na economia, a fim de corrigir os maus resultados e as
desagradveis conseqncias do ciclo econmico, atribudas, por
essas teorias, ao funcionamento da economia de mercado. "Enfatizo
fortemente a necessidade de aumentar o poder de compra nacional
atravs do aumento dos gastos do governo, financiados por emprs-
timos" disse ele em 1933 [27, p.555]. Aps a Segunda Guerra
Mundial, essa "nfase" viria a se tornar a estrela-guia da poltica
econmica de muitos pases. Hoje, temos de suportar as conseqn-
cias malficas da disseminao dessas idias: basta lembrar que em
1966, pela primeira vez, a inflao americana ultrapassava a taxa
anual de 3% e a taxa de juros atingia o ento surpreendente nvel de
6% [27, p.556]. Pela primeira vez os polticos podiam alegar uma base
terica - poder-se-ia dizer at mesmo cientfica - para as supostas
benesses da interveno do Estado. A demagogia, que at ento no
tinha como cumprir suas promessas, sendo por isso mesmo razoa-
velmente limitada, ganhou uma nova dimenso, pois passou a ser
feita s custas do errio pblico e da inflao.
Tambm merece meno o fato de Keynes ter sido um dos
maiores responsveis, na conferncia de Bretton Woods em 1944,
pela criao do Banco Mundial e do Fundo Monetrio Internacional.
O papel desempenhado por essas instituies- especialmente pelo
Banco Mundial- no processo de estatizao da economia brasileira,
em particular, e latino-americana, em geral, ainda no foi devidamen-
te reconhecido. Com efeito, o enorme volume de financiamentos
concedidos pelo Banco Mundial s empresas estatais contribuiu
decisivamente para a expanso dessas empresas e, consequente-
mente, para agravar os resultados negativos decorrentes do fato de
setores importantes e bsicos da economia nacional serem inteira-
mente controlados e dependentes da ao governamental.
O sucesso do socialismo e do intervencionismo ofuscou intei-
ramente o liberalismo. No perodo entre as duas guerras, as idias
liberais estavam inteiramente esquecidas. Quase nada era publicado
sobre o assunto e do pouco que se escrevia o mundo no tomava
conhecimento. As idias socialistas-intervencionistas, por outro lado,
floresciam. Livros eram editados; todos os artistas e intelectuais
m-Anifestavam-se em favor do socialismo e do intervencionismo.
25
A social-democracia
Com a derrota da Alemanha na guerra, desaparecem os regi-
mes de cunho nazi-fascista; em contrapartida, o regime comunista
consolida-se na URSS e no leste europeu e expande-se pela frica
e sia. Entretanto, a idia socialista-comunista comea, gradativa-
mente, a perder seu encanto graas evidente falta de liberdade e
de resultados concretos. O economista e historiador norte-americano
Irving Kristol observou, com razo, que o fato poltico mais importante
do sculo XX o fracasso do socialismo como forma de organizao
social.
Mas, curiosamente, a condenao aos regimes comunistas ou
socialistas concentra-se no fato de neles no existir liberdade poltica;
se fosse possvel, presume-se, "democratizar" o socialismo, podera-
mos enfim reunir as vantagens da democracia, desejada por todos,
com as benesses do socialismo, imaginadas por muitos. Surge assim
a social-democracia, ou seja, o corpo de idias que combina a
liberdade no plano poltico com o intervencionismo estatal no plano
econmico.
No Terceiro Mundo e sobretudo na Amrica Latina, a social-
democracia adotada por quase todos os partidos polticos. Sendo
liberal, democrata, em poltica e socialista, intervencionista, em eco-
nomia, promete mais do que pode dar (comportamento tpico do
populismo). De frustrao em frustrao, vacilante e inoperante dian-
te da realidade que no consegue entender, procura enfrentar os
problemas apenas pela via retrica e acaba gerando o desejo de
interveno, a fim de "pr a casa em ordem"(regimes militares). Essa
alternncia de militares e populistas, ambos intervencionistas, tem
sido a saga da Amrica Latina e a grande causa de sua m perfor-
mance econmica.
A lgica do intervencionismo
importante que nos detenhamos um pouco sobre o interven-
cionismo, e sobre o que deve ser entendido como interveno.
26
Interveno uma norma ou uma medida de carter restritivo, impos-
ta pelo governo, que obriga as pessoas a empregarem os seus
recursos de forma diferente da que fariam se no houvesse a inter-
veno.
Imaginam os intervencionistas que, se as pessoas forem dei-
xadas livres para usarem os seus recursos, no o faro da melhor
maneira. A interveno, pois, se faz necessria para obrigar os
indivduos a agirem de forma diferente da que agiriam se fossem
deixados livres. Presume-se que, assim procedendo, as pessoas em
geral sero beneficiadas.
Essa a lgica da interveno.
A interveno , portanto, um ato autoritrio; implica em reco-
nhecer que as pessoas no devem ser livres para escolher, que
precisam da tutela de um chefe, do Estado, que sabe o que melhor
para o cidado. O intervencionismo obriga a que haja a submisso
do consumidor ao Estado. Esse o seu equvoco bsico. O liberalis-
mo, ao contrrio, defende a soberania do consumidor.
Os resultados da interveno nunca so os desejados, nem
mesmo os desejados pelo prprio interventor. A interveno beneficia
apenas algumas pessoas ou alguns grupos, ou mesmo um grande
nmero de pessoas a curto prazo, mas invariavelmente produz con-
seqncias desagradveis para a grande maioria das pessoas a
longo prazo.
Os benefcios, por estarem concentrados em algumas pessoas
ou em alguns grupos, ou por estarem concentrados no curto prazo,
so bem percebidos, so anunciados e exaltados. Os malefcios, por
estarem difusos entre o grande nmero e a longo prazo, no chegam
a ser bem percebidos.
O fato de os benefcios serem bem percebidos e os malefcios
no o serem gera entre interventores e os que defendem a interven-
o- ao constatarem que os resultados desejados no foram atingi-
dos- uma certa perplexidade, uma busca de falsos culpados para as
mazelas que foram provocadas pela prpria interveno.
A culpa da nossa pobreza passa a ser atribuda ao FMI -e
rompe-se com o Fundo; dvida externa- e decreta-se a moratria
ganncia dos empresrios- e congelam-se os preos; s
27
cionais - e alguns pases chegam a expuls-las de seu territrio;
falta de leis que estabeleam maiores direitos para os trabalhadores -
e novas leis estabelecendo o que se convencionou chamar de "con-
quistas sociais" so promulgadas.
Mas, apesar de tudo isso, as mazelas persistem. Para comba-
t-las, novas intervenes so propostas; as intervenes anteriores
so consideradas tmidas. preciso intervir mais. E o processo
continua.
Todos deviam ter em mente a lio de Henry Hazlitt no seu
excelente livro Economia numa nica lio: "A arte da economia est
em considerar no s os efeitos imediatos de qualquer ato ou poltica,
mas, tambm, os mais remotos; est em descobrir as conseqncias
dessa poltica, no s para um nico grupo, mas para todos eles".
[24, p.5]
A explicitao da idia liberal
No perodo entre as guerras, quando as idias liberais haviam
sido completamente abandonadas, Ludwig von Mises, austraco,
aluno do grande economista Carl Menger, publica sua "teoria da
moeda e do crdito" [44], com contribuies originais cincia eco-
nmica sobre as razes da ocorrncia de fenmenos como o ciclo
econmico e a inflao; publica tambm Socialismus [43], uma con-
tundente crtica ao socialismo como forma de organizao econmica
da sociedade. Neste trabalho, von Mises demonstra, de maneira
ineludvel, a impossibilidade do clculo econmico numa sociedade
socialista levada s suas ltimas conseqncias. O socialismo uma
contradio: os objetivos almejados no podem ser alcanados com
os meios propostos.
As dificuldades para o funcionamento da sociedade socialista,
antevistas por Mises h mais de cinqenta anos, s agora comeam
a ser reconhecidas. A inexistncia de um mercado como mecanismo
de formao de preos e de transmisso de informaes, impossibi-
litando portanto a efetivao do clculo econmico com base em
preos reais, o que leva Gorbachev a afirmar em seu livro Peres-
28
troika: "A essncia do que planejamos fazer em todo o pas a
substituio dos mtodos predominantemente administrativos por
mtodos predominantemente econmicos. O fato de devermos ter
uma computao exaustiva de custos bastante claro para as
lderanas soviticas". E, mais adiante, na mesma pgina: "Levar
dois ou trs anos para se preparar uma reforma da formao de preo
e do mecanismo de financiamento e crdito, e cinco a seis anos para
se passar ao comrcio atacadista nos meios de produo". [13, p. 98,
99]
A tentativa de alcanar a quadratura do crculo com que se
debate o lder sovitico fica evidente quando afirma, aps setenta
anos de vigncia do regime sovitico: "A prtica de, para todas as
questes, esperar instrues de cima, confiando nas decises toma-
das em nvel superior, ainda no foi abolida ... A questo que as
pessoas se desacostumaram a pensar e agir de modo responsvel e
independente". E mais adiante: "A idia de Lnin, de encontrar as
formas mais eficazes e modernas de se combinar a propriedade
coietiva com o interesse pessoal, a base de todas as nossas buscas,
de todo o nosso conceito de transformao radical da administrao
econmica". E mais adiante ainda: ."Acreditamos que o problema
fundamental ainda continua sendo a combinao dos interesses
pessoais com o socialismo". [13, p. 71, 93 e 1 OS] Infelizmente Gorba-
chev prope que a superao dessas contradies seja alcanada
pelo fortalecimento do regime socialista, ou seja, prope a superao
dos efeitos com o agravamento das causas.
Para no merecer a mesma crtica que feita a Marx - a de
ter escrito uma extensa condenao do capitalismo sem nunca ter
enunciado o que seria um regime socialista- Mises publica, em 1927,
Uberalismus. Nesse livro, o autor explicita, pela primeira vez, o que
seja a doutrina liberal. Expe criteriosamente os fundamentos do
liberalismo; analisa os conceitos de liberdade, propriedade, paz,
igualdade, Estado, governo, democracia, riqueza, tolerncia, partidos
polticos. Descreve como deveria ser a organizao da economia;
examina os problemas de poltica internacional: o direito de autode-
terminao, o nacionalismo, o imperialismo, o colonialismo, o comr-
cio internacional.
29
Suas obras, escritas em alemo entre as duas guerras, no
chegaram a ter entre os povos de lngua inglesa a repercusso a que
faziam jus. Na Alemanha de Hitler, Uberalismus foi proibido e teve
seus exemplares destrudos. (Na Alemanha Oriental, aps a Segunda
Guerra, continuava proibido). Esse fato fez com que Mises, aps ter
emigrado para os Estados Unidos, escrevesse em ingls sua obra
mxima: Human Action- A Treatise on Economics [39], publicada no
incio da dcada de 50. Em Human Action, Mises remete a cincia
econmica sua verdadeira essncia e razo de ser: a ao humana.
Ao humana entendida como um comportamento propositado que
visa a passar de um estado de maior desconforto para outro de menor
desconforto. Sem esta motivao, no h ao. a partir de postu-
lados simples e evidentes como este que Mises constri toda a sua
teoria econmica.
Em 1944, Friedrich A. Hayek, tambm austraco e discpulo de
von Mises, publica O caminho da servido [21], como que anunciando
o equvoco que a Inglaterra iria cometer, depois de ganhar a guerra,
se adotasse, como de fato o fez, a poltica intervencionista ento em
grande voga. Desde ento, entre muitos outros trabalhos, pblica Os
fundamentos da liberdade [22] e sua famosa trilogia Direito, legislao
e liberdade. [19]
Em sua obra, Hayek esclarece decisivamente o funcionamento
do mercado, ao mostrar que a maior parte do conhecimento humano
conhecimento disperso, distribudo entre os bilhes de habitantes
do planeta. A tarefa do mercado e do sistema de preos simples-
mente a de transmitir e processar essas informaes. O mal da
interveno no mercado reside precisamente em diminuir a transmis-
so de informaes; em fazer com que sejam tomadas decises
baseadas apenas num conjunto restrito de informaes, quais sejam,
as de que dispe o interventor ou o planejador central. Prope
tambm a demarquia (demos-archos, governo do povo) como forma
de organizao social e, no final da dcada de 70, de forma notvel,
em seu livro Desestatizao do dinheiro [18], prope a eliminao da
moeda de curso legal.
Essa seqncia de mestres e alunos austracos - Menger,
Bhm-Bawerk, Mises e Hayek - justifica a denominao de Escola
30
-
Austraca dada a essa corrente do pensamento econmico que, a
nosso ver, melhor define as bases tericas do liberalismo.
A grande contribuio da Escola Austraca consiste em ter
tornado explcito, pela primeira vez, de forma ordenada e consistente,
o que o liberalismo; em ter enunciado os fundamentos tericos
daquilo que, at ento, s era percebido pelas suas inegveis vanta-
gens de natureza prtica.
Se queremos alcanar resultados prticos, precisamos conhe-
cer qual a teoria que os explica; saber por que e como ocorrem. Ou
ento os resultados prticos no sero previsveis; sero meramente
acidentais e, portanto, no se repetiro. Embora existam teorias que
no tm efeitos prticos, no existem resultados prticos, consisten-
tes e duradouros sem que haja, por trs, uma teoria que os explique,
que esclarea as suas relaes de causa e efeito.
O "renascimento" do pensamento liberal
Se na primeira metade do nosso sculo as idias liberais
estiveram praticamente esquecidas e abandonadas, a segunda me-
tade vem assistindo ao que tem sido denominado de renascimento
do pensamento liberal.
A expresso renascimento no nos parece adequada, pois
indica fazer existir de novo o que existia antes. A rigor, a nosso ver,
a expresso nascimento se aplica melhor no caso. O fato de o
liberalismo s ter sido enunciado e explicitado recentemente nos
permite considerar o perodo anterior como um perodo de "gestao",
quando ainda no havia plena conscincia do que fosse o iderio
liberal. Na realidade, o liberalismo uma idia moderna e muito pouco
conhecida. A maior parte dos nossos contemporneos no sabe o
que o liberalismo porque no o viveu na prtica, e no o conhece
na teoria porque s agora as obras a seu respeito comeam a ser
divulgadas e traduzidas para os diversos idiomas.
No ps-guerra, o renascimento do pensamento liberal se faz
presente nos pases que Paul Johnson denominou de os "Lzaros da
Europa", referindo-se aos pases que ''ressuscitaram" depois da
31
Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, Adenauer, tendo Erhard
como ministro da economia; na Itlia, De Gasperi, tendo Einaudi como
seu mentor econmico; e na Frana, aps o retumbante fracasso da
Quarta Repblica, De Gaulle, tendo como chefe de sua assessoria
econmica Jacques Rueff, conseguem realizar o milagre de, em
prazo relativamente curto, soerguer economicamente os seus pases.
importante notar que Erhard, Einaudi e Rueff fazem parte do
pequeno grupo de economistas liberais que, juntamente com Hayek,
Mises e Friedman, fundaram, em 1947, a Sociedade Mont Pelerin,
que congrega at hoje adeptos do liberalismo em todo o mundo.
No Japo, um partido de cunho liberal permanece no poder h
quarenta anos, no podendo deixar de ser apontado como respons-
vel pelo seu grande sucesso econmico. Merece registro o fato de
que a constituio vigente no Japo, de corte marcadamente liberal,
foi promulgada aps a guerra pelo general Mac Arthur, comandante
em chefe das foras de ocupao. Na Inglaterra, por outro lado, o
predomnio da social-democracia, representada pelo Partido Traba-
lhista, conduz a uma grande estatizao da economia e ao seu
empobrecimento relativo. A nao inglesa, que havia vencido a
guerra e aspirava a uma posio de grande potncia juntamente com
os EUA e a Rssia, acaba, em relativamente pouco tempo, superada
pela Alemanha, Frana e Japo, e j tem sua posio ameaada pela
Itlia. O governo Thatcher procura reverter essa tendncia, a dotando
medidas arrojadas de privatizao da economia. Nesse seu intento,
fortemente influenciado pelo IEA -lnstitute of Economic Affairs. Em
1987, no jantar de comemorao dos trinta anos de fundao do I EA,
Margaret Thatcher reconhecia que o seu governo no teria sido
possvel sem a base ideolgica do IEA, cujo presidente, Ralph Harris,
foi presidente da Sociedade Mont Pelerin, no perodo 1983-84.
Tambm merece ser mencionado o perodo em que, na Argen-
tina, no governo Frondizi, lvaro Alsogaray, tambm membro da Mont
Pelerin, consegue em 22 meses reverter uma situao calamitosa
legada pelo primeiro governo Pern. Acaba com a inflao (os ndices
de preo permaneceram constantes nos ltimos trs meses de sua
gesto), ao mesmo tempo em que libera a economia concedendo
ampla liberdade para que o mercado estabelea os preos, os sal-
32
rios, a taxa de cmbio, as exportaes e as importaes. No mesmo
perodo, as reservas argentinas, que haviam sido dilapidadas, atingi-
ram em valores de hoje o equivalente a quase cinco bilhes de
dlares. Nesse perodo registrou-se a maior taxa de investimento em
muitas dcadas e, no ano de 1960, o peso argentino foi qualificado
pelo Comit Lombard de Londres como "a moeda estrela do ano". Por
razes polticas, o presidente Frondizi interrompe essa breve expe-
rincia liberal, e a Argentina, assim , retorna social-democracia e ao
populismo estatizante. [1, p.4]
No leste asitico, tem merecido destaque o desempenho eco-
nmico de pases como Coria, Formosa, Cingapura e Hong-Kong,
fortemente apoiados na livre iniciativa, na taxa de cmbio livre (ou
pelo menos realista) e no grande comrcio internacional.
Enquanto isso, o Terceiro Mundo, perdido na retrica social-
democrata ou em regimes verdadeiramente socialistas, continua a
lamentar a sua sorte e a apontar falsos culpados para as suas
mazelas.
H que se reconhecer a regularidade de resultados num caso
e no outro. imperioso tirar as lies dessa experincia.
A divulgao das idias liberais
O renascmento do pensamento liberal vem recebendo um
forte impulso com a criao de institutos de carter essencialmente
doutrinrio, sem vinculao de natureza poltico-partidria, que se
propem a explicar e divulgar as vantagens da sociedade organizada
com base na democracia representativa no plano poltico, na econo-
mia de mercado no plano econmico e na mxima descentralizao
de poder no plano administrativo; as vantagens de uma sociedade
estruturada segundo os princpios da propriedade privada, do lucro,
da ausncia de privilgios e da responsabilidade individual.
O primeiro desses institutos foi criado por Anthony Fisher em
1957. Fisher, um ex-piloto da RAF, e que iniciava sua carreira
empresarial num bem-sucedido negcio de criao de galinhas, tendo
lido O caminho da servido, decide entrar para a poltica e procura
33
Friedrich Hayek a fim de manifestar-lhe essa sua disposio de
contribuir para que no ocorresse o que o livro dramaticamente
prenunciava. Hayek desaconselha esse tipo de ao e recomenda
que seja criado um instituto com o propsito ostensivo de divulgar as
idias liberais atravs da publicao de livros, realizao de confe-
rncias, elaborao de polticas alternativas para serern oferecidas
aos diversos candidatos e promoo de debates entre os defensores
das idias liberais e os das idias intervencionistas. Assim surgiu o
lnstitute of Economic Affairs- IEA.
A partir de ento, institutos vm sendo criados em diversos
pases, sempre com o mesmo propsito. Na Amrica Latina, j
existiam na Argentina, no Chile, no Peru, na Venezuela, na Costa
Rica, na Guatemala e no Mxico, quando, em 1 983, foi criado o
Instituto Liberal no Rio de Janeiro. Hoje j existem tambm os Instituto
Liberal de So Paulo, do Paran, do Rio Grande do Sul, de Minas
Gerais, da Bahia, de Pernambuco e de Braslia, atuando com esse
mesmo propsito, qual seja, o de divuigar, de explicar, de convencer
os membros da sociedade quanto s vantagens da idia liberal.
As palavras com que Ludwig von Mises termina o seu Lbera-
lismus refletem bem o esprito que preside o trabalho que vem sendo
desenvolvido por esses institutos:
Jamais uma seita, um partido poltico, acreditou que fosse possvel
divulgar a sua causa apelando para a razo humana. Preferem
recorrer retrica bombstica, s canes e s musicas retumbantes,
s bandeiras coloridas, s flores e aos smbolos; seus lderes procu-
ram criar vnculos pessoais com seus seguidores. O liberalismo no
tem nada a ver com tudo isso. No tem flores nem cores, no tem
msicas nem dolos, no tem smbolos nem s/ogans. Tem substncia
e argumentos. Isso h de conduzi-lo vitria.
O neoliberalismo
Quando este livro foi escrito (1 988) ainda no havia ocorrido a
queda do muro de Berlim e quase ningum se atrevia a qualificar-se
34
como liberal. Ser liberal era sinnimo de ser retrgrado, conservador,
insensvel, de estar na contramo da histria. A grande maioria das
pessoas se qualificava como socialista ou social-democrata. Era difcil
encontrar algum que admitisse no ser "de esquerda". A vergonha
de no ser socialista era tanta que o bloco parlamentar que tentou se
opor a ferocidade intervencionista da nossa Constituio de 1988 se
auto-intitulava "Centro". Salvo as honrosas excees, quem no
comungasse com as idias socialistas se dizia de centro-esquerda
ou ento de centro. Nunca mais do que isso.
O embate que ento se travou foi entre a esquerda que se
autoproclamava progressista, sensvel s necessidades dos mais
carentes, e o centro, que procurava transmitir a impresso de serem
pessoas sensatas e equilibradas. Afinal, como muita gente acredita
que n mdio virtus, essa posio andina pde gerar uma certa
simpatia. Foi o embate entre a ideologia equivocada (o socialismo) e
o vazio ideolgico (o centro). O roto contra o esfarrapado!
De l para c muita coisa mudou. Com a divulgao de
inmeras obras de autores verdadeiramente liberais e com a evidn-
cia emprica do fracasso do socialismo muitas pessoas comearam
a defender publicamente a abertura e a privatizao da economia
bem como o fim dos monoplios estatais.
Curiosamente, essas pessoas passaram a ser qualificadas
pelos seus oponentes como neoliberais e as idias, ainda que
vagas, que defendiam, de neoliberalismo. A alienao jurssica
das esquerdas brasileiras, diante do coro cada vez maior dos que
defendiam reformas que nos aproximassem mais de uma econo-
mia de mercado, deve t-las feito supor que essas idias teriam
algo de novo, ou pelo menos que seriam uma verso algo moder-
nizada de idias antigas.
Da talvez o prefixo neo que a literatura internacional sobre
liberalismo desconhece. Essa designao prevalece apenas no Brasil
e, pelas mesmas razes, em alguns pases da Amrica Latina.
O liberalismo no pretende ser uma idia moderna ou nova;
pretende ser uma idia correta e adequada para atingir o objetivo
comum de todas as ideologias, qual seja, elevar o padro de vida das
populaes em geral. J no final do sculo XVIII defendia Jeremy
35
Bentham "o maior bem-estar para o maior nmero". No h nada de
novo nisso!
A qualificao de neoliberal s aplicvel a um socialista que
se tornou liberal. O prefixo neo, no caso, se aplica ao indivduo e no
s idias que ele passou a defender que, como j se salientou, no
tm nada de novo.
Apesar de ventos mais favorveis s idias liberais em geral e
economia de mercado em particular, a designao liberal ainda
vista pela maior parte de nossos polticos como um apodo. Recente-
mente, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o vice-presidente
Marco Maciel, para citar apenas os dois mais proeminentes, vieram
a pblico para se defender da "acusao" de serem liberais- que lhes
fazem seus opositores - dizendo-se social-democrata o primeiro, e
social-liberal (seja l o que isso signifique), o segundo.
No obstante, no desempenho de suas funes, tm defendido
medidas e posturas coincidentes e compatveis com as que os liberais
h muito defendem.
Como dizia Victor Hugo: "nada mais forte do que uma idia
cujo tempo chegou".
36
Ao humana
AO HUMANA
E ECONOMIA
Desde tempos imemoriais, a condio humana, o comporta-
mento do homem, tem ocupado o centro das preocupaes dos
grandes expoentes da humanidade, de seus maiores pensadores e
filsofos. No obstante, foi s no sculo XX que a ao humana
passou a ser considerada e estudada do ponto de vista de suas
inexorveis regularidades; passou a ser considerada como o objeto
de uma cincia e no mais apenas como um padro de comporta-
mento desejvel. Ludwig von Mises denominou a cincia da ao
humana de praxeologia (praxis-ao, prtica + /oga-cincia, teoria).
A economia vem a ser uma parte - a parte mais elaborada e mais
estudada dessa nova cincia.
Mises comea o seu monumental livro Ao Humana: um
tratado de economia, definindo ao humana como sendo um com-
portamento propositado: visa a passar de um estado de menor
satisfao para um estado de maior satisfao. Pode-se tambm
dizer que ao humana a realizao de uma vontade, a tentativa
de atingir objetivos, a resposta do homem s condies do meio
37
ambiente, o seu ajustamento ao universo que lhe determina a vida.
So noes esclarecedoras, complementares. Mas a definio em si
completa e suficiente. [39, p.11]
Toda ao humana visa, a priori, a substituir um estado de
menor satisfao por um estado de maior satisfao ou, o que d no
mesmo, a substituir um estado de maior desconforto por um estado
de menor desconforto. O aumento de satisfao o lucro propiciado
pela ao. Lucro, no seu sentido mais amplo, o objetivo de toda
ao. Ao agir, o homem no faz mais do que escolher os meios para
realizar esse objetivo. O que cada um considera um estado de coisas
mais satisfatrio depende de um julgamento de valor individual e,
portanto, subjetivo. Varia de pessoa para pessoa e, na mesma
pessoa, de um momento para outro.
Dizer que o objetivo da ao humana , a priori. o de substituir
um estado de coisas menos satisfatrio por outro mais satisfatrio
significa dizer que ao ser humano no dada a opo de algumas
vezes preferir uma situao mais satisfatria e, outras vezes, uma
situao menos satisfatria; significa dizer que o homem s age para
aumentar a sua satisfao, ou para diminuir o seu desconforto. Essa
irrefutvel regularidade produz conseqncias e precisa ser levada
em conta na escolha dos meios para atingir os fins escolhidos. Afeta,
portanto, e decisivamente, a cincia econmica.
Essa caracterstica bsica e essencial da ao humana o que
Mises denomina de um ultima te given que traduzimos como "um dado
irredutvel". um conceito apriorstico e evidente em si mesmo, a
partir do qual Mises desenvolve a sua teoria. A praxeologia e a
economia seriam assim cincias axiomtico-dedutivas - como a
lgica e a matemtica, distintas das cincias naturais como a fsica e
a qumica, que so cincias hipottico-dedutivas.
Embora portanto no sejam adequadas comparaes com as
leis fsicas e nem se queira atribuir s leis econmicas qualquer
carter mecanicista, para ilustrar o conceito podemos dizer que
afirmar essa regularidade da ao humana equiv!.le a afirmar que a
gravidade terrestre atua sobre um corpo no espao, sempre, como
uma fora que o faz se aproximar da Terra. Imaginar que a gravidade
possa, em algum momento ou em alguma circunstncia, atuar de
38
modo a que um corpo se afaste da Terra to inconcebvel quanto
imaginar que a ao humana possa ter como objetivo um estado de
coisas menos satisfatrio ou mais desconfortvel.
O homem, ao agir, escolhe; entre duas coisas que no pode
ter ao mesmo tempo, seleciona uma e abandona a outra. Ao,
portanto, no apenas escolher algo, como, necessariamente, re-
nunciar s suas respectivas alternativas. O pr-requisito que impele
o homem ao sempre algum desconforto. Um homem perfeita-
mente contente com a sua situao no teria motivo para agir. Mas,
para que o homem aja, no basta a existncia de um desconforto e
a imagem de uma situao mais favorvel; preciso tambm que o
comportamento propositado tenha condies de remover, ou pelo
menos de aliviar, o desconforto. Se no houver essa possibilidade,
nenhuma ao produzir os efeitos desejados; o homem ter de se
submeter ao inevitvel.
A economia no tem nada a dizer em relao escolha dos
fins; limita-se a investigar que meios devem ser utilizados para que
os fins escolhidos sejam atingidos. O problema econmico decorre,
basicamente, do fato de os meios serem escassos e os fins alterna-
tivos ilimitados. Ao utilizar um meio escasso para atingir um determi-
nado fim, o homem renuncia a inmeros outros fins que poderiam ser
atingidos com aquele mesmo meio. Neste sentido, pode-se dizer que
o custo de uma ao, de uma escolha, corresponde a tudo aquilo a
que se renunciou em virtude da escolha feita. Se os meios no fossem
escassos, se no houvesse custos, todos os fins poderiam ser
simultaneamente atingidos; seria o paraso. O problema seria mera-
mente de natureza tcnica e no econmica.
importante assinalar que a escolha, tanto dos objetivos quanto
dos meios, sempre individual e nunca coletiva. Os homens podem ter
objetivos em comum e usar os mesmos meios para atingi-los, mas isso
no configura uma deciso coletiva ou do coletivo. O fato de que, numa
comunidade, os objetivos e os meios habitualmente escolhidos sejam
genericamente os mesmos configura apenas o que se costuma chamar
de estgio cultural de uma coletividade, de um povo.
Ao no a mesma coisa que trabalho. Ao significa empre-
gar meios para atingir fins. Geralmente o trabalho um dos meios
39
usados. Mas, muitas vezes, basta um sorriso, uma palavra para que
o objetivo seja atingido. Falar ou ficar calado, sorrir ou permanecer
srio podem ser formas de ao.
A ao humana est sempre voltada para o futuro. Nesse
sentido, sempre especulativa. O homem age visando a alcanar
uma situao futura mais satisfatria, quer esse futuro seja remoto
ou apenas o prximo instante. Sua mente imagina condies que lhe
sejam mais favorveis e sua ao procura realiz-las.
importante ainda notar que comportamento propositado dis-
tingue-se nitidamente de comportamento instintivo, isto , dos refle-
xos e das respostas involuntrias das clulas, rgos e nervos do
corpo humano. Tambm no se deve confundir a ao com as
motivaes psicolgicas que influem na escolha de um determinado
comportamento. As reaes instintivas do corpo humano e as moti-
vaes de natureza psicolgica so apenas fatores que, juntamente
com muitos outros, determinam a s ~ o l h a a ser feita pelo ser humano
e, portanto, a sua ao.
So essas as condies gerais da ao humana. importante
compreender que essa definio de ao humana no comporta
excees. universal. a mesma na Rssia ou nos Estados Unidos;
no regime comunista ou no regime capitalista. Ningum poder
apontar um perodo da histria ou uma vaga tribo da Nova Zelndia
em que seja outra a concepo de ao humana. Ao, tal como foi
definida, uma categoria intrnseca ao gnero humano, indissocivel
do ser humano. Sem ela o homem perde a sua caracterstica mais
essencial que o distingue dos animais.
A sociedade humana
O fato de a ao humana ter sempre por objetivo substituir uma
situao menos satisfatria por outra mais satisfatria a razo de
existir o que se denomina de progresso ou desenvolvimento em geral,
e desenvolvimento econmico em particular. Essa regularidade, essa
lei, levou o homem, ao longo de sua histria, a selecionar os meios
que melhor lhe propiciassem a consecuo desse objetivo.
40
As chamadas instituies sociais que vieram a ser gradativa-
mente adotadas pelo homem, tais como a diviso do trabalho, a
cooperao social, a competio, a moeda, nunca foram, em si,
objetivos estabelecidos a priori. A priori, o objetivo da ao humana
apenas aumentar a satisfao ou diminuir o desconforto. As insti-
tuies que o homem escolhe para atingir os seus fins so apenas
meios. A descoberta e a adoo desses meios so muito mais fruto
do intercmbio annimo e no planejado do que de uma inteno
prvia e deliberada. No foram imaginadas a priori, por algum crebro
privilegiado, para serem a seguir adotadas. So fruto de uma seieo
natural; so o que Hayek denomina de uma "ordem espontnea". [19,
V.l - p.35-59]
J nos seus primrdios o homem percebeu que a diviso do
trabalho e a sua conseqncia natural, a troca di reta, resultavam num
meio bastante eficiente de diminuir o desconforto. Surge ento na
humanidade o que se pode denominar de cooperao social. Surge
a sociedade humana.
Sociedade ao em concerto, cooperao: fruto do
comportamento propositado do homem. A origem da cooperao, da
sociedade e da civilizao, que transformaram o homem animal num
ser humano, se deve ao fato de o trabalho realizado sob o signo da
diviso do trabalho e da troca ser mais produtivo do que o trabalho
isolado, e ao fato de que a razo humana foi capaz de perceber essa
verdade, essa realidade.
Talvez, nesse processo de seieo de meios, o passo mais
importante tenha sido dado h alguns milnios, quando algum prima ta
percebeu que, em certas circunstncias, a renncia a algum prazer
imediato seria amplamente compensada por uma maior satisfao
futura. A partir da, talvez, os nossos primeiros catadores e caadores
tenham dado origem ao que viria a ser chamado de sociedade
humana. O homo sapiens passa a ser tambm homo agens.
A cooperao social
A primeira forma de cooperao social surge no pequeno grupo
41
e prevalece at hoje no mbito da famlia. Nessa forma de cooperao
prevalece o preceito "a cada um segundo suas necessidades, de cada
um segundo suas possibilidades". Na famlia, a diviso do trabalho
se processa segundo esse preceito e o grupo vive em comunho de
bens, sujeito ao comando hegemnico de um chefe que lhe determina
as prioridades e lhe dirime os conflitos.
Mises observa, com inteira razo, que entre os membros do
grupo surgem "sentimentos de simpatia e amizade e um senso de
lealdade grupal. Esses sentimentos proporcionam ao homem as mais
agradveis e sublimes sensaes; so os momentos mais preciosos
da vida: elevam a espcie humana a nveis de uma existncia
realmente humana. Mas no foram esses sentimentos que deram
origem s relaes sociais. Ao contrrio, eles so fruto da cooperao
social; s florescem no contexto da cooperao social. No precede-
ram o estabelecimento das relaes sociais e nem foram a semente
que lhes deu origem". [39, p. 144]
Entretanto, se prevalecesse apenas essa forma de cooperao
grupal, a cooperao social ficaria bastante limitada, e a humanidade
reduzida a algumas centenas de milhares de pessoas vivendo no seu
crculo restrito, produzindo e consumindo em comunidade. Se nin-
gum est disposto, sabemos todos, a admitir o vizinho na sua famlia
e, portanto, viver com ele em comunho de bens, muito menos estar
disposto a efetivar essa forma de cooperao com um habitante de
Minas Gerais, da Colmbia ou da Mandchria.
O advento da cooperao social entre estranhos, de importn-
cia inexcedvel para a humanidade, abre um campo que, ao longo da
histria do homem, vem sendo continuamente ampliado e cujos
efeitos ainda esto longe de serem esgotados. Ainda h muito pro-
gresso a ser realizado. Na realidade, estamos ainda, por assim dizer,
na pr-histria do que poderemos vir a ser.
No so razes de natureza altrustica que levam dois estra-
nhos a cooperar entre si; a cooperao s existir se cada uma das
partes envolvidas for capaz de oferecer outra uma vantagem
comparativa, ou seja, algo melhor e mais barato. A troca voluntria
s se realiza quando ambos os parceiros aumentam a sua satisfao,
quando ambos se beneficiam da troca. O resultado da troca voluntria
42
sempre positivo; a satisfao de um no obtida s custas da
insatisfao do outro. Cada parceiro d mais valor quilo que recebe
do que quilo de que se desfaz. Por isso, quanto maior for a coope-
rao entre estranhos, maior ser o aproveitamento das vantagens
comparativas e maiores a produtividade e a satisfao geral.
Por outro lado, os grupos que preferirem um maior isolamento
autrquico, e que por isso permitirem que seus chefes adotem medi-
das para impedir ou restringir a cooperao entre estranhos, estaro
impedindo ou restringindo o possvel aumento de satisfao dos
membros de suas comunidades.
As regras de justa conduta
Mas, como na cooperao entre estranhos no h chefes nem
comandos- e, entretanto, continuam a existir prioridades a serem
determinadas e conflitos a serem dirimidos -. os estranhos que, nos
primrdios da humanidade, se dispuseram a cooperar, perceberam
logo a necessidade da existncia de regras de conduta a que todos
se submetessem, que todos aceitassem e entendessem como ben-
ficas para aumentar a satisfao e diminuir o desconforto geral. As
regras mais evidentes de cooperao social, adotadas h milnios,
so o "no matars" e o "no roubars". So regras que tm conse-
qncias econmicas extraordinrias, uma vez que suas implicaes
quanto propriedade privada e ao cumprimento de contratos ampliam
consideravelmente a possibilidade de cooperao entre estranhos.
fcil imaginar o estgio a que estaria reduzida a humanidade se essas
regras no tivessem sido aceitas e adotadas universalmente.
Pode-se dizer que o processo civilizatrio um processo de
conteno dos instintos; colocar a regra acima do instinto. O homem
civilizado, diferentemente dos animais, no est merc de seus
instintos; compreende que a melhor forma de satisfazer os seus
apetites no tomar pela violncia o que pertence ao seu vizinho e
nem atacar qualquer fmea que lhe desperte o interesse sexual. Ao
colocar a regra acima do instinto, o homem estabelece o Estado de
direito, o imprio da lei; lei entendida no seu sentido correto: uma regra
43
geral de justa conduta aplicvel a todos os casos futuros. Essa
ressalva necessria em virtude do fato de o termo lei ser usado,
hoje em dia, para designar legislaes, regulamentos, portarias e atas
autoritrios impostos sobre a sociedade.
A lei precede o Estado, que surgiu exatamente pela necessi-
dade de fazer com que as regras estabelecidas, o "no matars" e o
"no roubars", fossem obedecidas. Ao Estado foi atribudo, pelos
cidados, monoplio da coero, para fazer com que a regra fosse
respeitada e a sua violao eventualmente punida.
A coero um mal, uma violncia. O Estado como detentor
do monoplio de coero um mal necessrio. O seu papel, portanto,
deve ser limitado; o poder de coero s deve ser usado para garantir
o cumprimento das regras, para garantir os direitos individuais esta-
belecidos pelas prprias regras, para fazer com que sejam cumpridos
os contratos e compromissos assumidos entre os cidados. impor-
tante notar que os direitos individua[s referem-se basicamente quilo
que o homem tem e no lhe pode ser tirado: o direito vida,
liberdade, propriedade, sade. , evidentemente, um paradoxo
considerar que o homem tem "direito" a ter aquilo que no tem. Assim,
o "direito" casa prpria, ao emprego e a tudo o mais que quisermos
listar como "direito" representa apenas o desejo de possuir algo e o
expediente de pretender obt-lo s custas de algum.
Grande parte da confuso hoje reinante decorre do fato de ser
crena geral que o homem possa "fazer" as leis. Est implcita nessa
noo a idia de que o homem pode moldar a sociedade como melhor
lhe aprouver. Na tradio inglesa do direito consuetudinrio - uma
das mais fecundas experincias humanas na tentativa de estabelecer
regras de justa conduta cabia aos juizes a funo de ''descobrir" as
leis, isto , de tornar explcitas, atravs da jurisprudncia, as normas
de conduta que, por serem habitualmente adotadas, deviam ser
consideradas como o comportamento que se espera de uma pessoa
nas suas relaes com as outras pessoas. De certa forma, cabia-lhes
o mesmo papel que coube a Moiss quando imprimiu os dez manda-
mentos nas tbuas da lei do seu povo. "Descobrir" a lei significa
perceber o que funciona e abandonar o que no funciona. O respeito
palavra empenhada, a honestidade, o direito de propriedade, as
44
regras morais de uma maneira geral so valores que esto arraigados
em ns porque funcionam, porque os grupos que os adotaram au-
mentaram a sua satisfao e diminuram o seu desconforto. O tema
por demais importante e merece um exame mais cuidadoso. Aos
que se interessarem, recomenda-se a excelente trilogia de Hayek,
Direito, legislao e liberdade (19], publicada no final da dcada de
70 e traduzida para o portugus em 1985.
O que importa, por ora, consignar que a adoo da regra e a
submisso a ela surgiram na humanidade como um meio para atingir
o objetivo de aumentar a satisfao ou diminuir o desconforto. A
implementao de leis ou regras que contrariem os inexorveis
determinantes da ao humana s poder ser feita pelo aumento da
coero. Na medida em que isso ocorra, a sociedade livre transfor-
ma-se em uma sociedade submetida a um poder autoritrio, seja ele
o monarca, o dspota, o ditador militar ou o representante de uma
eventual maioria que controla um Estado todo poderoso.
O mercado
Se, na sociedade humana, as regras e o Estado, no seu papel
de faz-las obedecidas, cumprem a funo de dirimir os conflitos,
preciso de alguma forma determinar as prioridades; determinar o que
deve ser produzido. O problema pode ser resolvido atravs de um
chefe (modernamente se diria de um planejador central) que estabe-
lea as obrigaes de cada indivduo. Mas, nesse caso, a cooperao
social entre estranhos fica limitada ao conhecimento que essa auto-
ridade tenha em relao s necessidades e s possibilidades de cada
um. Na sociedade livre, a cooperao entre estranhos feita atravs
do mercado, permitindo assim que homens cujos valores e propsitos
sejam diferentes possam cooperar entre si sem que haja necessidade
de acordo quanto aos objetivos de cada um.
O mercado no um local, uma praa onde se realizam trocas.
O mercado um processo de transmisso de informaes, informa-
es essas que so representadas pelos preos. As pessoas, ao
comprarem ou deixarem de comprar um produto por um determinado
45
preo, esto dando uma informao. O conjunto dessas informaes
que, por assim dizer, comanda, dirige, orienta a utilizao dos
recursos escassos, de forma a que seja obtida a maior satisfao
possvel.
Todo produto cujo preo de mercado for superior soma de
todos os fatores que concorrem para a sua produo (custo de
produo} permite, a quem produzi-lo, uma margem denominada
lucro. Todo produto cujo custo de produo for superior ao maior preo
que as pessoas estejam dispostas a pagar no ser produzido, a no
ser com prejuzo e por quem estiver disposto a suport-lo. Quanto
maior for a margem de lucro, maior ser o estmulo para que o produto
em questo seja produzido. No mercado livre, os preos informam o
que as pessoas desejam que seja produzido e, quanto maior for a
expectativa de lucro, mais rapidamente elas sero atendidas.
As intervenes no mercado - subsdios, tabelamentos, gra-
vames de qualquer natureza - deJormam os preos e, portanto,
deformam as informaes a serem processadas pelo mercado. Quan-
to maior a interveno, maior a deformao dos preos e maior a
desinformao da decorrente: investimentos passam as ser feitos
para atender a uma demanda que s existe em virtude do subsdio;
produtos desejados pelos consumidores deixam de ser produzidos
pelo fato de seus custos de produo excederem o valor do tabela-
mento, e assim por diante. Desorganiza-se a produo. Diminui a
satisfao.
O estabelecimento de tarifas aduaneiras ou reservas de mer-
cado significa apenas o favorecimento de produtores de um determi-
nado produto em detrimento da enorme maioria de consumidores. Os
ganhos decorrentes da proteo podem ser to grandes que, para
mant-los, os capitalistas e empresrios desses setores de produo
paguem aos seus operrios salrios maiores que os de mercado, a
fim de t-los como cmplices e co-interessados no sistema de pres-
so, que tem por finalidade manter o privilgio decorrente da prote-
o. Os prejudicados so todos os consumidores que, direta ou
indiretamente, so obrigados a pagar um preo maior, ou que, na
impossibilidade de faz-lo, deixam de ter acesso ao produto em
questo.
46
No caso da interveno via monoplio estatal, os consumido-
res, alm de serem obrigados a usar produtos e servios piores e
mais caros, acabam sendo tambm obrigados a arcar com um nus
adicional. Nos dias que correm, estamos assistindo a uma presso
cada vez maior dos funcionrios das estatais por maiores salrios e
vantagens. Para obt-los, recorrem ameaa ( muitas vezes concre-
tizada) de interrupo de servios essenciais. As greves no setor
privado j no so freqentes, como outrora, porque os operrios j
esto percebendo que os empresrios privados no podem descon-
siderar a realidade; se os salrios exigidos forem superiores aos que
o mercado determinaria, haver inevitavelmente demisso e desem-
prego. Mas o Estado empresrio pode atender a reivindicaes
absurdas ou exageradas transferindo as conseqncias para o pbli-
co em geral: basta-lhe aumentar as tarifas ou os preos de seus
produtos, que por serem essenciais e monopolizados (energia, co-
municao, previdncia), so de substituio difcil ou at mesmo
impossvel. Ou ainda, o que mais freqente, cobrir o dficit de suas
empresas recorrendo inflao. De qualquer forma, como sempre,
privilegia-se um pequeno grupo (os funcionrios das estatais) em
detrimento da imensa maioria de consumidores e de assalariados,
que sofrem as conseqncias do aumento de preos e da inflao.
O pargrafo acima foi escrito em 1988. No momento em que
fao a reviso desta nova edio (junho, 1995) no posso deixar de
consignar que pela primeira vez na histria um governo brasileiro,
eleito democraticamente, tomou uma atitude sria em relao a uma
greve de servidores pblicos a greve dos petroleiros. At agora a
atitude do governo tem sido serena e firme, como deveria sempre ser.
Se mantiver esse comportamento, estaremos dando um passo fun-
damental para a implantao em nosso pas de um verdadeiro Estado
de direito.
O lucro
Convm que nos detenhamos um pouco mais sobre a questo
dr, lucro e sua significao verdadeira.. Conceitos como lucro, inves-
47
timento, capital adquiriram um significado especfico ao tempo e nos
pases em que prevalecia uma razovel liberdade econmica. Esses
termos continuam a ser empregados hoje em dia, apesar de a cres-
cente interveno do Estado na economia ter-lhes modificado inteira-
mente o significado. A tal ponto que podemos afirmar, ao mesmo
tempo, que o lucro a mola do progresso e que o lucro deveria ser
confiscado. Estamos, claro, nos referindo a duas coisas que so
diferentes, embora recebam a mesma denominao. Examinemo-las.
Considera-se, geralmente, que o empresrio faz jus ao lucro
porque corre riscos, ou porque tem capital (ou pelo menos tem o seu
controle), ou porque tem know-how, experincia, e at mesmo porque
trabalha muito (o que bastante verdadeiro na maioria dos casos).
Na realidade, o empresrio uma mistura de tudo isso; no existe na
natureza o empresrio em estado puro. Suas atividades, como a de
qualquer ser humano, so mltiplas, o que dificulta a compreenso
do que seja, na essncia, a atividade empresarial.
Para melhor compreender esse fenmeno, faamos o que
Mises denomina de uma construo imaginria [39, p. 236]. Supo-
nhamos um empresrio diferente. Nosso empresrio no tem capital:
toma dinheiro emprestado e considera os juros correspondentes no
custo de produo de seu produto. No tem know-how. compra o
know-how e igualmente inclui esse valor no custo. Nosso empresrio
detesta trabalhar: contrata um gerente competentssimo, por um bom
salrio, que constri e opera a fbrica, contrata o financiamento,
compra o know-how. faz, enfim, tudo o que necessrio para produzir
um determinado produto. Nosso empresrio tem horror a riscos:
coloca tudo o que pode no seguro, faz operaes hedgee de mercado
futuro para se prevenir das eventuais variaes nos juros, nos preos
dos seus insumos ou do seu produto acabado. Todas essas despesas
so includas no custo de produo e, ao final de tudo, pagando todos
os fatores de produo, os bens de capital, os juros, o know-how, os
seguros, o gerente etc., o produto custa 60 e encontra compradores
em nmero suficiente para absorver toda a produo, dispostos a
pagar 100 pelo mesmo. Resulta portanto um lucro de 40.
A que se deve esse lucro, se todos os fatores que contriburam
para a produo j foram adequadamente remunerados? Qual a sua
48
justificativa? Esse lucro fruto de uma descoberta. A descoberta de
que, juntando fatores de produo existentes - capital, know-how,
bens de produo, trabalho. gerenciamento, seguro etc.- e que eram
valorados por 60, esses fatores transformam-se num produto que os
consumidores valaram por 1 00. A descoberta do nosso empresrio
extremamente apreciada; os consumidores esto dispostos a pagar
100 por um produto cujos componentes eles prprios valoravam
apenas em 60. Talvez esse novo produto substitua com vantagens
um outro at ento usado e que os consumidores pagavam, digamos
11 O, e que tinha um custo de produo de, digamos, 1 05. A quem
pertence a descoberta? A quem pertence a diferena de 40, o lucro
puro de 40, que no existia antes de ser descoberto? Pertence,
claro, ao descobridor. A tica do lucro a tica da descoberta. O valor
gerado pela descoberta pertence a quem descobriu. Este fato
amplamente reconhecido na expresso coloquial inglesa "Finders
Keepers": qualquer coisa que no tenha dono torna-se, com inteira
justia, propriedade privada da primeira pessoa que, descobrindo sua
utilidade e seu valor potencial, dela se apossar. Desse tipo de lucro
podemos dizer: quanto mais, melhor; quanto mais descobertas que
favoream o consumidor, melhor. Onde houver liberdade de entrada
no mercado, e onde o sistema de preos no for deformado por
intervenes do Estado ou por preos monopolsticos, a perspectiva
de lucro estimula a atividade empresarial, beneficiando a sociedade
e favorecendo o consumidor.
A descoberta pode ser tanto a de uma jazida de ouro ou a da
cura da AIDS, como a de um processo de se produzir melhor e mais
barato uma mercadoria j existente ou um produto novo nunca antes
imaginado. A descoberta tem que dar origem a um produto que o
consumidor valorize mais do que os fatores que concorreram para a
sua produo. De nada adiantaria "descobrir" um mtodo de ensacar
a gua do mar, j que nenhum consumidor daria valor ao produto
assim obtido. O processo de descoberta um processo permanente
de tentar identificar algo que o consumidor considera melhor e mais
barato do que as alternativas de que dispe no momento. O sucesso
da descoberta depende da aprovao do consumidor, que soberano
para fazer a sua escolha. Nesse sentido, pode-se dizer que, numa
49
sociedade livre, e portanto competitiva, o lucro a medida da contri-
buio empresarial sociedade; a forma com que a sociedade
diferencia o empresrio competente do incompetente.
Numa sociedade autoritria e intervencionista, entretanto, as
coisas se passam de uma maneira bastante diferente; o lucro passa
a ser tambm fruto do favorecimento e do privilgio - e, por isso
mesmo, inquo e imoral. Desse tipo de lucro pode-se dizer que, quanto
menos, melhor.
Esse aparente paradoxo, que decorre do emprego da mesma
palavra para designar dois fenmenos bastante distintos, leva muitas
pessoas a condenarem o lucro quando, na realidade, se desejam uma
melhoria das condies de vida dos membros da sociedade, deviam
combater os privilgios concedidos atravs de protecionismos, sub-
sdios, monoplios, reservas de mercado e outros favorecimentos da
mesma natureza.
importante notar que o intervencionismo invariavelmente
protege alguns produtores em detrimento do consumidor, enquanto
que a liberdade de entrada no mercado favorece o consumidor,
obrigando o produtor a "descobrir" a maneira de satisfaz-lo. Quando
o caminho do sucesso deixa de ser o de produzir algo melhor e mais
barato e passa a ser o de obter os favores do "rei", ou o de ser "amigo
do rei", a sociedade se degenera moralmente e empobrece economi-
camente.
A funo empresarial
Costuma-se caracterizar a atividade empresarial como uma
atividade economizadora, isto , que procura encontrar meios e
processos de produzir com mais eficincia. Kirzner argutamente
observa que embora essa preocupao esteja sempre presente na
atividade empresarial, ela no constitui a sua verdadeira essncia.
Ser mais eficiente num processo de produo implica saber a priori o
que dever ser produzido. Se fosse s essa a natureza da atividade
empresarial, estaramos apenas produzindo cada vez melhor as
mesmas coisas.
50
O essencial da funo empresarial, continua Kirzner, consiste
em "descobrir'' o que at ento no havia sido percebido por outros.
A atividade empresarial pura um processo de descobertas; o papel
do empresrio puro estar alerta para perceber oportunidades que
at ento passavam despercebidas. Descobrir oportunidades inex-
ploradas exige um estado de alerta (alertness). A economizao e a
otimizao, por si mesmas, no so capazes de gerar essa desco-
berta. A atividade economizadora s pode "deduzir" melhoramentos
que esto implcitos no conhecimento existente, mas no lhe
possvel "descobrir" porque, por definio, a descoberta no est
implcita no conhecimento existente.
O que gera oportunidades de lucro empresarial puro a
imperfeio do conhecimento existente entre os participantes no
mercado. O processo gerador de lucro , portanto, um processo de
correo da ignorncia dos participantes no mercado. um processo
de remoo da ignorncia. Depois de feita a descoberta, a competi-
o e a atividade economizadora faro o seu papel de reduzir o custo.
A descoberta de uma oportunidade de lucro representa a
descoberta de alguma coisa obtenvel em troca de nada; algo obtido
depois de pagos todos os custos. Ou seja, o lucro puro tem custo
zero. O lucro puro gerado ex-nihif, criado a partir do nada. O valor
assim gerado corresponde a uma verdadeira criao.
O processo de descobertas a que nos referimos no apenas,
e nem principalmente, a descoberta daquilo que queremos descobrir.
Se sabemos o que queremos descobrir, o problema situa-se mais
adequadamente no campo da pesquisa. Pode ser resolvido com uma
atuao competente e dedicada de um pesquisador ou de um cien-
tista. A descoberta que especfica da funo empresarial a
descoberta daquilo que sequer imaginamos poder descobrir. tudo
aquilo que nem sabemos que pode existir e, portanto, aquilo que nem
sentimos falta quando no temos. H dez anos ningum sentia falta
do fax; hoje ningum consegue viver sem ele.
Analogamente, a ignorncia a ser removida pela funo em-
presarial no apenas, e nem principalmente, a ignorncia daquilo
que algum no sabe e sabe que no sabe. Muito mais importante
a remoo da ignorncia daquilo que no sabemos e no sabemos
51
que no sabemos. a ignorncia absoluta. Ignorncia absoluta
aquela que no podemos superar quaisquer que sejam os meios
empregados- com a mais diligente das pesquisas porque ignoramos
qual seja a nossa prpria ignorncia. Esse tipo de ignorncia s pode
ser superado atravs do processo de descobertas inerente funo
empresarial e economia de mercado.
Ao restringirmos a liberdade de entrada no mercado, ao inibir-
mos a atividade empresarial estamos restringindo, limitando, a remo-
o de nossa ignorncia e, portanto, a correo dos erros que
cometemos em virtudes de nossa ignorncia. o que no sei se
melhor ou pior, podemos ser felizes porque ignoramos a nossa
prpria ignorncia e no percebemos os nossos erros. S no pode-
mos deixar de sofrer as inevitveis conseqncias; e geralmente
atribu-las a falsos culpados. Por ignorncia.
Sem dvida alguma, com o conhecimento tecnolgico existen-
te e o capital j acumulado poderia qer produzida uma infinidade de
novos bens ou poderiam ser substancialmente melhorados os que j
so habitualmente produzidos. A questo reside em saber qual o
conjunto de bens que deve ser produzido, com o capital e o know-how
j existentes, de forma a se obter a maior satisfao possvel. Ou seja,
como devem ser alocados os fatores de produo, de forma a atender
s necessidades que o consumidor, a seu juzo, considera mais
urgentes. A funo empresarial consiste exatamente em, valendo-se
das informaes transmitidas pelo mercado - os preos e das
conseqentes possibilidades de lucro, "descobrir" qual o conjunto de
bens, entre todos aqueles cuja produo tecnicamente possvel,
que propicia a maior satisfao possvel, que atende s necessidades
mais urgentes dos consumidores.
A competio
Mas, ainda que desejveis, ainda que frutos do processo de
descoberta, no se imagine que os lucros sero altos ou que perma-
necero altos. Havendo liberdade de entrada no mercado, quanto
maior a possibilidade de lucro, maior o estmulo para que novos
52
empresrios passem a produzir aquele produto to desejado e que
enseja tantos lucros. Havendo liberdade de entrada no mercado
inevitvel que haja competio. Quanto maior a liberdade de entrada,
maior a competio e, como conseqncia, maior a correspondente
reduo dos preos e dos lucros. Se a competio for limitada apenas
s fronteiras nacionais, seus efeitos sero benficos; se for ampliada
para prevalecer entre um grupo de pases, seus efeitos sero melho-
res ainda; se for estendida a todo o planeta, seus efeitos sero o
mximo que o homem pode almejar nas condies vigentes de
conhec}mento tecnolgico e de disponibilidade de capital.
E exatamente por isso que uma das mais importantes funes
do Estado assegurar a liberdade de entrada no mercado, de forma
a possibilitar a maior competio possvel. Lamentavelmente, em vez
disso, no caso brasileiro, o Estado promove a reserva de mercado, o
protecionismo, a carta patente, privando assim os indivduos, os
consumidores, dos benefcios que a competio ensejaria.
A palavra competio evoca alguma confuso. H quem con-
sidere discutveis as suas vantagens. A habitual condenao do que
se convencionou denominar de "capitalismo selvagem" um bom
exemplo disso. A competio freqentemente obriga empresrios a
fecharem suas fbricas e a despedirem seus empregados; claro
que isso s ocorre em virtude de outros empresrios terem construdo
novas fbricas e contratado outros operrios. Foi Schumpeter quem
cunhou a expresso "destruio criativa" (creative destruction) [58,
p.11 O] para designar esse fenmeno. O surgimento, no incio do
sculo, da indstria automobilstica "destruiu" a indstria de carrua-
gens e arreios e a atividade de criao de cavalos de trao, que
empregavam centenas de milhares de pessoas e vultosos capitais.
No se pode negar que a humanidade se beneficiou extraordinaria-
mente dessa "destruio". Entretanto, nos dias de hoje no so
poucos os que, em nome de uma "manuteno do emprego", pro-
pem, numa atitude bastante consetVadora, que se mantenha, via
concesso de privilgios, indstrias menos eficientes, quando no
obsoletas, evitando a sua substituio por outras que atenderiam
melhor os interesses dos consumidores.
A competio social no um fenmeno restrito aos empres-
53
rios que visam a obter lucros. inconcebvel qualquer forma de
organizao social em que no haja competio. Se quisermos
imaginar uma sociedade em que no haja competio, teremos de
imaginar um sistema totalitrio em que o chefe supremo, que deter-
mina a posio de cada pessoa no contexto social, no exerccio de
sua tarefa, no seja de forma alguma influenciado pela ambio ou
pelo desejo de seus subordinados. Os indivduos seriam indiferentes
ao seu destino. Se as pessoas agissem dessa forma, j no seriam
seres humanos.
Convm lembrar que a competio empresarial um fenme-
no dos ltimos duzentos anos. At o final do sculo XVIII, cabia ao
monarca distribuir os produtores por rea e por atividade, com o
objetivo precpuo de evitar a competio.
O razovel nvel de competio que prevaleceu em parte do
mundo ocidental (embora com altos e baixos em alguns pases) foi
responsvel pela contnua queda nos preos reais das mercadorias
nos ltimos duzentos anos. Essa contnua queda dos preos no
bem percebida em virtude de os preos nominais sofrerem os efeitos
da inflao que tem estado presente mesmo nos pases mais desen-
volvidos, sobretudo nesse sculo, aps a Primeira Guerra Mundial.
O fenmeno melhor percebido se considerarmos que os processos
tecnolgicos consomem, por unidade produzida, cada vez menos
ao, chumbo, cobre, energia, mo-de-obra, combustvel. At mesmo
a vantagem comparativa dos pases subdesenvolvidos nos setores
que empregam muita mo-de-obra, em virtude de seus salrios bem
menores, est sendo grandemente diminuda pela crescente aplica-
o da informtica e da robotizao, o que provavelmente aumentar
ainda mais o gap econmico existente entre o Primeiro e o Terceiro
mundos.
Essa notvel reduo de custos e de preos e esse enorme
aumento da produtividade da mo-de-obra decorrente do cada vez
maior volume de capital produtivo colocado a servio da produo,
assim como o melhor padro de vida do trabalhador dos pases
desenvolvidos, so, em grande parte, fruto da maior liberdade de
entrada no mercado e da correspondente competio. No se pode
esperar ter as vantagens da competio criando toda sorte de restri-
54
es liberdade econmica. A miopia das polticas econmicas de
quase todos os pases subdesenvolvidos, que hostilizam tanto os
capitais privados nacionais como os internacionais, tem por conse-
qncia inevitvel o menor padro de vida dos seus trabalhadores.
E, obviamente, menos liberdade.
Inmeros tecnocratas, bem como inmeros empresrios que
atuam em setores protegidos por monoplios, tarifas alfandegrias,
cartas patentes, reservas de mercado, etc., costumam se referir
"funo social" de suas empresas como sendo a de manter empregos
ou a de prestar determinados servios sociedade. A verdadeira
funo social da empresa produzir algo melhor e mais barato. O
pblico, ao comprar, no pergunta se o produto foi produzido por uma
empresa que cumpre uma "funo social". Procura apenas aumentar
a sua satisfao. O empresrio pode dar ao lucro auferido a destina-
o que melhor lhe aprouver: doar a instituies de caridade, distribuir
entre os pobres ou entre os seus empregados, expandir a sua
atividade, gastar superfluamente, etc. uma deciso individual e no
empresarial. O empresrio pode ser generoso com a destinao que
dar ao lucro, mas tem que ser implacvel com a reduo dos custos.
A empresa no pode fazer benesses, porque o pblico implacvel
e s prestigia quem vende um produto melhor e mais barato.
Muito se tem falado sobre ganncia empresarial e lucros abu-
sivas. Eduardo Mascarenhas, na sua contundente anlise dos 30
Paradigmas da Inteligncia Nacional, coloca o tema de forma, a meu
ver, irrepreensvel:
"Lucros abusivas no so fruto de manobras espertas de
empresrios gulosos, so efeitos de insuficincia concorrencial. No
podem, portanto, tais lucros abusivas serem combatidos com menos
capitalismo. S podem ser combatidos com mais capitalismo.
A ganncia empresarial, por chocante que possa primeira
vista parecer, no fora satnica e destrutiva. Ao inverso, fora
vibrante, intensa e repleta de energia- a nica capaz de fazer girar,
com eficcia, a Roda da Fortuna. aquela fome de lucro que pe em
marcha a economia.
Dito tudo isso, h que se concluir: ganncia empresarial no
se administra com discursos ticos sobre a virtude da frugalidade e
55
do desprendimento. Pelo contrrio, administra-se pela contraposio
da ganncia empresarial alheia." [33, p. 221]
A iguatdade de oportunidade
costume condenar a competio, e seus resultados, sob a
alegao de que no h igualdade de oportunidade. Realmente no
h. Inicialmente devemos destacar a irremedivel desigualdade fisio-
lgica das pessoas. Os diferentes graus de inteligncia, de fora de
vontade, de beleza fsica, de destreza, de talento tornam impossvel
a igualdade de oportunidade. A habilidade do jogador de futebol, a
beleza da artista de televiso, o talento do compositor lhes conferem
uma vantagem impossvel de ser eliminada. As diferenas no ambien-
te familiar em que cada um criado aumentam ainda mais as
desigualdades.
Para que a igualdade de oportunidade fosse completa, seria
necessrio colocar uma desvantagem compensatria (um imposto
especial talvez) sobre os mais bem-dotados intelectualmente, sobre
os mais bonitos, sobre os de maior fora de vontade. bvio que isso
seria um absurdo.
Mas, continuam os crticos, se a desigualdade fisiolgica
irremedivel, deveria pelo menos haver igualdade de oportunidade
do ponto de vista econmico. Como pode o menino pobre competir com
o menino rico? A riqueza deveria ser distribuda e o direito de herana
abolido, para que houvesse efetiva igualdade de oportunidade.
O argumento carece de sentido. O objetivo apriorstico da ao
humana, convm repetir, aumentar a satisfao e diminuir o des-
conforto. O homem no age com o objetivo de propiciar a igualdade
de oportunidade. As instituies sociais vo sendo adotadas na
medida em que atendem o objetivo da ao humana. Certamente, se
num dado momento toda riqueza acumulada fosse distribuda, no
instante seguinte a imensa maioria das pessoas estaria em melhor
situao; a partir desse instante, comearia o processo de empobre-
cimento. Para qualquer ser humano que se preocupa com o futuro
alm do mero momento imediato, a acumulao de capital e a
56
transmisso hereditria atendem melhor os objetivos do homem do
que outros sistemas menos eficientes.
evidente que, se no fosse permitida a acumulao de capital
e a sua transmisso por herana, as pessoas estariam hoje em
situao bem pior do que esto. No final do sculo XVIII, a expectativa
de vida em Paris era de 25 anos. Um sculo depois, graas
liberdade econmica que ento prevaleceu e conseqente acumu-
lao de capital, essa expectativa de vida tinha dobrado. Foram anos
de vida, vidas inteiras, que a humanidade ganhou. Se tivesse preva-
lecido no sculo XVIII, quando caram as monarquias, a idia de
distribuir a riqueza para permitir uma igualdade de oportunidade, cem
anos depois a expectativa de vida talvez continuasse sendo os
mesmos 25 anos que a humanidade precisou de mais de trinta
sculos para atingir.
A importncia da acumulao de recursos e do seu emprego
como capital produtivo geralmente no bem percebida. Um traba-
lhador americano ou suo no ganha em mdia dez vezes mais do
que um latino-americano por ser dez vezes mais inteligente, dez
vezes mais hbil ou mais trabalhador. Sua maior produtividade e
conseqente melhor padro de vida decorrem do fato de poder utilizar
uma quantidade bem maior de capital produtivo, capital esse acumu-
lado e aplicado diligentemente pelas geraes anteriores. Se acabar
o direito da herana, muitos entre os que so capazes de gerar
riqueza preferiro esbanj-la, dissip-la, em vez de transform-la em
capital produtivo. Outros, que no encontram prazer na dissipao,
simplesmente no utilizaro toda a sua capacidade de gerar riqueza.
Evidentemente, a humanidade empobrecer.
H ainda os que alegam, em nome da igualdade de oportuni-
dade, que todos deveriam ter acesso a um mnimo de educao
escolar e de sade. Ora, isso extremamente desejvel, no por
configurar uma maior igualdade de oportunidade, mas por aumentar
a competio. Numa sociedade livre, a melhoria da qualidade do
estoque humano aumenta a produo, a qualidade de vida, o respeito
s regras. A questo a ser colocada : qual deve ser esse mnimo?
Os socialistas, intervencionistas e redistributivistas parecem
cr r que o mnimo a ser concedido uma opo voluntarista: bastaria
57
que os mais generosos derrotassem, pela via poltica ou pela via
revolucionria, os mais insensveis e estariam abertas as portas do
paraso.
Para esses visionrios alienados a realidade no existe. O
simples questionamento das conseqncias econmicas que certas
medidas provocaro sobre os prprios presumveis benefcirios
considerado inaceitvel e retrgrado. Perguntar quanto custa a con-
cesso de um certo benefcio, ento, tido como moralmente inad-
missvel.
Como bem observou Thomas Sowell, ser que essas pessoas
pensam que podem acreditar em qualquer tolice que lhes agrade?
Ser que no percebem que crenas equivocadas podem ter a n s e ~
qncias desastrosas? Ser que no percebem que a realidade no
uma opo? [61, p. 4]
Para simplificar a discusso e coloc-la nos seus devidos
termos, sugiro que seja concedido aos mais carentes tudo o que
desejam os mais veementes defensores da distribuio de renda via
interveno do Estado, desde que sejam observados dois princpios
bsicos:
1 -que existam os recursos; seno a distribuio uma farsa,
mera demagogia e no pode ser levada a srio;
2 que os recursos sejam entregues diretamente aos indiv-
duos, que deveriam ser livres para escolher, por exemplo, a escola
em que vo colocar seus filhos ou o seguro de sade que os atender
em caso de necessidade.
bvio que o mnimo a ser assegurado a cada um no poder
ser o mesmo na Sucia ou no Gabo, tendo em vista a diferena de
capital acumulado num caso e no outro. No caso brasileiro, o nvel de
riqueza j atingido pelo pas , seguramente, mais do que suficiente
para assegurar a todos um razovel mnimo de educao e de sade.
Os recursos para isso existem e a comunidade os paga sob a forma
de impostos. Lamentavelmente esses recursos so usados para
outros fins, so desperdiados em investimentos ,nteis ou consumi-
dos para sustentar uma burocracia ineficiente voraz. E, mesmo
quando empregados em educao escolar, o so de maneira inefi-
ciente e improdutiva.
58
O problema se resolveria facilmente - a sugesto de Milton
Friedman [12, p. 153] se fosse dado a cada aluno em idade escolar,
cujos pais no pudessem arcar com a sua educao, um cupom, ou
seja, um ticket (como esses usados para restaurante) que desse
direito a um perodo escolar. Caberia ao aluno, por meio de seus
responsveis, escolher a escola que deseja freqentar e ter, portanto,
acesso mesma educao que ministrada aos filhos dos que tm
melhor situao econmica. Isso obrigaria as escolas e os professo-
res, os produtores, a competirem, procurando oferecer a melhor
qualidade de ensino possvel aos alunos, os consumidores.
Os Institutos Liberais tm apresentado solues, atravs de
sua srie Polticas Alternativas, para o problema da educao, sade
e previdncia. Recentemente, na publicao Problemas sociais, so-
lues liberais, editado sob a superviso e coordenao de Arthur
Chagas Diniz, foi feita uma sntese das propostas liberais para esses
trs macro problemas sociais, mostrando inclusive que os recursos
existem mas, lamentavelmente, esto sendo dilapidados e desperdi-
ados pela forma como so empregados.
No fundo, a algaravia habitualmente feita em favor da igualda-
de de oportunidade e da distribuio de renda reflete apenas o desejo
de uma igualdade de resultados, o que , evidentemente, impossvel.
Na sociedade intervencionista, todos pedem autoridade que inter-
venha para melhorar os seus resultados; na sociedade livre, so os
consumidores que determinam a posio de cada um na hierarquia
social.
No h nada de errado, em si, na desigualdade de renda,
quando ela fruto do esforo, da sorte ou da inventiva de uns contra
a lassido, o azar ou a incapacidade de outros. Inaceitvel a
desigualdade de renda provocada pela interveno coercitiva do
Estado, favorecendo uns em detrimento de outros. Ademais, abso-
lutamente falso que exista um "bolo" de renda que possa ser redistri-
budo sem que se altere o processo de produo do bolo. evidente
que a prpria criao de riqueza depende da forma como ela ser
distribuda. A intolervel distribuio de renda vigente em nosso pas
no fruto, como pensam muitos, do funcionamento de um regime
capitalista selvagem; fruto da enorme concentrao de poder nas
59
mos do Estado, que distribui privilgios e favores entre os seus
amigos e entre os grupos de presso, em detrimento da imensa
maioria do povo brasileiro.
A acumulao de capital
Os defensores do socialismo e do intervencionismo, embora
reconheam a importncia e a necessidade da poupana e da acu-
mulao de capital como instrumento essencial para promover o
desenvolvimento econmico, condenam a utilizao que dada ao
capital acumulado quando sujeita apenas s foras do mercado.
Deixado ao sabor do mercado, alegam eles, o capital seria investido
na fabricao de produtos suprfluos e desnecessrios, em vez de
se orientar para as necessidades das massas. Seriam fabricadas as
coisas que os capitalistas querem e no as que as massas precisam.
Por outro lado, a influncia das multinacionais acabaria mudando os
hbitos genuinamente nacionais; o consumidor perderia a sua auten-
ticidade e se transformaria num colonizado, do ponto de vista cultural.
Em suma, mais um fregus para o McDonald's.
Para evitar tudo isso, continuam esses idelogos, preciso ou
socializar de vez o pas, ou intervir a fim de "orientar" o investimento
no sentido dos verdadeiros interesses nacionais. Com esse objetivo,
criam-se mecanismos de controle de forma a que a poupana volun-
tria nacional seja canalizada para os setores considerados mais
importantes; como a poupana voluntria no suficiente para todos
os projetas imaginados, obriga-se a comunidade a fazer uma poupan-
a compulsria (previdncia, fundo de garantia, emprstimo compul-
srio, etc.).
Na realidade, o que esses adeptos da interveno esto dizen-
do que as massas no so capazes de identificar os seus interes-
ses, sendo portanto necessrio obrig-las a entregar compulsoria-
mente parte substancial de seus salrios para que os doutos tericos
lhes dem uma melhor destinao. Assim, por exemplo, um pobre
trabalhador que luta pela sobrevivncia, sua e de seus filhos,
obrigado a "poupar" mais de 30% do seu salrio em INPS, em FGTS,
60
em compulsrio dos combustveis, quando certamente poderia utilizar
esses recursos para satisfazer necessidades muito mais imediatas.
Lamentavelmente, via de regra, esses recursos compulsoria-
mente arrecadados no so bem utilizados. No caso do INPS. por
exemplo, a maior parte dos contribuintes no chega a se aposentar-
morre antes- e os recursos so usados para a aposentadoria dos
mais ricos ou nas fraudes, que so de conhecimento pblico. O FGTS
foi dilapidado pelo BNH; o emprstimo compulsrio foi usado para
cobrir o dficit pblico. lastimvel que esses recursos, to neces-
srios subsistncia dos mais carentes, sejam dilapidados to irres-
ponsavelmente.
Quando a poupana compulsria e voluntria utilizada para
realizar os investimentos determinados pelo Estado, e no pelo
mercado, o que se v so a Ferrovia do Ao (que ainda no foi
concluda e j se comeou a Norte-Sul), o Acordo Nuclear {sem
comentrios), a Aominas {que jamais produzir o suficiente para dar
retorno ao investimento). Mesmo investimentos teis, como os feitos
para gerao de energia hidreltrica, custam o dobro do necessrio
quando realizados pelo Estado. Prevalecem o clientelismo e o nepo-
tismo.
Por outro lado, a alocao de recursos feita pelo mercado
obriga a que sejam produzidos, de forma cada vez melhor e mais
barata, os bens e servios desejados pelas massas. Um dos traos
caractersticos do capitalismo a produo para as massas, pois s
assim se viabilizam os grandes investimentos que so capazes de
permitir uma sensvel economia de escala. Antes do advento do
capitalismo, s se produzia para as elites.
Os defensores do intervencionismo parecem no perceber
que, ao condenarem o mercado por eventualmente no produzir o
que consideram melhor para as massas, acabam criando um aparato
estatal que desperdia a poupana voluntria e compulsria. Ou seja,
o "sacrifcio" de poupar feito; as vantagens que deveriam advir
desse "sacrifcio" no chegam a existir.
O processamento de informaes atravs do mercado permite
identificar melhor, mais rpida e mais diretamente os desejos das
massas; quem paga pelo desperdcio ou pelo investimento mal feito
61
o prprio empresrio capitalista. No regime intervencionista, so os
detentores do poder que se arrogam o direito de determinar quais os
desejos das massas; o desperdcio, a corrupo, o investimento
faranico e desnecessrio so pagos pelo prprio povo.
Gesto empresarial e gesto burocrtica
Os indivduos que compem uma sociedade, para realizar seus
objetivos, podem utilizar os recursos de que dispem de forma
empresarial ou burocrtica.
Gesto empresarial ou gesto conseqente no , necessaria-
mente, gesto feita por empresrios. Gesto empresarial aquela em
que as satisfaes e o desconforto provocados pela gesto so
suportados pelo gestor. A deciso de compra de uma camisa, ou da
escolha do cnjuge so decises er:npresariais: os nus e as vanta-
gens da escolha so suportados por quem fez a escolha- pelo gestor.
Para que os gestores sofram as conseqncias favorveis ou
desfavorveis de sua gesto indispensvel que os recursos a serem
utilizados sejam de sua propriedade. Da a importncia da proprieda-
de privada dos meios de produo. Somos proprietrios de nossas
vidas e sofremos diretamente as conseqncias de uma m gesto.
Igualmente, os proprietrios do capital de uma empresa sofrem as
conseqncias de uma gesto inadequada.
A gesto empresarial mais conhecida e mais analisada
aquela que ocorre no plano estritamente econmico; a gesto com
objetivo de lucro financeiro. Neste caso, a gesto feita predominan-
temente por empresrios, ou por seus representantes a quem foi
delegado o poder de decidir. Mas, um caso particular. Numa viso
mais abrangente ns somos todos empresrios, pelo menos empre-
srios de nossas prprias vidas.
A gesto empresarial na atividade econmica s aplicvel
quando se trata de atender a necessidades e ot>jetivos que tenham.
ou possam ter, um preo de mercado. A gesto com objetivo de lucro
no se aplica quando lidamos com objetivos que no tm valor de
mercado.
62
Existem inmeras necessidades e objetivos que no podem ter
um preo de mercado porque as vantagens e o nus de sua realiza-
o no podem ser apropriados individualmente. O exemplo clssico
a segurana nacional: em existindo, todos usufruem de suas
vantagens, no sendo possvel alocar a cada membro da sociedade
a sua parcela de nus, de custo, pela realizao desse objetivo.
Nesses casos, o nico mtodo de gesto possvel a gesto buro-
crtica.
A gesto burocrtica ou gesto inconseqente o mtodo
apropriado para administrar o poder pblico, isto , o aparato social
de compulso e coero. Como o governo necessrio, a buro-
cracia- na esfera do governo -tambm necessria. Onde o clculo
econmico no aplicvel, os mtodos burocrticos so a nica
alternativa. Por isso, um governo socialista tem que aplic-los a todos
os seus campos de ao.
Nesses casos, em vez de cada indivduo avaliar a satisfao e
o desconforto decorrentes de suas decises, de suas escolhas, a
sociedade, atravs de seus representantes, estabelece uma carga
tributria e um oramento para alocao desses recursos. As despe-
sas so limitadas ao que for determinado no oramento e a carga
tributria limitada ao que for estabelecido na legislao.
Numa sociedade, quanto mais a gesto empresarial for subs-
tituda pela gesto burocrtica, menos bem alocados sero os seus
recursos e menores sero a competio, a eficincia e a satisfao
geral. A m gesto empresarial logo interrompida pelo inevitvel
prejuzo a ser suportado pelo prprio empresrio; a m gesto buro-
crtica desperdia recursos s custas dos consumidores e contribuin-
tes, sem que seja sequer possvel dimensionar a verdadeira extenso
desse "prejuzo".
O "grau de servido"
Existem duas formas de cooperao social: a cooperao em
virtude de contratos e vnculos estabelecidos livremente entre as
partes, e a cooperao hegemnica, estabelecida por meio de co-
63
mando e subordinao. Essas duas formas de cooperao no
existem em estado puro. A cooperao puramente hegemnca a
escravido; a sociedade livre, de cooperao exclusivamente volun-
tria, por contrato, aquela em que no existem restries de
nenhuma natureza ao estabelecimento das relaes contratuais,
representadas por preos, salrios ou juros, e em que prevalece uma
absoluta liberdade de entrada no mercado. A trajetria da humanida-
de do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, da pobreza para
a to desejada riqueza, tem sido uma trajetria da escravido para a
liberdade.
crena geral que a escravido terminou por razes morais;
passa despercebido o fato de que o trabalho livre mais barato do
que o trabalho escravo. O trabalhador livre ganha muito mais do que
o trabalhador escravo, mas produz muito mais ainda, sendo o seu
custo por unidade produzida menor do que no caso do trabalho
escravo. Atualmente no existe mais escravido no sentindo com que
normalmente essa palavra empreg"ada. Entretanto, existe o que se
pode denominar de "grau de servido", representado por tudo aquilo
que, contra a sua vontade, os membros da sociedade so obrigados
a fazer- ou simplesmente a deixar de fazer- em virtude da expecta-
tiva de coero. O Estado, ao impor restries ao direito de proprie-
dade e liberdade de entrada no mercado, aumenta o "grau de
servido", tornando a sociedade mais pobre, ou menos rica do que
poderia ser. Quanto maior for o "grau de servido", menores sero a
produo e o desenvolvimento tecnolgico.
Para ilustrar bem esse fenmeno, Milton Friedman props que
fosse consagrado e festejado, a cada ano, o "Dia da Independncia
Individual", que representaria o dia em que o cidado comea a
trabalhar para si prprio e a dispor voluntariamente do que produz.
Quanto mais prximo do incio do ano, menor seria o "grau de
servido". No caso brasileiro, por exemplo, o "Dia da Independncia"
de um diretor de empresa bem-sucedida, que tenha sua remunerao
estabelecida como uma percentagem dos lucros gerados, s ocorrer
no incio do ms de outubro. Ou seja, durante mais de nove meses,
em cada ano, trabalhar para sustentar a mquina do Estado.
Nas sociedades altamente intervencionistas, em que o aparato
64
de coero seja ineficiente e corrupto, as pessoas frequentemente
recorrem ao contrabando e informalidade econmica. Essa pode
ser uma forma de diminuir o "grau de servido" ou at mesmo uma
maneira de permitir a sobrevivncia; mas, certamente, no ser
desse modo que se h de fazer existir uma sociedade livre, prspera
e desenvolvida. Na sociedade livre, no h necessidade de se recor-
rer ao contrabando e informalidade.
Alguns pases mais desenvolvidos e que ainda adotam ou que
voltaram a adotar prticas mercantilistas e intervencionistas costu-
mam ser apontados, por algumas pessoas, como exemplos a serem
seguidos. Na Frana, dizem essas pessoas, os sindicatos tm esse
ou aquele poder; na Inglaterra, so inmeras as indstrias estatizadas
{em menor nmero agora, em virtude do programa de privatizao);
na Sucia, enorme a abrangncia da previdncia social compuls-
ria; nos EUA tambm existe protecionismo. O que essas pessoas no
percebem que essas naes seriam ainda mais desenvolvidas se
no adotassem tais prticas. Por terem herdado um capital acumula-
do pelas geraes anteriores, podem se dar ao luxo de consumi-lo
gradativamente. So como os herdeiros de um av rico, que podem
usufruir alegremente o que lhes foi legado pelos seus antepassados.
Mas o Brasil no tem av rico; se quiser se comportar como se
comportam as naes que herdaram uma enorme acumulao de
capital, ter de sofrer as inevitveis conseqncias desse procedi-
mento leviano.
A importncia da economia
Hoje em dia estamos sendo vtimas de um equvoco denomi-
nado de "presuno fatal" por Hayek - de conseqncias desastro-
sas, sobretudo no campo da economia. Trata-se da crena de que as
instituies sociais foram criadas pelo homem e que, portanto, se os
seus resultados no correspondem aos nossos desejos, podemos
refaz-las, "reconstru-las", a nosso bel-prazer. Passa despercebido
o fato de que, ao enfraquecermos instituies como a propriedade
privada, a honestidade, a famlia, a liberdade de entrada no mercado,
65
em virtude de seus eventuais inconvenientes, acabamos suprimindo
as suas inigualveis vantagens. A taxa de crescimento da populao
mundial hoje trinta vezes maior do que h duzentos anos atrs,
graas a essas instituies. A elas, a maior parte das pessoas que
hoje esto vivas devem a sua prpria existncia; abandon-las ou
enfraquec-las significa condenar misria e morte uma grande
parcela da humanidade. Basta considerar que, se a populao mun-
dial - que em 1750 era de 800 milhes de pessoas - continuasse
desde ento a crescer mesma taxa que vinha prevalecendo desde
a poca de Cristo, a humanidade hoje ainda no teria atingido o seu
primeiro bilho! Ou seja, dos cinco bilhes de habitantes hoje exis-
tentes sobre a face da Terra, 80%- quatro bilhes- simplesmente
no existiriam.
Da mesma forma que a humanidade percebeu a importncia
do "no matars" e do "no roubars", adotados universalmente, seria
necessrio que compreendesse tambm a importncia do "no impe-
dirs o prximo de produzir e de trocar o fruto de sua produo". A
humanidade ser tanto mais rica quanto mais esse preceito for
obedecido.
Mises chama a ateno para o fato de que "existem trs
restries liberdade de o homem escolher e agir. A primeira so as
leis fsicas, a cujas inexorveis determinaes o homem tem de se
submeter se quiser permanecer vivo; a segunda so as caractersti-
cas e aptides congnitas de cada indivduo e sua inter-relao com
0
meio ambiente [ ... ]; a terceira so as regularidades das relaes de
causa e efeito entre os meios utilizados e os fins alcanados, ou seja,
as leis praxeolgicas [econmicas] que so distintas das leis fsicas
e fisiolgicas". [39, p. 885]
A percepo dessa terceira categoria de leis do universo obriga
a que a ao humana seja encarada de uma outra maneira. J no
basta consider-la boa ou m, certa ou errada, justa ou injusta.
Embora ainda hoje sejam poucos os pensadores que se dem conta
disso, no curso dos eventos sociais prevalece u,ma regularidade de
fenmenos aos quais o homem tem de ajustar suas aes se quiser
ser bem-sucedido. intil abordar os fatos sociais com a tica de um
censor que os aprova ou desaprova. Existem relaes de causa e
66
efeito a serem observadas. preciso que as leis da ao humana e
da cooperao social sejam estudadas com a mesma atitude cient-
fica com que o fsico estuda as leis da natureza. Contrariar as leis da
ao humana produz conseqncias, tanto quanto contrariar a lei da
gravidade. Entretanto, se no caso das leis fsicas as relaes de
causa e efeito so bem percebidas, no caso das leis praxeolgicas
(econmicas) o mesmo no ocorre, por estarem os efeitos geralmente
distantes das causas, dificultando a sua adequada percepo. Por
isso, essa verdadeira revoluo, de tremendas conseqncias para
o gnero humano, ainda no foi convenientemente percebida. Se no
o for, as conseqncias sero maior misria, pobreza, subdesenvol-
vimento, fome. Na medida em que o seja, diminuiro essas desgraas
que hoje provocam o desconforto de grandes contingentes humanos.
A importncia das instituies
A performance econmica de uma sociedade depende menos
da qualidade de seus atares do que das instituies que formam o
assim chamado "meio ambiente institucional" onde atuam os agentes
econmicos.
O estudo da importncia das instituies na performanceeco-
nmca das sociedades vem despertando crescente interesse no
meio acadmico. Douglass North, que ganhou o Prmio Nobel de
Economia em 1993 exatamente pela sua contribuio a esse estudo,
define instituies como sendo o conjunto compreendido pelas regras
formais, pelas limitaes informais (normas de comportamento, con-
venes e cdigos de conduta auto-impostos), e pelos mecanismos
responsveis pela eficcia da aplicao dessas normas. [47, p.13]
Qualquer ordem melhor do que o caos. Mas algumas regras
produzem melhores resultados do que outras. Os resultados a serem
alcanados por uma sociedade so fortemente influenciados pela
estrutura de incentivos inerentes matriz institucional vigente. Se em
determinada sociedade as instituies fizerem com que os mais
bem-sucedidos sejam os que obtenham os favores do rei, do Estado,
ou os que praticam a pirataria, os indivduos e as organizaes
67
dedicaro o seu melhor esforo para obter privilgios, ou para serem
melhores piratas. Se, por outro lado, as instituies privilegiarem a
ausncia de privilgios e a liberdade de entrada no mercado, os mais
bem-sucedidos sero os que revelarem maior produtividade, maior
criatividade e os que forem capazes de produzir melhor e mais barato
os produtos que os consumidores desejam.
importante reafirmar que o intervencionismo invariavelmente
protege alguns produtores em detrimento do consumidor, enquanto
a liberdade de entrada no mercado favorece o consumidor, obrigando
o produtor a descobrira maneira de satisfaz-lo. Em ambos os casos,
a definio de ao humana a mesma: um comportamento
propositado; visa a aumentar a satisfao ou diminuir o desconforto,
usando para isso os meios a seu alcance. Obter o favor do rei ou usar
o poder de coero do Estado so apenas meios que as pessoas
usam para atingir seus objetivos. S aqueles dotados de uma retido
de carter ou guiados por rgidos, princpios morais deixaro de
usufruir das vantagens concedidas pelas autoridades, seja ela o rei
ou o Estado intervencionista. Mas esses sero certamente poucos, e
muito provavelmente no ascendero aos primeiros escales da
sociedade. preciso que se perceba que, para corrigir essa injustia,
o caminho no tentar fazer existir uma utpica sociedade formada
por homens de carter sem jaa, mas, ao contrrio, permitir que a
sociedade se organize livremente, de tal sorte que os sem-carter, os
aproveitadores, os amorais no sejam, naturalmente, os mais bem-
sucedidos.
J na primeira metade do sculo XVIII, David Hume observava
que as trs condies essenciais para uma nao florescer so:
1) O respeito ao direito de propriedade;
2) A transferncia por consentimento;
3) O cumprimento dos compromissos assumidos;
e observava ainda: A principal virtude de uma sociedade poli-
ticamente organizada consiste no estabelecimento de leis que impo-
nham restries ao comportamento de seus membros- as quais eles
no estariam dispostos a aceitar voluntariamente. [26, p. 69-90]
De l para c, no h nada a acrescentar. Podemos apenas
dizer a mesma coisa de outra forma: as sociedades que conseguirem
68
se organizar com base na escolha democrtica de seus dirigentes,
no plano poltico, na economia de mercado, no plano econmico e na
mxima descentralizao de poder, no plano administrativo, e que
tenham bem definido e respeitado o direito de propriedade tero
estabelecido o arcabouo institucional mais adequado, mais eficiente
e mais capaz de aumentar a satisfao de seus membros.
69
O liberalismo uma doutrina poltica.
O QUE
O LIBERALISMO
Como uma doutrina poltica o liberalismo no neutro em
relao aos fins que o homem pretende alcanar; pressupe que a
imensa maioria das pessoas prefere a abundncia pobreza. Procura
mostrar qual o melhor meio de atingir esse objetivo.
O liberalismo, portanto, uma doutrina voltada para a melhoria
das condies materiais do gnero humano. Seu propsito reduzir
a pobreza e a misria, e o meio que prope para que esse objetivo
seja atingido a liberdade. O pensamento econmico e a experincia
histrica no conseguiram, at hoje, sugerir um outro sistema social
que seja to benfico para as massas quanto o liberalismo.
"No pelo desdm aos bens espirituais que o liberalismo se
concentra, exclusivamente, no bem-estar material do homem, mas
pela convico de que o que mais alto e profundo no homem no
pode ser tocado por qualquer tipo de regulao externa. O liberalismo
busca produzir apenas o bem-estar exterior, porque sabe que as
riquezas interiores, espirituais, no podem atingir o homem de fora,
mas somente de dentro, de seu prprio corao. O liberalismo no
visa a criar qualquer outra coisa, a no ser as precondies externas
71
para o desenvolvimento da vida interior". [40, p.6]
Os pilares do liberalismo
Liberalismo antes de tudo liberdade. Liberdade entendida
como ausncia de coero de indivduos sobre indivduos. a adeso
ao princpio de que a ningum permitido recorrer fora ou fraude
para obrigar ou induzir algum a fazer o que no deseja.
A escolha da liberdade como valor supremo no decorre de
razes de natureza metafsica ou religiosa; decorre do fato de que um
sistema baseado na liberdade assegura uma maior produtividade de
trabalho humano, sendo portanto do interesse de todos os habitantes
do mundo.
Um sistema baseado na liberdade pressupe, necessariamen-
te, que no haja restries propriedade privada dos meios de
produo e que haja plena liberdade de entrada no mercado. Sendo
assim, prevalecero sempre aqueles que forem capazes de produzir
algo melhor e mais barato e, consequentemente, capazes de melhor
atender o consumidor. A liberdade de entrada no exclui a possibili-
dade de propriedade estatal dos meios de produo; apenas obriga
a que haja competio. A empresa estatal poder subsistir desde que,
sem privilgios, atenda melhor s necessidades do consumidor. A
verdadeira razo de no se recomendar a existncia desse tipo de
empresa, sobretudo nas atividades econmicas de maior peso e
maior importncia, reside na impossibilidade de impedir que o Estado,
detentor do monoplio de coero, se autoconceda privilgios.
A defesa da propriedade privada dos meios de produo
tambm no motivada por razes de natureza metafsica ou mstica;
decorre do fato de conduzir a uma maior produtividade e, portanto, a
uma maior criao de riqueza.
A liberdade pressupe a existncia de paz. O liberalismo condena
a guerra no s pela carga de sofrimento e morte que acarreta, mas
tambm por diminuir a possibilidade de cooperao social e de diviso
do trabalho. A cooperao social, que s pode florescer num ambiente
de paz, o trao caracterstico do gnero humano.
72
A liberdade, a propriedade e a paz so, por assim dizer, os
pilares sobre os quais se assenta a doutrina liberal.
A esses valores acrescenta-se a tolerncia, que tambm um
dos traos caractersticos do liberalismo. Quando comearam a pre-
valecer as idias liberais, desapareceram procedimentos como per-
seguies religiosas, condenao de herticos morte, guerras
religiosas. So coisas que hoje pertencem ao passado e histria.
"O liberalismo exige tolerncia como questo de princpio, no
por oportunismo. Exige tolerncia mesmo para com ensinamentos
obviamente absurdos, formas absurdas de heterodoxia e supersties
tolas e pueris. Exige tolerncia para com doutrinas e opinies que
considera perniciosas e ruinosas para a sociedade e, mesmo, para
com movimentos que infatigavelmente combate, porque o que impele
o liberalismo a exigir e a conceder tolerncia no a considerao ao
contedo da doutrina que se quer tolerada, mas a conscincia de que
apenas a tolerncia pode criar e preservar as condies para a paz
social, sem a qual a humanidade, necessariamente, resvalar para o
barbarismo e a penria de h muitos sculos passados". [40, p.57]
Liberdade econmica
Liberalismo liberdade econmica, liberdade de iniciativa,
entendidas como o direito de entrada no mercado para produzir os
bens e servios que os consumidores, os usurios, desejam. a
liberdade de contrato representada pelo estabelecimento de preos,
salrios e juros sem restries de qualquer natureza. a aventura e
o risco de algum s ser bem-sucedido se produzir algo melhor e mais
barato.
Uma sociedade organizada segundo os preceitos do liberalis-
mo pressupe a livre contratao entre as partes de quaisquer
transaes de interesse recproco; ningum pode ser obrigado, por
coero ou fraude, a comprar, a vender, ou a realizar qualquer
contrato.
A liberdade de entrada no mercado pressupe que no sejam
concedidos a pessoas ou grupos privilgios de qualquer natureza,
73
sejam eles representados por subsdios, reserva de mercado, prote-
cionismo aduaneiro, monoplio, concesses cartoriais ou quaisquer
outros que possam vir a ser estabelecidos pelo Estado.
A organizao sindical deve ser livre, podendo os trabalhado-
res e empresrios constiturem sindicatos como melhor lhes aprou-
ver. Um seguro-desemprego no compulsrio poderia ser adminis-
trado pelos prprios sindicatos que, assim, sentiriam diretamente as
conseqncias do inevitvel desemprego provocado pelas elevaes
salariais de sua categoria acima dos valores estabelecidos pelo
mercado.
A parafernlia de encargos sociais, que no Brasil chega a
atingir 100% do salrio efetivamente pago ao trabalhador, e que
muitos, ingenuamente, consideram como "conquistas sociais", repre-
senta na realidade um desconto sobre o salrio que o trabalhador
poderia receber. Do ponto de vista puramente econmico, os encar-
gos sociais so apenas uma poupana compulsria que o trabalhador
obrigado a fazer; deixa de receber como salrio no momento em
que trabalha, para receber mais tarde sob a forma de um benefcio
qualquer. Obrigar um trabalhador, que sofre dificuldades em nvel de
subsistncia, a poupar compulsoriamente uma quantia equivalente
ao salrio efetivamente recebido , no mnimo, uma perversidade, e
s por ignorncia pode ser considerado como um "benefcio".
Esse mal poderia ser corrigido se pelo menos fosse dada ao
empregado a opo de renunciar, total ou parcialmente, aos alegados
benefcios sociais, e, como contrapartida, receber imediatamente,
junto com o seu salrio, o valor correspondente a esses encargos
sociais. Certamente o trabalhador poderia dar a essa quantia uma
utilizao muito mais vantajosa, do ponto de vista de suas necessi-
dades, do que aquela que lhe dada pelo governo como gestor dos
fundos de poupana compulsria.
Se houvesse, portanto, liberdade de contrato e se, por exem-
plo, a previdncia social no fosse compulsria, cada um poderia
escolher, entre as diversas alternativas possveis,, a idade, a forma e
o valor de sua aposentadoria e, conseqentemente, a sua correspon-
dente contribuio previdenciria.
Existem intervenes econmicas aparentemente bem-suce-
74
didas, como a freqentemente citada ajuda do governo americano
Chrysler. Seu alegado xito apresentado como justificativa a inter-
venes do Estado feitas com o propsito de "salvar" empresas com
fraco desempenho econmico. No Brasil, esse procedimento tem sido
muito adotado, no significando mais do que, quando eventualmente
d certo, o favorecimento de algum grupo, e quando, como na grande
maioria dos casos, d errado, um grande desperdcio de recursos.
Em ambos os casos tais medidas so adotadas em detrimento dos
assalariados e dos mais necessitados, j que os recursos utilizados
so invariavelmente obtidos pela via da inflao.
Liberdade poltica
Liberalismo liberdade poltica; o que caracteriza a liberdade
poltica, alm da liberdade de expresso, de locomoo, de crena,
de reunio, a conscincia de que deve haver liberdade para esco-
lher as pessoas que iro exercer as funes de governo e que.
portanto, iro deter o comando do aparato de coero e compulso.
Para haver liberdade de escolha, indispensvel que haja eleies
peridicas e que os indivduos possam se organizar em torno de
idias e princpios que considerem mais adequados para a socieda-
de; que possam formar partidos polticos de qualquer natureza. Essa
liberdade de escolha precisa estar protegida por salvaguardas, de
forma a impedir que um partido poltico eventualmente no poder
possa usar o aparato de coero para suprimi-la. Uma eventual
maioria poltica no pode ter o direito de suprimir eleies ou de
impedir a formao e a atuao de partidos polticos.
O liberalismo no pode ser imposto fora ou pela proibio
de partidos polticos; tem que se impor pela persuaso e pelo argu-
mento, pela explicao de suas vantagens para a sociedade como
um todo e para cada um em particular. As tentativas de impor a
liberdade econmica sem a correspondente liberdade poltica so
uma contradio. Mesmo um eventual e episdico sucesso econmi-
co no pode servir como justificativa para supresso da liberdade
poltica. Se houver liberdade poltica, podemos lutar pela liberdade
75
econmica; se no houver, temos que nos conformar com as determi-
naes do caudilho, general ou ditador a que estivermos submetidos.
Portanto, o trao caracterstico da liberdade poltica a reali-
zao peridica de eleies livres e a ausncia de restries, de
natureza poltica ou econmica, formao de partidos polticos. A
grande vantagem e importncia desse tipo de regime - o regime
democrtico- consiste em possibilitar a transferncia de poder, no
s de um governante para outro, como tambm, e sobretudo, de uma
corrente de opinio para outra, sem que seja necessrio recorrer
violncia, guerra e ao conflito armado.
Convm fazer meno ao caso do Chile, onde, segundo nos
informam, a interveno militar autoritria, tendo permitido um razo-
vel grau de liberdade econmica, estaria obtendo bons resultados,
sendo mesmo possvel prever a vitria do general Pinochet nas
eleies a serem realizadas em 1989. Tal fato estaria a indicar a
eficcia de uma interveno autoritria a fim de liberar a economia e
depois democratizar o pas.
A nosso ver, mesmo esse sucesso eleitoral no caso chileno.
se vier a ocorrer, no recomenda a interveno. Representa um
estmulo a que se recorra violncia para impor idias que um lder
militar (poderia ser um populista) julgar mais convenientes para a sua
comunidade. Todas as intervenes autoritrias na Amrica Latina
foram feitas com esta presuno. Para cada uma que eventualmente
"der certo", existiro dezenas que produziro conseqncias indese-
jveis. A interveno s se justifica para garantir ou obrigar a realiza-
o de eleies.
O liberalismo ter que ser adotado recorrendo-se razo e ao
convencimento das elites intelectuais e, por meio dessas, ao conven-
cimento da maioria das pessoas. um caminho mais difcil, mas o
nico que poder conduzir a resultados duradouros e no apenas a
resultados provisrios ou eventuais.
Princpios gerais
A cooperao social, e conseqentemente os seus benefcios,
76
sero tanto maiores quanto mais cuidadosamente forem respeitados
certos princpios gerais que esto implcitos na idia de liberdade:
Igualdade perante a lei o que significa dizer que a lei ser a
mesma para todos e aplicada da mesma forma, independentemente
de convices religiosas ou partidrias, da raa ou da situao
econmica de cada um.
Ausncia de privilgios - vale dizer que a ningum ou a
nenhum grupo podero ser concedidas vantagens, isenes, direitos,
privilgios, enfim, que no possam igualmente ser estendidos a todos
os demais cidados.
Respeito aos direitos individuais- entendidos como a garantia
e a proteo do que o homem tem e no lhe pode ser tirado: o direito
vida, liberdade, propriedade e sade. Propriedade, claro,
entendida como aquela que tenha sido legitimamente adquirida; caso
contrrio, dever estar sujeita s determinaes da lei. Sade enten-
dida, naturalmente, como aquela que o indivduo tem e no a que
desejaria ter.
Responsabilidade individual- ou seja, que o indivduo arque
com as conseqncias de seus atos, no sendo admissvel transfe-
ri-las compulsoriamente comunidade.
Respeito s minorias- vale dizer que no sejam estabelecidas
imposies de natureza econmica ou poltica a uma pessoa ou a um
grupo de pessoas em funo de alguma de suas caractersticas
tnicas, religiosas, polticas ou econmicas. O ser humano a menor
das minorias.
Liberdade de entrada no mercado isto , que ningum seja
impedido de produzir e de usufruir o fruto de sua produo.
O papel do Estado
O liberalismo reconhece a inviabilidade da liberdade total,
anrquica, e acata o conceito de liberdade compatvel com a convi-
vncia social baseada no intercmbio espontneo dos indivduos.
Reconhece, assim, a imperiosa necessidade de uma ordem geral,
estruturada em normas abstratas de conduta, legitimamente geradas
77
pelos cidados e eficazmente aplicadas pelas instituies administra-
doras da justia.
O liberalismo pressupe, portanto, a existncia de um Estado
organizado, que detenha o monoplio da coero, e de um governo
encarregado de administrar o aparato estatal de compulso e coero.
O papel essencial do governo o de usar o aparato de coero
e compulso para impedir- e eventualmente punir um cidado que
queira usar de violncia ou fraude para atingir seus objetivos; o de
proteger e preservar a vida, a liberdade, a propriedade e a sade dos
indivduos; , por assim dizer, o de manter o ambiente institucional e
o respeito s regras de modo a que possam florescer os talentos e
as capacidades individuais. Em resumo: o de prover a ordem e a
justia.
O principal objetivo de um Estado liberal deve ser o de manter
um clima de paz e tranqilidade nas suas fronteiras, possibilitando
assim a maior cooperao pacfica ~ n t r e os concidados. Nas suas
relaes com outros pases, o objetivo o mesmo: paz e cooperao
pacfica. O ideal supremo do liberalismo o de que possa haver
cooperao entre toda a humanidade, pacificamente e sem restries
de qualquer natureza. O pensamento liberal abrange sempre a hu-
manidade como um todo; no se detm nas fronteiras de uma cidade,
de uma provncia, de um pas ou de um continente. Liberalismo, nesse
sentido, humanismo. Sua viso ecumnica e cosmopolita.
O Estado liberal deve respeitar o direito de autodeterminao
dos povos, mesmo que isso implique em ter como vizinho um Estado
no liberal, autoritrio ou comunista. Deve tambm, claro, estar
preparado para se defender e impedir a agresso de seus vizinhos.
Nota: Uma grande potncia, como o caso dos EUA, se tivesse
um governo verdadeiramente liberal, no poderia se auto-atribuir o
papel de "polcia do mundo" e nem procuraria implantar em qualquer
outro pas regimes que considerasse mais corretos ou mais adequa-
dos. O mximo que deveria fazer num caso como o da Nicargua,
por exemplo, seria no se meter nos assuntos it:Jternos desse pas,
advertindo-o, entretanto, que no poderia tolerar ou permanecer
impassvel caso o mesmo viesse a ser usado como base para uma
agresso aos EUA. Os meios tecnolgicos atuais so suficientes para
78
que se saiba, com preciso, quando isso ocorre. "Ningum tem o
direito de imiscuir-se nos negcios dos outros para promover seus
prprios interesses, e ningum deveria, quando tem em vista o seu
prprio interesse, fingir que est atuando desprendidamente no nico
interesse dos outros". [40, p.126]
A diviso de poderes
J clssica e bem aceita a diviso do aparato estatal em trs
poderes: executivo, legislativo e judicirio, que devem ser obrigato-
riamente independentes entre si.
Ocorre, entretanto, que mesmo nas democracias mais desen-
volvidas, e mais ainda nas democracias subdesenvolvidas, no existe
uma verdadeira separao entre executivo e legislativo. Se, nas
primeiras, as conseqncias desse fato no so to graves - sobre-
tudo em virtude da forma como "produzido" e aplicado o direito, e
em virtude da capacidade que tem o judicirio de legislar atravs da
jurisprudncia -, nas menos desenvolvidas as conseqncias so
bem piores.
O fato de os membros do legislativo serem oriundos, obrigato-
riamente, de organizaes poltico-partidrias que disputam e even-
tualmente ocupam o poder tira-lhes o indispensvel distanciamento
necessrio a quem elabora as regras a que deve estar submetida a
sociedade, inclusive as regras de acesso ao poder.
Assim sendo, o que se v, freqentemente, so os legisladores
formarem os blocos da Maioria e da Minoria, votando a Maioria a favor
e a Minoria contra o governo. Tornam-se inevitveis os casusmo,
impostos pelos representantes que compem a Maioria, qualquer que
seja o partido que esteja ocupando o poder. Tais casu smos so ainda
mais evidentes quando se trata do estabelecimento de regras eleito-
rais ou de vantagens financeiras dos congressistas, uma vez que
afetam diretamente os seus interesses mais imediatos.
Para que houvesse uma verdadeira separao de poderes,
seria fundamental que os legisladores no tivessem qualquer vincu-
la' .. o poltico-partidria. S assim se poderia assegurar que as regras
79
a serem respeitadas pela sociedade, as chamadas leis, fossem
enunciadas com a indispensvel tecnicidade e com o necessrio
distanciamento em relao sua aplicao aos casos futuros.
Na sua trilogia Direito, legislao e liberdade, Hayek prope o
que denomina de demarquia (demo + archos- governo do povo),
designao que lhe parece melhor que democracia (demo +c ratos-
poder do povo). Na sua proposta, Hayek sugere que o Congresso
bicameral tal como existe hoje faa parte do Executivo, por se tratar
de um foro de debate e crtica ao governo, alm de ser o palco da
disputa de poder. Uma Assemblia Legislativa propriamente dita teria
o encargo supremo de elaborar as regras a partir de proposies de
seus prprios membros, dos representantes do executivo, do judici-
rio ou dos partidos polticos. Teria o encargo de "produzir" o direito.
Seus membros deveriam ser eleitos anualmente para um mandato
longo (15 anos), no renovvel, e no poderiam ter qualquer vincula-
o poltico-partidria. Essas eleies deveriam ser anuais, de forma
a renovar a cada ano 1/15 da Assemblia Legislativa. [19 V. III, p.
42-44]
O essencial que se compreenda a inviabilidade de um siste-
ma onde as regras so elaboradas por representantes de partidos
polticos que disputam o poder, uma vez que, provavelmente- e a
histria o confirma-, esses legisladores sero fortemente influencia-
dos por seus interesses eleitorais, verdadeira razo de ser de sua
atividade como membros de um partido poltico. Separando-se os
legisladores dos grupos que disputam o poder, torna-se vivel a
implantao do genuno Estado de direito ao qual todos, inclusive o
governo, tm que se submeter. o governo limitado pela lei.
Quanto forma de governo, se presidencialista ou parlamen-
tarista, o liberalismo, a rigor, no tem nada a dizer. Haver pases e
pocas em que um sistema se revela mais vantajoso do que o outro.
o essencial que existam regras claras e estveis para transferncia
de poder e at mesmo critrios ou condies que justifiquem uma
mudana do sistema de governo, quando necessrio.
Essa mesma separao de poderes deveria estar presente no
s no nvel federal como tambm nos nveis estadual e municipal.
Como regra geral, deveria prevalecer a mxima descentralizao, de
80
tal forma que os estados no assumissem tarefas que pudessem ser
realizadas pelos municpios, e nem a Unio as que pudessem ser
realizadas pelos estados.
A garantia do mnimo
Assemblia Legislativa caberia estabelecer as condies
mnimas de educao e sade, e demais necessidades a serem
proporcionadas a todos os cidados, bem como a origem dos respec-
tivos recursos. Essas condies mnimas deveriam ser propiciadas
aos cidados por meio de tckets representando um perodo escolar
ou um perodo de atendimento de sade, deixando ao indivduo a
possibilidade de escolha da escola ou do seguro-sade de sua prefe-
rncia. Idntico procedimento deveria ser adotado para qualquer outra
condio mnima que se considere indispensvel estender a todos os
cidados pelo simples fato de pertencerem mesma comunidade.
O essencial que a concesso desses benefcios seja feita
diretamente aos indivduos, que escolhero, no mercado, quem me-
lhor lhes pode fornecer o produto ou o servio em questo. A tentativa
do governo de produzir e/ou distribuir diretamente o produto ou o
servio a ser concedido aos mais carentes acaba fazendo com que
sejam gastos em tarefas intermedirias e administrativas at 80% do
total dos recursos, segundo admite o prprio PAG Plano de Ao
Governamental. Quando o Estado resolve construir e operar uma
rede de escolas ou de hospitais, invariavelmente o custo por leito ou
por aluno superior (e a qualidade inferior) ao do mesmo servio
quando prestado por organizaes privadas.
Ao determinar essas condies mnimas, a Assemblia Legis-
lativa deve igualmente indicar a fonte de recursos, ou seja, qual o
imposto ou aumento de imposto cuja arrecadao prover o governo
com os recursos necessrios implementao desses benefcios. A
manifestao em favor de benefcios sem a correspondente indicao
dos recursos necessrios sua implementao, como costuma ocor-
rer em nosso pas, representa apenas o que foi adequadamente
denominado de ''sensibilidade inconseqente".
81
Os impostos
Os recursos necessanos para fazer face s despesas do
aparato estatal, compreendendo Foras Armadas, Diplomacia, apa-
relho arrecadador, Congresso Nacional, Assemblia Legislativa, po-
lcia, tribunais, etc., bem como os recursos necessrios para garantir
a cada cidado o mnimo estabelecido, devem ser obtidos por meio
de impostos. Os gastos do governo devem estar rigorosamente
contidos nos limites de sua arrecadao.
Os impostos devem ser fixados pela Assemblia Legislativa -
no pode haver taxao sem representao. Devem representar uma
parcela do Produto Interno Bruto, e devem ser estabelecidos de forma
clara, simples, amplamente conhecida, e com o cuidado de dificultar
a sonegao e de evitar a bitributao. Os impostos deveriam incidir
preferencialmente sobre o consumo e no sobre o investimento;
sobre a renda consumida e no sobre a renda poupada.
A fixao dos impostos de forma clara- uma taxa nica sobre
o valor adicionado na produo, sobre o consumo ou sobre a renda
(flat tax)- permite ao contribuinte dimensionar mais facilmente o nus
representado por um eventual aumento que esteja sendo cogitado
pelo governo, avaliar a relao custo/benefcio entre o valor a ser
pago e a utilizao a ser dada aos recursos, e, conseqentemente,
manifestar a sua aprovao ou desaprovao.
Por outro lado, a descentralizao na fixao de impostos,
dentro de critrios estabelecidos pela Assemblia Legislativa, permi-
tiria que os impostos numa regio fossem mais elevados do que em
outra. sabido, por exemplo, que o imposto de consumo na cidade
de Nova Iorque bem maior do que em outras regies dos EUA; desta
forma, o prprio nvel de impostos de cada regio influencia os fluxos
migratrios internos e contribui para diminuir desequilbrios regionais.
Apesar da invarivel retrica terceiro mundista de defender a
taxao dos mais ricos em benefcio dos mais pobres, a realidade
bem diferente. Num caso como o brasileiro, a inflao a maior fonte
de recursos do governo. A inflao a maior fonte de recursos do
governo, convm repetir um imposto insidioso e perverso que
recai sobre os assalariados e sobre os mais carentes. Os mais ricos
82
se defendem da inflao e os mais pobres so os que "pagam a
conta". Enquanto o Estado tiver o poder de recorrer inflao, ser
muito difcil evit-la.
As tarifas aduaneiras
O livre comrcio internacional visa a aumentar a competio e
a cooperao social, de forma a diminuir os preos em benefcios do
consumidor. Contra o estabelecimento de uma poltica de livre comr-
cio e de eliminao de tarifas aduaneiras levantam-se geralmente
duas objees que precisam ser examinadas em maior detalhe.
A primeira objeo diz respeito possibilidade de dumpng, isto
, ao caso em que um produtor estrangeiro oferea os seus produtos,
durante algum tempo, por preos muito baratos, com o objetivo de
"quebrar" os seus concorrentes, eliminar a competio, a fim de
poder, num segundo perodo, cobrar preos maiores, e desse modo
obter grandes lucros que compensem as perdas incorridas no primei-
ro perodo. O consumidor que teria se beneficiado dos preos baixos
iniciais acabaria tendo de pagar preos mais elevados, de tal forma
que, no cmputo geral, sairia prejudicado.
Convm notar que essa possibilidade s existe se o produtor
em questo puder estabelecer, nesse segundo perodo, um monop-
lio mundial e de um produto que seja insubstituvel. Se no for assim,
os consumidores passaro a comprar de um outro produtor interna-
cional ou um outro produto que sirva como substituto.
Acresce ainda o fato de que a extenso desse segundo perodo
precisa ser suficientemente grande a fim de permitir que os ganhos,
nessa fase, compensem significativamente os prejuzos incorridos na
fase anterior. To logo se inicie a fase de preos elevados, e portanto
bastante lucrativos, outros produtores ou mais provavelmente ainda
os antigos produtores se sentiro estimulados a competir para obter
uma parcela desses lucros. A extenso desse segundo perodo ser,
portanto, funo do tempo necessrio ao restabelecimento do pro-
cesso de competio.
Todo esse conjunto de circunstncias torna extremamente
83
difcil e arriscada uma tentativa que possa ser efetivamente qualifica-
da como dumping. No mais das vezes, so os produtores locais que
invocam o perigo de dumping, a fim de justificar a proteo s suas
atividades, evitando assim a competio com produtos melhores e
mais baratos.
A segunda objeo diz respeito ao caso dos produtores que
recebem incentivos exportao, o que lhes permite exportar os seus
produtos por preos inferiores aos do mercado internacional. Tal
circunstncia parece indicar a necessidade de que sejam estabeleci-
das, pelo pas importador, tarifas especiais a fim de impedir essa
competio "desleal". Esse o procedimento adotado, por exemplo, pelo
governo dos EUA, que estabelece countervalng duties sobre alguns
produtos importados, com o objetivo de contrabalanar os incentivos que
os exportadores recebem de seus respectivos governos.
Na realidade, tal situao configura uma tentativa de compen-
sar um erro com outro. So prejudicqdos os consumidores de ambos
os pases. De um lado, o incentivo exportao prejudica o habitante
do pas exportador porque recursos obtidos por meio de impostos so
usados para baratear o custo das exportaes que sero oferecidas
no mercado internacional. De outro lado, a tarifa compensatria
impede que o consumidor do pas importador se beneficie do menor
preo decorrente da "generosidade" do governo do pas exportador.
Invariavelmente essas medidas beneficiam os produtores em
detrimento dos consumidores. Havendo liberdade cambial, no h
necessidade de incentivos exportao. Tampouco h necessidade
de proteger o produtor local da competio com produtores estran-
geiros que recebam incentivos exportao. Lato sensu um pas s
pode importar o equivalente ao que exporta; "as importaes so
pagas com as exportaes". [44, p.282-286} Se algumas importaes
obrigarem algum produtor a fechar seu negcio e demitir seus em-
pregados, outras exportaes acarretaro a criao de novas empre-
sas e de novos empregos.
No se deve permitir que as vicissitudes de algum produtor
local, ameaado pelos incentivos que recebe seu concorrente estran-
geiro, possam servir de justificativa para impedir que o consumidor
receba um produto mais barato. Para cada produtor prejudicado,
84
haver um outro beneficiado; para cada emprego perdido, haver um
novo criado, de modo a prevalecer, sempre, a maior vantagem
comparativa, em benefcio do consumidor.
Portanto, as tarifas aduaneiras, a rigor, no deveriam existir.
Todo produto domstico j goza de uma "proteo tarifria" repre-
sentada pelo custo de transporte. Tambm no preciso temer a
competio de produtos estrangeiros que recebam incentivos de seus
governos; se o governo de um pas estrangeiro quiser nos dar uma
parte de sua produo estar nos enriquecendo s custas de seus
cidados.
A tributao sobre os produtos exportados deveria ser a mes-
ma vigente no mercado interno. O equilbrio do balano de pagamento
automaticamente determinado pela taxa de cmbio livremente
estabelecida no mercado. Com cmbio livre no h possibilidade de
haver dficit no balano de pagamento. [39, p. 800-803]
Num perodo de transio justifica-se a fixao de uma tarifa
aduaneira, decrescente no tempo, de forma que ao fim de trs ou
quatro anos ela possa deixar de existir. Pode-se tambm admitir, mais
por razes psicolgicas do que por razes econmicas, uma tarifa
permanente de 10% a 20%, para investimentos de maior perodo de
maturao, ou uma tarifa temporria um pouco maior para o caso de
uma indstria nascente cuja importncia estratgica seja considerada
relevante. De qualquer forma, uma poltica tarifria, se houver, deve
ser estabelecida levando-se em conta o interesse dos consumidores
e no o dos produtores.
Autoridade monetria
A causa da inflao o aumento da oferta da moeda.
Quando o pblico em geral resolve reduzir os seus encaixes,
isto , diminuir a quantidade de moeda que habitualmente retm em
seu poder, aumenta a oferta de moeda, provocando uma inflao,
que percebida por um aumento generalizado dos preos.
Quando vigorava o padro-ouro, um aumento da quantidade
de ouro a ser usada como meio de pagamento tambm representava
85
um aumento da oferta de moeda, provocando, conseqentemente,
uma inflao.
A inflao, nesses dois casos, bastante limitada: no primeiro
caso, depende essencialmente de mudanas de hbito ou de com-
portamento e, no segundo caso, de uma expanso significativa da
produo aurfera. A inflao assim provocada insignificante quan-
do comparada com a que ocorre em virtude da expanso dos meios
de pagamento, determinada pela autoridade monetria, com o obje-
tivo de cobrir gastos do governo.
A existncia desse tipo de inflao inaceitvel. Por isso o
Estado deveria ser impedido ad libitum de emitir moeda. Neste
particular os liberais se dividem em duas correntes: os que acham
que deve haver um Banco Central independente e autnomo que
limite a expanso dos meios de pagamento ao correspondente au-
mento da disponibilidade de bens. mantendo portanto os preos
estveis (monetaristas, Friedman), e os que simplesmente acham
que no deve haver Banco Central (austracos, Hayek).
Hayek prope em seu livro Oesestatizao do dinheiro [18] que
seja permitida a existncia de moedas privadas e a competio entre
elas. Embora tal proposio no tenha sido ainda colocada em prtica
(salvo num perodo de cerca de cinqenta anos na Esccia, e com
sucesso vide Free Banking in Britain, de Laurence H. White [66]),
acreditamos que sua implantao fosse bastante benfica, sobretudo
nos pases do Terceiro Mundo, que tm sido as grandes vtimas da
inflao provocada pelos seus respectivos governos.
Neste particular. permito-me fazer uma especulao. Os pre-
os no devem ser estveis; devem flutuar livremente. Se no hou-
vesse nenhuma expanso dos meios de pagamento (o que muito
difcil mesmo no padro-ouro), o constante aumento da produtividade
faria com que os preos, de uma maneira geral, estivessem sempre
diminuindo. Tal situao no acarretaria, a meu ver, uma depresso.
Efetivamente, convm notar que no caso da Grande Depres-
so de 1929 o ndice de preos se manteve estvel durante toda a
dcada de 20, em virtude de o governo norte-americano ter expandido
os meios de pagamento. No fora isso e os preos teriam diminudo
devido ao enorme aumento de produtividade que caracterizou essa
86
poca. O medo da diminuio de preos levou o governo norte-ame-
ricano no s a expandir os meios de pagamento como at mesmo
a queimar plantaes de cereais antes da colheita, para evitar que
houvesse excesso de oferta. Preos estveis diante de uma produti-
vidade crescente - portanto preos cada vez mais lucrativos esti-
mularam a realizao de investimentos para os quais no havia uma
demanda real. Quando, em 1929, cessou a expanso dos meios de
pagamento a inviabilidade desses investimentos tornou-se evidente;
seu fracasso provocou a depresso e o desemprego. A depresso
a forma pela qual a economia se ajusta, eliminando os maus investi-
mentos que foram induzidos pela expanso dos meios de pagamento
(vide Ame rica 's Great Oepression- M. Rothbard [54]).
A prtica de queimar colheitas teve seu eco no Brasil. Na
dcada de 30, Getlio Vargas mandou queimar estoques de caf a
fim de evitar a diminuio de seu preo. A conseqncia econmica
do prolongado perodo de preos altos, e portanto bastante lucrativos,
foi a de estimular outras naes da Amrica e da frica a produzirem
caf o que de outra forma provavelmente no teria ocorrido, j que
o caf uma cultura que precisa de trs a quatro anos para a primeira
colheita. Resultou da uma superproduo cafeeira e mais tarde uma
poltica de erradicao de cafezais, ou seja, o IBC indenizou os
agricultores para que destrussem os seus cafezais.
Se essa interpretao -a de que sem expanso dos meios de
pagamento os preos deveriam diminuir face ao aumento de produ-
tividade estiver correta, o simples fato de existir um Banco Central
com o poder de emitir moeda de forma a manter os preos estveis
(o que o pblico em geral identifica como uma situao de inflao
zero) representa, na realidade, um imposto inflacionrio estabelecido
sobre toda a populao. No houvesse a emisso, mesmo que
limitada ao correspondente aumento de produo, e os preos deve-
riam estar diminuindo em virtude do aumento de produtividade, da
reduo de custos e da existncia de competio. Havendo emisso,
todo ganho obtido com o aumento de produtividade est sendo
apropriado pelo Estado, via expanso (ainda que moderada) dos
meios de pagamento.
Tal apropriao s seria admissvel se a ela correspondesse
87
uma reduo dos impostos, ou seja, se os recursos decorrentes da
expanso estivessem previstos no oramento da Unio e fossem con-
siderados como uma parte da arrecadao necessria para fazer face
s despesas normais do governo, e no como uma fonte adicional de
recursos a serem usados para cobrir o costumeiro dficit pblico.
De qualquer forma, se a emisso de papel-moeda e de ttulos
da dvida pblica ficar subordinada aprovao de uma Assemblia
Legislativa ou de um Banco Central verdadeiramente independente
como j mencionado, os riscos de inflao estaro certamente mini-
mizados.
Declarao de princpios
A Declarao de Princpios abaixo foi proposta no I Encontro
de Institutos Liberais realizado no Rio de Janeiro em junho de 1988.
Embora tenha sido, em parte, extrada do texto deste captulo,
julgamos conveniente acrescent-la ao livro por representar, a nosso
juzo, uma razovel condensao dos princpios essenciais da dou-
trina liberal.
Declarao de princpios
Os Institutos Liberais do Brasil foram criados com o propsito
de explicar e divulgar as vantagens da sociedade organizada segun-
do os princpios do liberalismo.
O liberalismo uma doutrina voltada para a melhoria das
condies materiais do gnero humano. A erradicao da pobreza e
da misria ser mais rpida e mais amplamente alcanada atravs
da livre interao dos indivduos; atravs da liberdade.
Liberdade - entendida como ausncia de. coero de indiv-
duos sobre indivduos, isto : que a ningum seji:l permitido recorrer
fora ou fraude para obrigar ou induzir algum a fazer o que no
deseja.
88
A escolha da liberdade como valor supremo no decorre de
razes de natureza mstica ou metafsica; decorre do fato de que um
sistema baseado na liberdade propicia um maior desenvolvimento
das potencialidades individuais e uma maior produtividade do traba-
lho humano, sendo portanto do interesse de todos os habitantes do
mundo. O pensamento econmico e a experincia histrica no
conseguiram, at hoje, sugerir um outro sistema social que seja to
benfico para as massas quanto o liberalismo.
Um sistema baseado na liberdade pressupe, necessariamen-
te, uma ampla garantia ao direito de propriedade.
Propriedade - entendida como o direito de o indivduo dispor
livremente de seus bens materiais, de sua capacidade de trabalho,
de seu corpo e de sua mente.
O liberalismo pressupe a existncia de paz, para que a
cooperao social e a diviso do trabalho possam florescer plena-
mente; para que a competio possa ser a mais ampla possvel. Se
a competio for limitada s fronteiras nacionais, seus efeitos sero
benficos; se for ampliada para que prevalea entre um grupo de
pases, seus efeitos sero melhores ainda; se for estendida a todo o
planeta, seus efeitos sero o mximo que o homem pode almejar nas
condies vigentes de conhecimento tecnolgico e de disponibilidade
de capital.
O liberalismo reconhece a inviabilidade da liberdade total,
anrquica, e acata o conceito de liberdade compatvel com a convi-
vncia social baseada no intercmbio espontneo entre os indiv-
duos. Reconhece, assim, para que a liberdade possa produzir os seus
efeitos, a imperiosa necessidade de uma ordem geral.
Ordem - entendida como o respeito a um conjunto de normas
gerais de conduta, legitimamente geradas pelos cidados, s quais
todos, inclusive o governo, tm que se submeter.
O liberalismo pressupe, portanto, a existncia de um Estado
que detenha o monoplio da coero e de um governo,
89
encarregado de administrar o aparato estatal de compulso e coer-
o. O papel essencial do governo o de impedir eventualmente
punindo-o que um cidado possa usar de violncia ou fraude para
atingir seus objetivos; o de proteger e preservar a vida, a liberdade,
a propriedade e a sade dos indivduos; o de manter o ambiente
institucional e o respeito s regras, de modo a que possam florescer
os talentos e as capacidades individuais.
Em resumo: o de promover a ordem e a justia.
Justia - entendida como a aplicao eficaz das normas
gerais de conduta a casos concretos, particulares. A aplicao da
justia implica em que haja a igualdade de todos perante a lei, que
no sejam concedidos privilgios a pessoas ou grupos, e que sejam
respeitadas as minorias. O ser humano a menor das minorias.
O regime liberal, no plano poltico, se caracteriza por garantir
a liberdade de expresso, de locomoo, de crena, de reunio, e
pela institucionalizao da democracia.
Democracia - entendida como a liberdade para escolher as
pessoas que iro exercer as funes de governo e que, portanto, iro
deter o comando do aparato de coero e compulso.
Para que haja liberdade de escolha, indispensvel que haja
eleies peridicas, que os indivduos possam se organizar em torno
de idias e princpios que considerem mais adequados para a socie-
dade, e que possam formar partidos polticos de qualquer natureza.
Essa liberdade de escolha precisa estar protegida por salvaguardas,
de forma a impedir que um partido poltico, eventualmente no poder,
venha a utilizar o aparato de coero para suprimi-la; uma eventual
maioria poltica no pode ter o direito de suprimir eleies ou de
impedir a formao e a atuao de partidos polticos.
O regime liberal, no plano econmico, se caracteriza por asse-
gurar o funcionamento da economia de mercado.
Economia de mercado- entendida como liberdade de inicia-
90
tiva, como responsabilidade individual, como o direito de entrada no
mercado para produzir os bens e servios que os consumidores
desejam. Significa liberdade de contrato representada pelo estabele-
cimento de preos, salrios e juros, sem restries de qualquer
natureza.
O livre funcionamento de uma economia de mercado implica
em que no sejam concedidos a pessoas ou grupos privilgios tais
como subsdios, reserva de mercado, monoplio, licenas cartoriais
e protecionismos de qualquer espcie. Implica em que prevalea
sempre a soberania do consumidor.
Os Institutos Liberais pretendem contribuir para a divulgao
das vantagens do liberalismo atravs da publicao de livros e textos,
da realizao de seminrios, cursos e palestras, e da proposio de
polticas alternativas a serem adotadas pelos eventuais ocupantes do
poder.
Os Institutos Liberais pretendem, portanto, contribuir para mu-
dar a ideologia dominante em nosso Pas- o intervencionismo de
forma a criar as condies que havero de permitir que o Brasil se
transforme no pas rico, prspero, livre e desenvolvido que inegavel-
mente pode vir a ser.
91
A SITUAO
BRASILEIRA
No Brasil de hoje, o equivalente dos feudos da Idade Mdia,
das guildas do mercantilismo, das corporaes do fascismo so as
empresas estatais ou privadas que vivem sombra dos privilgios e
protees concedidos pelo Estado. No so empresas no verdadeiro
sentido no termo. So mais propriamente agncias do governo ou
cartrios. Seus lucros e seus prejuzos so, em grande parte, deter-
minados pelas decises do Estado. Ao passarmos da Velha para a
Nova Repblica, passamos do corporativismo autoritrio para o cor-
porativismo democrtico. Embora do ponto de vista do liberalismo
ambos sejam indesejveis, o primeiro pelo menos mais consistente,
enquanto o segundo torna patente a perplexidade que o assola, ao
tentar compatibilizar a ampla liberdade poltica com a grande inter-
veno do Estado nos assuntos econmicos.
Numa economia livre, o empresrio, ao tomar suas decises,
est incondicionalmente sujeito s leis do mercado, soberania dos
consumidores. Se no produzir algo melhor e mais barato, se no
atender o interesse dos consumidores, perder irremediavelmente a
sua posio empresarial. Mas, no regime mercantilista/intervencionis-
ta que prevalece em nosso pas, no preciso temer a competio;
93
seja pelo monoplio, pela reserva de mercado, pela carta patente,
pelo subsdio, pelo protecionismo, pelas concorrncias fraudulentas,
as posies existentes so conservadas. possvel ento produzir
algo pior e mais caro e, ainda assim, ser bem-sucedido. Essas
empresas, se assim quisermos cham-las, j no servem aos consu-
midores. Subsistem graas aos privilgios de que desfrutam. Servem
aos interesses dos seus proprietrios e dos grupos no poder que lhes
concedem os privilgios, em detrimento dos interesses do resto da
populao. No caso das estatais, servem aos interesses de seus
funcionrios; um bom exemplo disso so as doaes feitas pelas
empresas estatais aos fundos de penso de seus empregados. So
apenas uma conseqncia lgica do sistema.
Seria extremamente desejvel que se permitisse a realizao
de uma auditoria privada no setor pblico e que se revelassem
nao os seus resultados. Certamente contribuiriam para desmistifi-
car de vez o equvoco representado pelo Estado provedor. O fen-
meno dos marajs apenas um pequeno exemplo; seria de admirar
se no existisse.
Nosso pas, lamentavelmente, vive ainda o regime mercantilis-
ta. O nosso mercantilismo, porm, no poder durar muito tempo
mais; resta apenas saber como ser superado: se pelo liberalismo na
forma gradual, no violenta, de que o melhor exemplo foi a Inglaterra,
provocando um inegvel surto de progresso e desenvolvimento nun-
ca antes sequer imaginado, ou na forma ocorrida com o mercantilismo
tardio da Unio Sovitica, substitudo pelo regime autoritrio e cen-
tralizador que ainda hoje vigora naquele pas. Ou, ainda, na forma
violenta e ideologicamente confusa da Revoluo Francesa, que
decapitou o monarca para acabar assistindo ascenso de um
Imperador!
H os que, no Brasil, por evidente desconhecimento, qualificam
o liberalismo como uma idia ultrapassada. No chegam a perceber
que o mercantilismo vigente em nosso pas muito semelhante ao
que prevalecia nos pases europeus e que foi destronado pela idia
liberal. Na realidade, ultrapassado o nosso regime econmico, uma
espcie de neo-feudalismo, onde o gro-senhor, o Estado, distribui
privilgios entre os membros da corte, enquanto a grande maioria de
94
vassalos, hoje como ontem, com admirao e respeito, bate porta
do castelo para pedir as graas do senhor.
Uma sociedade democrtica como a nossa, para elevar o
padro de vida dos seus cidados, ter que utilizar os meios reco-
mendados pela ideologia dominante, e pela sua elite intelectual e
poltica. Se quiser fazer de forma diferente, ter que deixar de ser
democrtica. No nosso pas, os meios recomendados e adotados so
os mesmos, tanto na Nova como na Velha Repblica. Temos recor-
rido a uma crescente interveno do Estado e os resultados obtidos,
invariavelmente, no so os desejados.
Para que essa situao mude, no basta mudar os governan-
tes; preciso mudar a ideologia dominante, o que por sua vez implica
em conseguir convencer as nossas elites intelectuais e polticas do
equvoco que vem sendo cometido. necessrio que ocorra uma
verdadeira revoluo cultural, ou seja, que a idia liberal se torne
popular; que ganhe eleies.
O problema brasileiro, portanto, sobretudo ideolgico; de
escolha de meios. Essa escolha deve ser objetiva, deve ter embasa-
mento terico e evidncia prtica de seus resultados, porque mudan-
as para melhor no ocorrem em funo do ardor dos nossos desejos
ou da seriedade de nossas intenes; s ocorrem se adotarmos os
meios adequados.
Certamente os custos da transformao de um Estado alta-
mente intervencionista, como o nosso caso, em um Estado liberal,
como o proposto, sero elevados, embora temporrios. Esses custos
so representados por todos os ajustes individuais indispensveis
passagem de uma situao para outra. Empregos e empresas desa-
parecero e outros sero criados. Muitos se vero obrigados a mudar
de emprego, de local de trabalho e at mesmo de profisso.
inevitvel.
Para que possa ser implantado um regime liberal, necessrio
que haja determinao poltica e apoio popular, ou seja, que o povo
deseje a mudana, que as pessoas estejam convencidas de que a
maior cooperao social pacfica atende melhor aos seus prprios
interesses. Ser necessrio tambm que a equipe econmica encar-
regada de efetuar as mudanas tenha credibilidade e consistncia
95
para implementar as medidas necessrias.
Para o perodo de transio, creio ser valioso o conselho de
lvaro Alsogaray, que comandou uma bem-sucedida transio do
mesmo tipo, na Argentina: "No lo hagam a mdias". Foi essa tambm
a forma adotada por Erhard, na Alemanha, que decretou as medidas
de liberdade econmica num fim de semana, para evitar que fosse
impedido de faz-lo pelo General Clay, comandante das foras de
ocupao. Vejamos o que diz Erhard em seu livro Germany's Return
to World Markets:
O mais importante era que a iniciativa das empresas privadas e dos
trabalhadores fosse livre, enquanto o consumidor decidiria quais os
bens que deveriam ser produzidos. Da mesma forma, no comrcio
exterior, o principal objetivo era remover as barreiras que restringiam
o comrcio. [ ... ]
No cabe ao Estado decidir o que exportar ou importar; a multido
de consumidores, nacionais e !'Strangeiros, e os seus agentes no
mercado, os comerciantes e os empresrios, que devem determinar
o curso dos negcios. [ ... ]O objetivo aicanar a mxima diviso do
trabalho, abrangendo todos os mercados do mundo. No devem
existir barreiras alfandegrias; devem ser abolidas. A poltica comer-
cial do nacionalismo econmico procura transformar o comrcio ex-
terior em vendas domsticas artificialmente controladas. Tende a
estrangular o comrcio exterior; seus instrumentos so o protecionis-
mo, o controle de cmbio e, no fundo, o controle de toda a economia.
A poltica comercial da Alemanha Federal, por outro lado, visa a abolir
essas interferncias. Quer aumentar o comrcio mundial e no dimi-
nu-lo. [10, p. 25]
So palavras de quem fez a mais rpida e mais bem-sucedida
transio do inteNencionismo em alto grau para uma completa liber-
dade econmica.
Fazer a transio de uma s vez no significa que todas as
medidas devero ser implementadas ao mesmo tempo e, menos ainda,
que produziro os seus efeitos instantaneamente., Significa que devem
ser todas anunciadas de uma s vez, embora sua implementao deva
levar em conta as conseqncias especficas de cada caso.
96
Assim, por exemplo, como j mencionamos anteriormente, a
abolio de tarifas ou paio menos a sua reduo a uma tarifa alfan-
degria de 10% a 15% poderia ser feita gradativamente. Inicialmente,
as tarifas poderiam ser reduzidas para, digamos, 40%, baixando em
seguida, ano a ano, at o limite final determinado. Medidas dessa
natureza dariam um tempo para que as indstrias nacionais se
ajustassem liberdade e encontrassem meios de produzir melhor e
mais barato para poderem sobreviver.
As conseqncias da grande mudana de empregos que fatal-
mente ocorreria, sobretudo do setor pblico para o setor privado,
poderiam ser atenuadas com a criao de alguma forma de seguro-
desemprego temporrio ou de indenizao para rompimento definiti-
vo do vnculo empregatcio. A venda de ativos poderia contribuir
significativamente para cobrir essas despesas adicionais decorrentes
da indispensvel diminuio do efetivo de funcionrios pblicos.
A transio, portanto, embora firme e consistente, embora
anunciada de uma s vez, deve ser feita levando em considerao
as circunstncias especficas e os efeitos colaterais de cada caso;
procurando minimizar os seus custos, embora consciente de que eles
existem e tero que ser suportados.
H os que diro que isso tudo uma utopia.
No uma utopia. Um pas como o nosso, que tem recursos
naturais suficientes para as suas necessidades ou suas trocas, que
tem uma unidade lingstica, que no tem disputas de fronteira, que
no tem conflitos raciais importantes ou conflitos religiosos, que tem
um povo ordeiro e trabalhador, que j tem uma classe empresarial
operante e ativa, tem tudo para, em relativamente pouco tempo, se
transformar numa nao rica, livre, prspera e desenvolvida. Basta,
para isso, que as nossas elites intelectuais e polticas compreendam
a necessidade e a convenincia de substituir a inteNeno do Estado
pela liberdade econmica, pela "revoluo permanente", pacfica, no
violenta, que poder acabar com privilgios e vantagens inaceitveis,
reduzir a pobreza e a misria e restabelecer a soberania do consu-
midor.
Liberar amplamente a economia no uma utopia. algo difcil
de ser realizado, que precisa de apoio poltico, difcil de ser obtido.
97
Pode-se at mesmo alegar que, nas condies atuais, seja improv-
vel a sua implementao. Mas no impossvel. J foi feito antes, e
com xito.
Utopia pretender que a coero possa aumentar a produtivi-
dade e a cooperao e, conseqentemente, o conforto material que
todos almejam. Utopia pretender que esse objetivo possa ser
atingido contrariando as leis da ao humana. Utopia, enfim,
imaginar que, aumentando o grau de servido, se poder aumentar
a riqueza, o conforto, a produo, o bem-estar e a felicidade da
espcie humana.
As consideraes acima foram escritas em 1988. De l para
c muita coisa ocorreu: tivemos Sarney, um presidente retrico e
demaggico, que levou o pas a uma hiperinflao; tivemos Collor,
um presidente inteiramente envolvido com esquemas de corrupo,
que acabou destitudo pelo Congresso; tivemos Itamar, um presiden-
te despreparado para governar.
Nesse meio tempo, promulgamos uma nova e economicamen-
te absurda Constituio e assistimos queda do Muro de Berlim. O
fato de que entre um evento e outro tenha decorrido apenas um ano,
d bem a medida da grande alienao de nossas elites polticas e de
nossas elites intelectuais em geral, que saudaram a nova Constitui-
o como um modelo de documento "progressista"(!?). Tivemos
ainda a chance, inteiramente desperdiada, de fazer uma reviso
constitucional por maioria simples.
A disputa eleitoral do final de 1994 colocou os eleitores diante
de uma opo bsica: de um lado, o candidato Fernando Henrique
Cardoso propondo-se a acabar de vez com a inflao (tarefa que j
tinha iniciado com o Plano Real elaborado durante sua gesto como
Ministro da Fazenda), reduzir o tamanho do Estado. reformar a
Constituio, abrir a economia e eliminar privilgios; de outro lado,
Luiz Incio Lula da Silva prometendo aos trabalhadores ganhos
salariais maiores que a inflao, manter a presena do Estado na
economia, sustar as privatizaes e a tentativa de reforma constitu-
cional.
O povo, de forma clara e inequvoca, fez sua escolha: elegeu
FHC por maioria absoluta no primeiro turno. Essa manifestao
98
popular tem uma importncia transcendental porque, numa socieda-
de democrtica, cabe ao povo definir os rumos que o pas dever
seguir. De uma maneira geral, os lderes polticos bem-sucedidos
apenas se colocam frente do povo, dizendo aquilo que ele quer
ouvir. Mesmo que isso signifique fazer hoje um discurso completa-
mente diferente daquele que fazia at pouco tempo atrs.
Depois de tanto sofrer, depois de tanta pobreza, o povo brasi-
leiro fez sua escolha diante de uma opo bem ntida. E, felizmente,
fez a boa escolha. Isto sinal de que as coisas podero comear a
mudar, e para melhor. sinal, tambm, de que os polticos tero que
mudar o seu discurso, adaptando-se aos novos tempos. Devemos
ficar satisfeitos com o fato de que as mudanas no ocorrero em
virtude de um lder iluminado ou de um caudilho esclarecido ter nos
apontado o bom caminho; ocorrero porque o povo amadureceu,
ainda que apenas por cansao da demagogia populista e socialista,
e amadureceu antes das elites intelectuais, que em sua maioria
continuam a crer na iluso socialista, embora agora com menos fervor
e com mais dissimulao.
No se pode deixar de consignar que o presidente FHC foi um
dos principais responsveis pela desastrosa Constituio de 1988 e
que fez sua carreira poltica defendendo idias socialistas ou social-
democratas- que a tentativa contraditria de conciliar o socialismo,
no campo econmico, com a democracia, no campo poltico, sem se
dar conta de que uma nao, para ser socialista mesmo, no poder
ser democrtica e, se for democrtica, no conseguir permanecer
socialista.
No se pode tambm deixar de consignar que um fato raro,
rarssimo, em qualquer pas, ter como presidente da repblica um
homem da estatura moral e intelectual de FHC, mormente tendo sido
escolhido por eleies diretas, to vulnerveis que so demagogia
irresponsvel.
Elegemos um presidente de elevado nvel cultural, que no
demagogo, que no corrupto, que capaz de ser firme e tolerante,
que no favorece o nepotismo, que aprecia a discrio familiar, que
trabalhador. Um presidente de quem podemos discordar, mas que
no podemos deixar de reconhecer que merece respeito. Quem elege
99
um presidente assim, um pas srio. Se o compararmos com
Clinton, Mitterrand, Kohl, Major, Menen, para mencionar apenas os
lderes dos pases que nos so mais importantes, s teremos motivos
para nos orgulhar.
No momento em que escrevo estas linhas- junho de 1995- a
Cmara dos Deputados acaba de votar favoravelmente a ltima das
cinco emendas constitucionais enviadas ao Congresso h apenas
trs meses atrs. Nesse curto espao de tempo, foram revogados
pela Cmara dos Deputados o monoplio estadual de distribuio de
gs, as restries s firmas estrangeiras em geral, a proibio de
firmas estrangeiras atuarem no campo da minerao, o monoplio
das telecomunicaes e o monoplio da Petrobrs. Todas as vota-
es em dois turnos e por maioria qualificada! E pensar que h um
ano atrs no conseguamos sequer maioria simples para mudanas
elementares; e que, h seis anos atrs, promulgamos uma Constitui-
o absolutamente insana do pontC! de vista econmico!
De fato, muita coisa mudou, mas ainda h muita coisa a mudar.
Precisamos com urgncia fazer a reforma fiscal, a reforma tributria,
a reforma da previdncia, a reforma eleitoral, a reforma da federao,
a reforma da legislao trabalhista, a reforma da educao e da
sade, a reforma cambial. Mas, pelo menos, hoje, temos a sensao
que iniciamos a caminhada, e na boa direo. H fundadas razes
para termos esperana.
inegvel que o presidente FHC reviu algumas convices
que o acompanharam no s durante sua carreira acadmica, mas
tambm, at bem pouco tempo, na sua carreira poltica. O reconhe-
cimento de ter havido um certo grau de converso ideolgica poderia
ser considerado um imperativo de seriedade intelectual. Como ocor-
reu com Vargas Llosa. Mas, como tambm ocorreu com Vargas Llosa,
poderia representar a derrota nas eleies. Se for assim, melhor um
social-democrata que ganhe eleies e que faa democraticamente
as reformas de que nosso pas tanto necessita, do que um verdadeiro
liberal que no tenha a menor chance de ganhar eleies. Afinal,
como dizia Deng Xiao Ping: no importa a cor do gato, desde que ele
coma o rato.
100
APNDICE
ALGUNS CASOS CONCRETOS
DA REALIDADE BRASILEIRA
*
A previdncia social compulsria
A previdncia social compulsria foi estabelecida, naturalmen-
te, como as demais intervenes, sob o argumento de que seria
necessria para atender os mais pobres. Quer dizer: se no fosse a
previdncia social brasileira, como iria ficar um pobre trabalhador na
sua aposentadoria? A previdncia compulsria foi implantada para
amparar a velhice do trabalhador. Mas, vejam os senhores como a
realidade se mostra diferente, como tudo isso perverso e como essa
perversidade deixaria de existir, caso houvesse liberdade de entrada
no mercado, caso a previdncia no fosse compulsria. Um trabalha-
dor paga, por ms, 30% de seu salrio como contribuio para a
previdncia social. No seu oramento esta deve ser, se no a maior,
pelo menos uma de suas maiores despesas mensais. certo que
uma parte disso ele recebe de volta, em assistncia mdica, mas
Texto extrado da gravao de uma conferncia proferida pelo autor deste livro na
Associao Comercial do Rio de Janeiro. em setembro de 1987, a convite da
ADESG. (N.E.)
103
poderia, sem dvida, receb-la de outra maneira. Pelos nmeros de
que temos conhecimento, a despesa da previdncia com sade
absorve uns 20% do total: 80% gasto com pagamento de benefcios.
E a estes 80% que queremos nos referir. Vou ilustrar a iniqidade
da previdncia relatando um caso pessoal, o meu caso pessoal,
porque fornece, de forma muito ntida, os elementos para examinar
o assunto. Eu comecei a trabalhar com 18 anos e trabalhei a vida
inteira numa empresa s. Minha carteira profissional tem apenas uma
assinatura, o que facilita e simplifica muito a documentao, pois
trata-se de um empregador s, de uma carteira s, com poucas
informaes, muito claras, muito precisas. O direito aposentadoria
ocorre aps 35 anos de servio. Mas como sou engenheiro- e, no
sei por qu, engenheiro pode se aposentar com 30 anos de servio-,
poderia ter me aposentado aos 48 anos de idade. Aposentei-me aos
50 anos. Ora, ocorre que minha expectativa de vida, numa avaliao
razovel, tendo em vista ser eu uma pessoa com acesso boa
medicina, boa alimentao, a um' certo conforto, de 70 anos.
Conseqentemente, a Previdncia vai ficar me pagando a penso
mxima, durante vinte anos. embora, quando comecei a contribuir,
ganhasse menos do que o salrio mnimo. evidente que comigo ela
no fez um bom negcio. Quem que est arcando, em ltima
anlise, com o pagamento da minha penso? Na verdade, quem est
pagando a minha penso so esses trabalhadores, pequenos contri-
buintes da previdncia social, que trabalham alguns anos no Nordes-
te, antes de virem para o sul; que trabalham alguns anos sem carteira
assinada, que mudaram vinte vezes de emprego, que ficaram algum
tempo desempregados e que, sem qualquer vantagem, vo ter de se
aposentar com 35 anos de servio. Considerando tudo isso e mais as
falhas de documentao e mais os perodos de desemprego, o
trabalhador acaba se aposentando ali pelos 60 anos de idade. Ocorre,
entretanto, que a sua expectativa de vida de 55 anos. Ou seja, morre
antes de se aposentar. E aquele dinheiro que ele pagou a vida inteira
usado para pagar a minha aposentadoria e a de outros na mesma
situao, alm de ser usado para pagar o grande volume de fraudes
das quais s no tem conhecimento quem no quer.
Ora, as coisas poderiam ser diferentes se a poupana no
104
fosse compulsria, se o trabalhador tivesse o direito de escolher o
modelo de previdncia que mais lhe conviesse. Se houvesse liberda-
de e se o trabalhador pudesse escolher, algum lhe ofereceria oo
apenas um, mas dois, trs, cinco, dez planos de aposentadoria,
dizendo: "se o senhor quiser se aposentar aos 52 anos, o senhor
paga, agora, uma importncia mensal de 1 O; se o senhor quiser se
aposentar aos 55, paga uma importncia de 9; se o senhor quiser se
aposentar aos 60 ou 65, o senhor paga, agora, uma contribuio de
2, de 1". Ento, o prprio trabalhador poderia avaliar as diversas
alternativas, de acordo com as suas condies no momento, e
concluir: "eu prefiro pagar 2 a pagar 1 O - porque estes 8 me fazem
falta hoje - e, conseqentemente, s me aposentar depois de 60
anos". Entretanto, por ser compulsria, a Previdncia essa perver-
sidade que se pode constatar. Embora ningum possa dizer que ela
foi feita para atender aos mais ricos, na realidade ampara aqueles
que tm maior expectativa de vida ou aqueles muitos que consegui-
ram uma forma de fraud-la.
O monoplio estatal do petrleo
O monoplio estatal do petrleo um orgulho nacional. A
Petrobrs uma empresa que figura entre as maiores do mundo.
tida como uma empresa eficiente, uma empresa que produz 500 mil
barris de petrleo por dia. responsvel por toda nossa produo,
pelo refino e por grande parte da distribuio de petrleo. Preferimos
falar da Petrobrs, porque ela , realmente, uma das mais bem-do-
tadas, das mais eficientes empresas estatais. Se ns optssemos por
falar das outras, as contradies emergeriam, por certo, com muito
mais evidncia. Mas da prpria Petrobrs que ns devemos falar.
E, nesse sentido, vamos refazer uma pergunta: algum se d conta
do que poderia acontecer para esse nosso pas, se houvesse liber-
dade de entrada no mercado? claro que se fosse dado a todos, a
quem quisesse, o direito de produzir combustvel, de vender combus-
tvel, certamente ns teramos um combustvel melhor e mais barato
do que o produzido pela Petrobrs. Mas em nome de uma segurana
105
nacional, em nome de um medo das multinacionais, se estabelece
um monoplio, que considerado como intocvel, inquestionvel.
Quem se manifesta contra o monoplio considerado como algum
sem patriotismo, como um vendido s multinacionais. Ns diramos,
s para ampliar a argumentao, que, se este o problema, por que
no deixar, ento, que um brasileiro possa produzir? O empresrio
brasileiro! Como garantia, poder-se-ia estabelecer que, se algum
estrangeiro possusse aes de uma empresa produtora de combus-
tvel, estas aes seriam automaticamente confiscadas. Nenhum
estrangeiro se atreveria a investir, havendo uma discriminao como
esta. Fique claro que no estamos defendendo esta tese, mas apenas
ilustrando o fato, para demonstrar a falcia representada pelo mono-
plio estatal do petrleo.
A petrobrs -lamentamos muito diz-lo- no uma empresa.
A Petrobrs uma agncia do governo. Quem tem os seus custos e
a sua receita determinados por decr:eto ou por portaria no uma
empresa, uma agncia do governo; da mesma maneira que as
empresas privadas, que tm os seus preos ou a sua receita definidos
pelo governo, e que tm os seus custos igualmente definidos pelo
governo, no so empresas, so cartrios. O mal no se localiza,
portanto, apenas no caso da empresa estatal, mas se estende
tambm ao caso da empresa privada cartorial. A rigor, o problema
no privatizar a Petrobrs. acabar com o monoplio. Que a
Petrobrs continue existindo, que continue funcionando! Mas que
seja dada a liberdade de entrada no mercado, que seja dada liberdade
para outros produzirem. A Petrobrs j se encontra, indubitavelmen-
te, com uma. dianteira enorme: com uma grande infra-estrutura, com
refinarias, com plataformas, com tudo mais. Mas, que se permita
entrar no mercado a quem quiser produzir melhor e mais barato. Que
se permita entrar no mercado a quem quiser investir o seu capital,
sem precisar cobrar isso no preo, como a Petrobrs quer fazer,
embutindo no preo dos combustveis uma margem suficiente para
cobrir os seus investimentos, sobre os quais, na verdade, nada se
sabe precisamente.
Com franqueza, o que so os investimentos da Petrobrs?
Para que, especificamente, ela destinaos seus recursos? Qual o
106
critrio de prioridade? Os que puderem ter acesso a essa intimidade
ho de ficar, certamente, estarrecidos. Insistimos: que a Petrobrs
passe a competir com outras empresas, que seja obrigada a servir
ao consumidor e no sua burocracia! Para quem no sabe, aquele
belo edifcio da Petrobrs foi vendido, h cinco anos atrs, para o
fundo de previdncia dos seus empregados, por 30 milhes de
dlares e, em seguida, alugado prpria Petrobrs, no se sabe em
que condies. No mesmo ano em que a Petrobrs vendeu o seu
edifcio para o fundo de previdncia dos funcionrios por 30 milhes
de dlares, nesse mesmo ano, ela doou ao mencionado fundo 60
milhes de dlares. inevitvel a pergunta: de onde vem isso?
inevitvel a resposta: do preo do combustvel que todos ns paga-
mos. A Petrobrs no precisa servir ao consumidor; ela tem que servir
a um hipottico interesse nacional, que definido por "eles mesmos".
Certamente, esto defendendo o interesse nacional os dois funcion-
rios, sentados um em frente ao outro, um vendendo o edifcio e o outro
comprando, numa deciso da qual, seguramente, nenhum dos se-
nhores participou, e da qual a sociedade no tomou conhecimento.
A dvida externa
Por que o Brasil tem uma dvida externa? O Brasil, a nao,
por que tem uma dvida? Se algum deve ao Bradesco e no paga,
essa dvida no transformada numa dvida nacional interna.
apenas um problema entre o devedor e o Bradesco, que executa as
respectivas garantias. Por que, quando algum toma dinheiro em-
prestado ao Citibank ou ao Chase Manhatan Bank, no exterior, e no
paga, em vez de serem executadas as garantias, o governo
brasileiro que se torna responsvel pela dvida? Por que transformar
em dvida nacional o que, na realidade, uma dvida de pessoa
privada (ou mesmo de empresa estatal) para pessoa privada, no
caso, o banco no exterior? Por que a intromisso do Estado nessa
transao? Porque o Estado tem o monoplio de cmbio. Porque as
operaes de cmbio s podem ser realizadas atravs do Estado. E
por isso que a dvida brasileira no uma dvida de pessoas para
107
pessoas, de pessoas jurdicas para pessoas jurdicas, uma dvida
da nao brasileira para pessoas de direito privado estrangeiro. A
Alemanha no tem uma dvida nacional; os Estados Unidos no tm
uma dvida nacional. Se um banco japons empresta para um empre-
srio americano e este fica inadimplente, o banco japons vai execu-
tar o empresrio americano. E a nao americana no fica devendo
por isso.
As conseqncias da interveno so invariavelmente desas-
trosas. urgente que ns compreendamos isso e acabemos com
isso! Acabemos com o monoplio de cmbio; liberemos o cmbio de
uma vez por todas, para que nunca mais um problema bancrio que
se resolveria pela simples execuo de garantias possa ser transfor-
mado numa questo nacional ou internacional.
Costuma-se dizer que- no caso brasileiro, diferentemente dos
casos mexicano e argentino - o dinheiro veio para se fazerem
grandes obras, tais como ltaipu, Carajs, Aominas etc ... Foi, ~ e l o
menos, "investido". Este mais um equvoco. Na verdade, lta1pu,
Carajs, Aominas, etc. foram realizadas com cruzeiros, com moeda
nacional. A parcela importada para essas obras pode ser absorvida
por nossas exportaes de soja, caf, sapato, etc ... Os dlares que
essas companhias tomaram emprestados, que a Petrobrs tomou
emprestados, que a Eletrobrs tomou emprestados, que a Aominas
tomou emprestados, no ficaram para a Aominas, para a Eletrobrs,
para a Petrobrs; elas receberam a importncia correspondente em
cruzeiros e os dlares foram empregados para pagar as importaes
brasileiras, cujo valor aumentou muito a partir de 1973, devido ao
enorme aumento do preo do petrleo. Quando o mundo inteiro
reduzia o seu consumo de combustvel, quando o mundo inteiro
andava de bicicleta e s utilizava o carro em dias alternados, ns
vivamos a alienao da Ilha da Fantasia e continuvamos importan-
do. Ns fomos a nica das grandes economias do mundo que
aumentou o seu consumo de combustvel, apesar da crise. Se
considerarmos o nosso consumo de petrleo, em 1973, e o aumento
de preo que tivemos que pagar, de 1973 a 1983, em decorrncia do
primeiro e do segundo choque, e se acrescentarmos a isso o juro
correspondente, atingiremos a impressionante cifra de 100 bilhes de
108
dlares. De fato. ns tomamos 1 00 bilhes de dlares emprestados
para pagar o aumento do preo do petrleo. Esse dinheiro no foi
investido produtivamente; da hoje ns no termos como pagar essa
dvida. Se no houvesse o monoplio de cmbio, isso no acontece-
ria. At porque, muito provavelmente, os bancos no emprestariam
o dinheiro.
As concorrncias pblicas
Para ampliar mais ainda o horizonte de nossas ilustraes,
vamos comentar mais um caso, que talvez os senhores desconhe-
am. Referimo-nos forma como so feitas as concorrncias pblicas
para as grandes obras no Brasil. O normal seria proceder como faz
o Banco Mundial. Inicialmente, pede-se uma srie de documentos
para verificar a habilitao tcnica do concorrente. Uma empresa que
tenha uma certa habilitao mnima, mesmo que seja menor que a
de outro concorrente, poder apresentar seu preo. Entre os que tm
a habilitao mnima, o que apresentar a melhor proposta de preo
o ganhador da concorrncia e , conseqentemente, o contratado.
Ora, esse processo deixa pouca margem para a corrupo,
porque todos procuram oferecer o preo menor, e aqueles que o
aumentarem para deixar uma margem corrupo acabam perdendo
a concorrncia. Todavia, a nossa "imaginao", a nossa "criatividade".
fez surgir um mtodo que, ao que nos consta, no tem precedente
em parte alguma do mundo.
Aqui no Brasil, segue-se a seguinte dinmica: para uma con-
corrncia de um trecho do metr, de uma usina hidreltrica, de uma
aciaria, pede-se uma proposta tcnica e uma proposta de preo. A
proposta de preo feita nas seguintes condies: o preo fica
limitado a um intervalo de 1 O% abaixo e 1 0% acima do oramento
oficial. Pode-se at dizer: "isso uma prtica natural, de boa gesto:
quem prope um preo muito baixo acaba no fazendo a obra, e um
preo muito alto no convm ao Estado". Mas ocorre o seguinte: o
preo estabelecido pelo Estado extremamente generoso, intencio-
nalmente generoso. Em decorrncia desse fato, as propostas so
109
I
I
L.
cotadas por um valor 1 0% abaixo do oramento oficial, que o preo
mnimo permitido. Se no fosse proibido, algum ofereceria um preo
menor; mas se assim o fizer ser desclassificado. Desta forma, todos
propem 1 O% abaixo do oramento oficial. E todos empatam no
preo! Esse modelo de concorrncia, to extraordinariamente sui
generis, faz com que todas as propostas apresentadas tenham o
mesmo preo! E, a, como que se decide? Volta-se s propostas
tcnicas. Uma comisso de trs membros examina essas propostas
e lhes atribui uma nota tcnica. Ora, convenhamos, o exame de uma
proposta tcnic,a traz uma certa dimenso de subjetividade. O grau,
a nota que vai ser atribuda subjetivamente proposta tcnica passa
a ser decisiva. Dessa maneira, as autoridades tm condies de
determinar a priori quem vai ganhar a obra. Quem "for escolhido"
prepara uma proposta tcnica que seja imbatvel, que se mostre a
mais sunturia possvel, com maquetes, grficos, perspectivas, para
"justificar" a melhor nota e, assim, como todos empataram no preo,
"vencer'' a concorrncia. Foi esse o processo adotado no caso da
Ferrovia Norte-Sul. Como revelou o jornalista de A Folha de So
Paulo, j se sabia a priori quem ia ganhar. Lamentavelmente este
o sistema usado. atravs de processos como esses, com inter-
venes desse tipo que ns vamos fazendo com que este pas no
seja o pas que poderia ser, que todos gostaramos que fosse.
Os investimentos e as tarifas
Estamos acostumados a ler nos jornais declaraes de autori-
dades, dando-se um ar de bons gestores, de empresrios, dizendo
que os investimentos feitos pelas empresas estatais precisam dar um
retorno mnimo razovel que permita remunerar o investimento. Men-
cionam geralmente a taxa de 12% a.a. Aos mais desavisados, a
afirmativa soa consistente e sensata; se fosse um investimento priva-
do, pensam alguns, o empresrio ganancioso quereria um retorno
maior; mesmo sendo pblico, no se deve dar o ~ e r v i o de graa -
precisa haver um retorno.
Essa afirmativa um completo non-sense, simplesmente por-
110
que estabelece que deve haver uma remunerao para o investimen-
to, qualquer que seja o investimento! Se uma usina hidreltrica custou
o dobro, devido ao sistema de concorrncia adotado no Brasil, o
investimento a ser remunerado tambm o dobro! Se o investimento
intil, como tantos feitos pelo Estado, no tem cabimento falar em
taxa de retorno. Como nesses setores no h competio, no
sabemos sequer quanto poderiam custar as tarifas de eletricidade,
comunicaes, gua, gs, os combustveis, se fosse permitido que a
iniciativa privada investisse nessas reas, se houvesse um clima
institucional favorvel aos investimentos privados nos setores em que
o Estado detm o monoplio.
O fato de os investimentos pblicos custarem sempre bem
mais caro em virtude da forma como so feitas as concorrncias, o
fato de os gestores das estatais estarem mais preocupados com os
interesses da burocracia do que com os do consumidor, obrigam a
que todos ns paguemos tarifas maiores do que as que seriam
estabelecidas em regime de competio.
Como se j no bastasse, as autoridades continuam com seu
festival de disparates; alegam elas que as tarifas tm que ser sufi-
cientemente altas para possibilitar os investimentos estatais! Ora, isso
um absurdo! como se a Volkswagen anunciasse que o seu carro
tem que ser mais caro porque ela vai construir uma nova fbrica, ou
que o Po de Acar cobrasse um adicional nos seus supermercados
porque quer construir uma nova loja no Maranho ou em Moscou.
Os exemplos ilustram bem o que ocorre quando a soberania
deixa de ser do consumidor e passa a ser do Estado monopolista. Os
mais onerados pelas maiores tarifas dos servios essenciais so os
mais carentes. O combustvel e a energia, por exemplo, representam
uma maior percentagem dos salrios menores do que das grandes
rendas.
Estes so apenas alguns exemplos do descompasso existente
entre os objetivos pretendidos e os resultados alcanados.
A situao a mesma em inmeros outros casos concretos:
no ensino superior gratuito, na lei do inquilinato, no congelamento das
mensalidades escolares privadas, no saneamento dos bancos esta-
duais, nas cartas patentes, no subsdio agricultura e indstria, na
111
proteo tarifria, na estabilidade do emprego, nos salrios mnimos,
na reforma agrria, etc. etc. etc.
Quanto mais rapidamente compreendermos o equvoco que
estamos cometendo, mais rapidamente transformaremos esse nosso
pas na nao rica que poderemos vr a ser. Enquanto isso no
acontecer, continuaremos sendo apenas um grande pas do Terceiro
Mundo, uma colnia do nosso prprio Estado.
112
BIBLIOGRAFIA
1. ALSOGARA Y, Alvaro. Conseqncias do populismo estatizante na Argen-
tina, srie ''A Idia Liberar -Textos escolhidos n. 1. So Paulo, Instituto
Liberal, 1988.
2. BASTIAT, Frdric. A lei, srie "Pensamento Liberal" n. 5, Rio de Janeiro,
Jos Olympio Editora/Instituto Liberal, 1987.
3. BAUER, P. T. Realty and Rhetoric, Studes n the Economcs of Devefop-
ment, Cambridge, Harvard University Press, 1984.
4. BLOCK, Walter. Defendng the Undefendable, Nova Iorque, Fleet Press
Corporation, 1976.
5. BOHM-BAWERK, Eugen von. A teoria da explorao do socialismo-comu-
nismo, Rio de Janeiro, Jos Olympio Editora/Instituto Liberal, 1987.
6. BRUCKBERGER, R. L. Le captalisme: mais c'est la vie!, Paris, Plon, 1982.
7. BUTLER, Eamonn. A contribuio de Hayek s idias polticas e econ-
micas de nosso tempo, Rio de Janeiro, Instituto Liberal/Editora Nrdica, 1987.
113
8. CAMPOS, Roberto. Alm do cotidiano, Rio de Janeiro, Record, 1985.
9. CAMPOS, Roberto. A moeda, o governo e o tempo, Rio de Janeiro, Apec
Editora, 1964.
1 O. ERHARD, Ludwig. Germany's Comeback in the World Market, Londres.
George Allen & Unwin Ltd., 1954.
11. FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade, Rio de Janeiro, Editora
Artenova S.A., 1977.
12. FRIEDMAN, Milton e Rose. Liberdade de escolher- o novo liberalismo
econmco, Rio de Janeiro, Editora Record, 1980.
13. GORBACHEV, Mikhail. Perestroika- Novas idias para meu pas e o
mundo, So Paulo, Editora Nova Cultural, 1987.
14. GRA Y, John. Lbera/sm, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1986.
15. HAYEK, F.A. A Tiger by the Tai/, Hobart Paperback, 2 ed., Londres, The
lnstitute of Economic Affairs, 1978.
16. HA YEK, F.A. Capitalism and the Hstorians, Chicago, Phoenix Books, The
University of Chicago Press, 1963.
17. HAYEK, F.A. Desemprego e poltica monetria, srie "Pensamento
Liberal" n. 2, Rio de Janeiro, Jos Olympio Editora/Instituto Liberal, 1985.
18. HAYEK, F.A. Desestatizao do dinheiro, Rio de Janeiro, Instituto Liberal,
1986.
19. HA YEK, F .A. Direito, legtslao e liberdade, So Paulo, Editora Viso,
1985,3 v.
20. HA YEK, F .A. Nuevos estudios en fi/osofa, poltica, economa e historia
de las ideas, Buenos Aires, Editorial Universitria de Buenos Aires. 1981.
21. HA YEK, F.A. O caminho da servido, Rio de Janeiro, Instituto Libe-
rai/EXPED, 1984.
114
22. HA YEK, F.A. Os fundamentos da liberdade, So Paulo, Editora Viso,
1983.
23. HA YEK, F.A. Studes in Phlosophy, Po/itcs and Economcs, Chicago,
The University of Chicago Press, 1967.
24. HAZLITT, Henry. Economia numa nica lio, Rio de Janeiro, Jos
Olympio Editora/Instituto Liberal, 1986.
25. HAZLITT, Henry, From Bretton Woods to Wor/d lnflation, A Study of
Causes and Consequences, Chicago, Regnery Gateway, 1984.
26. HUME, David. Moral and Poltica/ Phlosophy, Hafnen Publishing Com-
pany, 1948.
27. JOHNSON, Paul. Tempos Modernos- O Mundo dos Anos 20 aos 80, Rio
de Janeiro, Instituto Liberal, 1990.
28. KIRZNER, Israel M. Competio e atividade empresarial, Rio de Janeiro,
Instituto Liberal, 1986.
29, KIRZNER, Israel M. The Economc Point of View, col. Studies in Economic
Theory, Kansas City, Sheed and Ward, lnc., 1976.
30. LAL, Deepak. A pobreza das teorias desenvolvimentistas, Rio de Janeiro,
Instituto Liberal, 1987.
31. LEME, Og Francisco. A ordem econmica, srie "O que h de errado
com o nosso pas?" n. 1, Rio de Janeiro, ACRJ/CDLRJ/Instituto Liberal,
1986.
32. LEPAGE, Henri. Tomorrow. Capita/ism- The Economics of Economic
Freedom,La Salle, Open Court Publishing Company, 1982.
33. MASCARENHAS, Eduardo. Brasil: de Vargas a Fernado Henrique, Rio
de Janeiro, Nova Fronteira, 1994.
34. MERQUIOR, Jos Guilherme. A natureza do processo, Rio de Janeiro,
Nova Fronteira, 1982.
115
35. MERQUIOR, Jos Guilherme, O argumento liberal, Rio de Janeiro, Nova
Fronteira, 1983.
36. MERQUIOR, Jos Guilherme. O marxismo ocidental, Rio de Janeiro,
Nova Fronteira, 1987.
37. MISES, Ludwig von. A mentalidade anticapitalista, Rio de Janeiro, Jos
Olympio Editora/Instituto Liberal, 1987.
38. MISES, Ludwig von. As seis lies, Rio de Janeiro, Jos Olympio
Editora/Instituto Liberal, 1985.
39. MISES, Ludwig von. Human Action- A Treatise on Economics, 3ed ..
Chicago, Contemporay Books, lnc., 1966.
40. MISES, Ludwig von. Liberalismo, Rio de Janeiro, Jos Olympio Edito-
ra/Instituto Liberal, 1987.
41. MISES, Ludwig von. O mercado, srie "Pensamento Liberal" n. 4, Rio de
Janeiro, Jos Olympio Editora/Instituto Liberal, 1987.
42. MISES, Ludwig von. Planning for Freedom - and sixteen other essays
and addresses, 4 ed., Illinois, Libertarian Press, 1980.
43. MISES, Ludwig von. Socialsm- An Economic and Sociological Analysis,
lndianpolis, Liberty Classics, 1981.
44. MISES, Ludwig von. The Theory of Money and Credit, lndianpolis.
Liberty Classics, 1980.
45. MISES, Ludwig von. Uma crtica ao intervencionismo, Rio de Janeiro,
Instituto Liberal/Editorial Nrdica, 1987.
46. MONOD, Jacques. O acaso e a necessidade, Rio de Janeiro, Editora
Vozes, 1971.
47. NORTH, Douglass. Custos de transao, instituies e desempenho
econmico, Instituto Liberal, Srie Ensaios e Artigos, 1994.
116
48. NOZICK, Robert. Anarchy, State, and Utopia, Nova Iorque, Basic Books,
lnc. Publishers, 1974.
49. POPPER, Sir Karl R. A sociedade aberta e seus inimigos, col. Esprito do
Nosso Tempo, Belo Horizonte/So Paulo, Editora ltatiaia Limitada/Editora da
Universidade de So Paulo, 1974, 2v.
50. RAND, Ayn. La virtud de/ egosmo, Buenos Aires, Biblioteca dei Objeti-
vismo, Plastygraf S.A., 1985.
51. RAND, Ayn. Phlosophy: Who Needs lt, lndianpolis/Nova Iorque, The
Bobbs-Merril Company, lnc., 1982.
52. RAND, Ayn. Quem John Galr?, Rio de Janeiro, Expresso e Cultura, 1987.
53. ROTHBARD, Murray, N. America's Great Depression, col. Studies in
Economic Theory, Kansas City, Sheed and Ward, lnc., 1975.
54. ROTHBARD, Murray N. Esquerda e direita, srie "Pensamento Liberal"
n. 3, Rio de Janeiro, Jos Olympio Editora/ Instituto Liberal, 1986.
55. ROTHBARD, Murray N. For a New Liberty, The Libertarian Manifesto,
Nova Iorque/Londres, Collier Books (Macmillan Publishing Co., lnc)/Collier
Macmillan Publishers, 1978.
56. ROTHBARD, Murray N. O essencial von Mises, srie "Pensamento
Liberal" n. 1, Rio de Janeiro, Instituto Liberai/EXPED, 1984.
57. RUEFF, Jacques. Les fondements phi/osophques des systemes cono-
miques, Paris, Payot, 1967.
58. SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia, Rio de
Janeiro, Zahar Editores, 1984.
59 SMITH, Adam. Riqueza das naes (Uma investigao sobre a natureza
e causas da riqueza das naes), So Paulo, Hemus Editora Limitada, 1981.
60. SMITH, Adam. The Theory of Moral Sentiments, lndianpolis, Liberty
Classics, 1976.
117
L
61. SOWELL, Thomas. Is Reality Optional?, Hooven I nstitution Presss, 1993.
62. SORMAN, Guy. A nova riqueza das naes, Rio de Janeiro, Instituto
Liberal/Editorial Ndica, 1987.
63. SORMAN, Guy. A soluo liberal, Rio de Janeiro, Jos Olympio Edito-
ra/Instituto Liberal, 1986.
64. SOTO, Hernando de. E/ otro sendero, Lima, Editorial EI Barranco, 1986.
65. TOCOUEVILLE, Alexis de. O antigo regime e a revoluo, col. Pensa-
mento Poltico n. 1 O, Braslia, Editora Universidade de Braslia, 1979.
66. WHITE, Lawrence H. Free Banking in Britain, Theory, Experience, and
Debate, 1800-1845, Cambridge, Cambridge University Press, 1984.
118
You might also like
- 8064 5Document25 pages8064 5Downloader180No ratings yet
- Aula 2-02 - Rolamentos - Aneis Elasticos - Re Tent Ores v1Document29 pagesAula 2-02 - Rolamentos - Aneis Elasticos - Re Tent Ores v1Downloader180No ratings yet
- Processo de fundiçãoDocument70 pagesProcesso de fundiçãoThiago O PontesNo ratings yet
- Aula 2-03 - Engrenagens SoldasDocument27 pagesAula 2-03 - Engrenagens SoldasDownloader180No ratings yet
- Elementos de MáquinasDocument66 pagesElementos de Máquinasmfpsnt89% (9)
- Elementos de MáquinasDocument66 pagesElementos de Máquinasmfpsnt89% (9)
- ORFANATODocument87 pagesORFANATOPatrícia CiriloNo ratings yet
- Trabalho IIDocument9 pagesTrabalho IIMariaNo ratings yet
- 2009 - Conceitos de Saúde e Doença Ao Longo Da História Sob o Olhar Epidemiologico e AntropológicoDocument7 pages2009 - Conceitos de Saúde e Doença Ao Longo Da História Sob o Olhar Epidemiologico e AntropológicoAlessandra MonteiroNo ratings yet
- Convocação Processo Seletivo Cariacica ESDocument45 pagesConvocação Processo Seletivo Cariacica ESRONDISONNo ratings yet
- Uma Brevíssima Introdução Sobre As Runas e o Estudo Das RunasDocument14 pagesUma Brevíssima Introdução Sobre As Runas e o Estudo Das RunasAndré HermennNo ratings yet
- Boletim de Ocorrência SindMédico-DF Contra Paciente Do HRANDocument3 pagesBoletim de Ocorrência SindMédico-DF Contra Paciente Do HRANKleber Karpov100% (1)
- Temas RedaçãoDocument6 pagesTemas RedaçãoFillipe SoaresNo ratings yet
- ATIVIDADE - LIBERDADE RELIGIOSA - 7 ANODocument2 pagesATIVIDADE - LIBERDADE RELIGIOSA - 7 ANOIvone SantiagoNo ratings yet
- Divisão Territorial BrasileiraDocument35 pagesDivisão Territorial BrasileiraCelson MartinsNo ratings yet
- SS Norte Americano PDFDocument12 pagesSS Norte Americano PDFSrs SchaeferNo ratings yet
- Introdução à segurança do trabalho: fatores de risco e prevenção de acidentesDocument30 pagesIntrodução à segurança do trabalho: fatores de risco e prevenção de acidentesRenan de CastroNo ratings yet
- Lista de Classificação Provisória Do Processo Seletivo Da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Direito - Autodeclarados (Pretos Ou Pardos)Document16 pagesLista de Classificação Provisória Do Processo Seletivo Da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Direito - Autodeclarados (Pretos Ou Pardos)Apolo 11 LGKKKNo ratings yet
- Processo N 1000709 5820175020384 Do TRT 2 PublicacoesDocument15 pagesProcesso N 1000709 5820175020384 Do TRT 2 PublicacoesOsvaldo Alves de OliveiraNo ratings yet
- Formas de integração econômica na EuropaDocument3 pagesFormas de integração econômica na EuropaMaria FranciscoNo ratings yet
- Exercicio História PlurallDocument2 pagesExercicio História PlurallFernandinnsNo ratings yet
- Segunda Guerra na EMEF de SertãozinoDocument10 pagesSegunda Guerra na EMEF de SertãozinoVitor Hugo MendesNo ratings yet
- Os 33º Da MaçônariaDocument7 pagesOs 33º Da MaçônariaSamuel NuñesNo ratings yet
- Esquemas Sintese Capitulos11 115 148Document15 pagesEsquemas Sintese Capitulos11 115 148Paula ValeNo ratings yet
- Consentimento Informado em Cuidados de SaúdeDocument6 pagesConsentimento Informado em Cuidados de SaúdeRita ConstantinoNo ratings yet
- Acordo Sobre Segurança Social Ou Seguridade Social Entre A República Portuguesa E A República Federativa Do BrasilDocument2 pagesAcordo Sobre Segurança Social Ou Seguridade Social Entre A República Portuguesa E A República Federativa Do BrasilAbimael SiqueiraNo ratings yet
- 2023 04 05 BR DF Clipping RevistasDocument30 pages2023 04 05 BR DF Clipping RevistasAlmir Carvalho Dos ReisNo ratings yet
- Avaliação 3º Bimestre História 1º Ano Ensino MedioDocument10 pagesAvaliação 3º Bimestre História 1º Ano Ensino MedioProf. Elicio Lima100% (1)
- Resenha Histórica de Mato Grosso e a fundação de Ponta PorãDocument40 pagesResenha Histórica de Mato Grosso e a fundação de Ponta PorãRogerio Silveira100% (1)
- Trabalho PolíticaDocument5 pagesTrabalho PolíticaJosias MacedoNo ratings yet
- Instituições determinam riqueza de nações segundo Prêmio NobelDocument5 pagesInstituições determinam riqueza de nações segundo Prêmio NobeledgleirodriguesNo ratings yet
- História Da Civilização Ocidental v. II, Edward BurnsDocument27 pagesHistória Da Civilização Ocidental v. II, Edward BurnsRafaela Oliveira100% (1)
- Famílias Poliafetivas - O Reconhecimento Da Realidade Social No Plano JurídicoDocument77 pagesFamílias Poliafetivas - O Reconhecimento Da Realidade Social No Plano JurídicoshinewellNo ratings yet
- Diário Oficial do Estado da Paraíba publica atos do governoDocument72 pagesDiário Oficial do Estado da Paraíba publica atos do governoJunior HenriqueNo ratings yet
- Antigo Presídio de Pouso AlegreDocument17 pagesAntigo Presídio de Pouso AlegreKaelly Cavoli MoreiraNo ratings yet
- Embargos à ação monitória por falta de comprovação do débitoDocument43 pagesEmbargos à ação monitória por falta de comprovação do débitojanainamatteoNo ratings yet