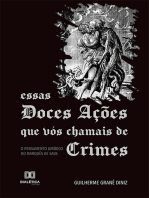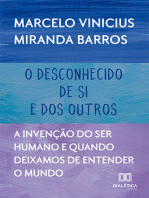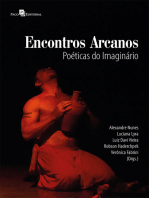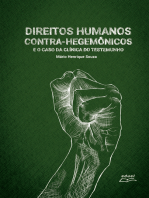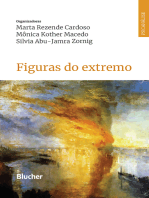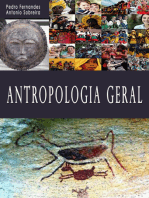Professional Documents
Culture Documents
O Corpo Da Alma Anne Cristine
Uploaded by
Sonia LourençoOriginal Description:
Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
O Corpo Da Alma Anne Cristine
Uploaded by
Sonia LourençoCopyright:
Available Formats
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p.
1-360, 2012
O corpo da alma e seus estados: uma perspectiva
amaznica sobre a natureza de ser-se humano
1
ANNE-CHRISTINE TAYLOR
Dentre as vrias coisas que no precisam ser
ditas
2
, est o fato do quo honrada me sinto
pelo convite para ministrar esta conferncia.
Honrada, mas tambm, igualmente, se no
em maior medida, horrorizada. Primeiramen-
te, porque a ocasio evoca uma srie de fguras
paternas, mortas ou vivas, no confronto com as
quais todos ns afamos nossos instrumentos
em nossa juventude e de cuja benevolncia cabe,
ento, suspeitar; segundo, por eu ser uma antro-
ploga francesa, e s escaramuas que so um
dos grandes prazeres do longo relacionamento
entre nossas duas comunidades cientfcas , eu
acredito que as apostas foram elevadas muito
drasticamente. Terceiro, porque escolher um ca-
minho em meio ao campo minado de paradig-
mas confitantes em que consiste a antropologia
hoje uma questo inerentemente estressante.
O problema que quero considerar aqui, de
importncia central para Malinowski, aque-
le da relao entre ambiente social e psicologia
individual. Na verdade, esta conferncia uma
espcie de resposta ao chamado feito no captu-
lo introdutrio dos Argonautas para estudarmos
tudo aquilo que mais intimamente lhe diz res-
peito [ao homem], o domnio que a vida exerce
sobre ele (Malinowski, 1976, p. 38)
3
, na medi-
da em que tento aqui defnir o que implica, para
um indivduo, estar vivo e experimentar a indi-
vidualidade [selfhood] de um corpo socialmente
construdo em uma cultura amaznica. Muitas
pesquisas recentes se dedicaram a questes deste
tipo, de tal maneira que o corpo tem, em grande
medida, substitudo a sociedade como o prin-
cipal foco analtico de nossa disciplina; na ver-
dade, fomos ensinados, mais notadamente por
Strathern (cf., por exemplo, 1992), que a socie-
dade no est em lugar algum seno no corpo,
ou seja, na sequncia dos conjuntos de relaes
envolvidas em sua construo e desconstruo.
Esta perspectiva lida efetivamente com as mui-
tas difculdades levantadas por reifcaes socio-
lgicas mais antigas, mas no fcil reconcili-la
com qualquer viso plausvel da individuali-
dade, sendo difcil imaginar que as pessoas, na
verdade, experimentam a si prprias simples-
mente como uma sucesso de concatenaes
estruturadas de fragmentos, e ainda mais difcil,
na ausncia de uma subjetividade minimamen-
te estvel, dar conta da continuidade relativa da
tradio. Assim, considerando a importncia
desses trabalhos, meu objetivo mostrar como
uma imagem corporal experienciada subjetiva-
mente, e como uma pessoa , desta forma, capaz
de reproduzir as estruturas sociais que moldaram
sua individualidade. Esta , admito, uma questo
absurdamente ampla, mas sua magnitude incita
o tom provocativo que se ajusta, idealmente, ao
formato de uma breve palestra. Como Nietzsche
muito apropriadamente diz, grandes questes
so como banhos frios: deve-se entrar e sair deles
o mais rpido possvel.
Como ponto de partida, tomo um paradoxo
menor implcito na etnografa das culturas ind-
genas das terras baixas da Amrica do Sul. Por
um lado, relatos antropolgicos sobre esses gru-
pos so repletos de afrmaes no sentido de que
os ndios amaznicos no acreditam que a morte
possa resultar de causas naturais; ao contrrio,
eles a enxergam como causada pela ao humana
214 | Anne-Christine Taylor
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
maligna
4
. Sob tal perspectiva, a morte existe so-
mente como uma forma de homicdio, evidente
ou clandestino. Esta concepo de mortalidade
pensada como estando no cerne de dois tipos
de prticas sociais altamente importantes, quais
sejam, o xamanismo e as vrias formas institu-
cionalizadas de vingana e hostilidade ora entre
grupos domsticos, ora entre segmentos tribais e
at mesmo entre tribos ou entidades tnicas. Por
outro lado, em todos esses grupos, sempre nos
deparamos com um ou vrios mitos sobre a ori-
gem da mortalidade, nos quais a morte parece ser
vista por um vis muito mais naturalista: como
uma caracterstica do mundo tal como ele e, em
suma, como um inescapvel fato da vida
5
. Este
segundo ponto de vista parece implicar que os
povos amaznicos, no fm das contas, concebem
a morte como algum tipo de fenmeno natural
universal. A racionalidade bvia desta crena,
do nosso ponto de vista, atrai muitos antrop-
logos para um tipo familiar de funcionalismo es-
pontneo, que os leva a explicar a viso vingativa
da mortalidade como um dispositivo ideolgico
necessrio para a continuidade de instituies
sociolgicas centrais, o pressuposto subjacente
sendo o de que os ndios no acreditam nessa vi-
so vingativa da mesma maneira que acreditam
na viso naturalista da morte. Afnal, se, de qual-
quer forma, as pessoas esto predestinadas a mor-
rer, parece desnecessariamente redundante supor
que esto sempre sendo assassinadas; assim, a
abordagem homicida da mortalidade tende a ser
tratada como se fosse meramente um astuto arti-
fcio sociolgico.
Este tipo de abordagem certamente inacei-
tvel, como de fato qualquer antroplogo que
pare para pensar sobre isto imediatamente reco-
nhece, se no por outra razo, porque a ideolo-
gia obviamente experienciada como verdade
e no como falsa conscincia. Alm disso, com
bases empricas, os ndios parecem adotar a
viso homicida muito mais fortemente que a
naturalstica. Isto, entretanto, deixa-nos com o
problema de dar conta da coexistncia de dois
conjuntos de crenas aparentemente contradit-
rias. claro que se poderia argumentar, e atual-
mente se o faz com frequncia, que a exigncia
de coerncia lgica nas representaes especf-
cas de uma sociedade dada no seria mais do que
preconceito antropolgico, e que descries que
apresentam a cultura como um corpo auto-con-
tido e logicamente impecvel de proposies
metafsicas no teriam absolutamente nenhu-
ma semelhana com o modo como as pessoas
realmente pensam ou agem. Na verdade, dada a
ubiquidade daqueles processos de criolizao
que muitos antroplogos enfatizam em seus es-
tudos, assim como a compartimentalizao dos
processos mentais defendida pelos psiclogos
cognitivistas, deveramos considerar a possibili-
dade da contradio e, de fato, esper-la.
Permitam-me dizer desde j que, em termos
gerais, endosso inteiramente as crticas cog-
nitivistas das tradicionais vises antropolgi-
cas de cultura, tais como aquelas desenvolvidas
por Boyer (1990; 1993) ou Bloch (1991; 1992;
1993) em seus recentes trabalhos. a mais pura
verdade que nenhum povo pensa de fato da for-
ma como os antroplogos parecem acreditar, e
que as pessoas no recorrem a um modelo men-
tal de sua cultura, como algum faria a um texto,
a fm de produzir afrmaes e prticas no-
-contraditrias. Ao mesmo tempo, me oponho
fortemente viso de que no h sistematicidade
durvel na cultura alm daquela produzida pe-
las narrativas antropolgicas ou daquela criada
localmente pelas dialticas da etnicidade. O fato
de que a cultura se assenta em grande medida
naquilo que no precisa ser dito, no quer di-
zer que qualquer coisa seja vlida, e que no haja
algum grau de integrao entre modelos mentais
compartimentalizados. Esta afrmao puro
senso comum. Ainda assim, no fcil defnir
e nem dar conta da fonte e da natureza precisa
O corpo da alma e seus estados: uma perspectiva amaznica sobre a natureza de ser-se humano | 215
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
desta relativa coerncia
6
. Tenho a impresso que
ela deva residir, em alguma medida, em uma cer-
ta propriedade de circularidade inerente aos mo-
delos mentais compartilhados pelas pessoas de
qualquer cultura; em outras palavras, no fato de
que estes aglomerados conceituais auto-evidentes
e discursivamente no elaborados, que podemos,
por convenincia, chamar de premissas, devem
se remeter uns aos outros, e precisamente a
partir deste processo circular de mtua refern-
cia que eles ganham sua qualidade de obviedade.
No que se segue, tentarei mostrar o quanto uma
defnio nica, precisa e intrincada de personi-
tude e individualidade emerge justamente de tais
cadeias de noes circulares e no elaboradas, e,
ainda, buscarei entender como uma ideia com-
plexa vem a ser desenvolvida sem que ningum
nunca efetivamente a pense ou expresse. E isto,
claro, levanta o problema do que as narrativas
antropolgicas podem e devem descrever, uma
questo qual retornarei mais tarde.
Os Achuar, povo jvaro das terras baixas do
leste do Equador
7
, oferecem um perfeito exem-
plo da contradio implcita que mencionei
acima. Em sua viso, doena e morte so, inva-
riavelmente, o resultado de um ato inspirado por
uma intencionalidade deliberadamente homici-
da, operacionalizada atravs do recurso ao ma-
quinrio invisvel do enfeitiamento causado por
dardos invisveis. Alm disso, eles no fazem dis-
tino precisa, nem mesmo lexicalmente, entre
doena e morte, a diferena entre os dois estados
sendo uma questo de grau, antes que de tipo.
Isto implica que ambos so vistos como pontos
em um mesmo processo, ligados por uma srie
de metamorfoses, e no como condies ontolo-
gicamente distintas. Mais ainda, para eles a do-
ena um nico fenmeno, sejam quais forem
seus sintomas, fsicos ou somticos; no h doen-
as especfcas, apenas sofrimento indiferenciado.
No entanto, como a maioria dos outros
povos amaznicos, os Achuar tambm contam
um mito caracteristicamente breve e conciso
explicando a mortalidade como um resultado
de um ato de desobedincia acidental e intei-
ramente trivial
8
. No tenho nenhuma inteno
de me deter sobre este mito, que termina com
a afrmao lapidar que agora haja a morta-
lidade; gostaria apenas de ressaltar dois de
seus aspectos importantes. Primeiramente, este
mito postula uma abrupta e massiva passagem
de um tempo de indiferenciao, quando ha-
via somente vida, para um tempo em que
havia vida e morte ou seja, a vida como ns
a conhecemos. Porm, o mito no diz nada so-
bre esta mudana brutal e no a descreve. Em
outras palavras, ele focaliza um par de termos
polares mais do que a natureza da relao en-
tre esses termos. Segundo, conceitualizando a
origem da fnitude como resultado de um ato
trivial de transgresso, o mito estabelece uma
enorme monstruosa, de fato desproporo
entre causa e efeito, entre um ato e sua conse-
quncia. Esta propriedade, comum a muitas
narrativas mticas, poderia ser melhor explica-
da assumindo-se que certos tipos de mitos so
na verdade proposies anti-causais: em outras
palavras, eles no justifcam o mundo e expli-
cam como passou a existir ou como algum
deve se comportar, como se costumava pensar
( Malinowski includo); em lugar disso, eles des-
crevem o mundo tal como ele de um modo
altamente problemtico, tornando, assim, pa-
radoxal o bvio. Este precisamente o motivo
pelo qual ningum acredita no que dizem os
mitos da mesma forma como se acredita, diga-
mos, na descrio de um esprito. Se assim, o
que distingue as duas perspectivas sobre a mor-
talidade no uma questo de contedo, mas de
tipo de discurso: uma delas, a viso homicida,
apresenta a morte como um processo gradual
cujos extremos permanecem indefnidos, e sua
nfase est em explorar a natureza da relao
processual entre polos no-marcados; a ou-
216 | Anne-Christine Taylor
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
tra a viso mtica e naturalstica , apresenta
termos nitidamente defnidos em uma relao
paradoxal e, portanto, indefnida. Assim, o que
apareceu inicialmente como uma contradio
entre contedos, ou seja, entre duas concepes
diferentes de morte, pode agora ser visto como
uma articulao provavelmente necessria entre
dois tipos distintos de representao
9
de uma
relao.
Para entender a natureza desta articula-
o, devemos comear olhando mais de perto
a mortalidade como um modo processual de
relao; e isto, por sua vez, implica em entender
o que estar vivo signifca em termos jvaro. At
certo ponto, isto uma questo simples: estar
vivo ser percebido, e se perceber, como uma
pessoa, uma noo localmente abarcada pelo ter-
mo shuar. Esta expresso se refere a um conjunto
multi-folheado de relaes entre termos contras-
tivos: ento, de acordo com o contexto, o termo
shuar se refere a minha parentela bilateral em
oposio a outras, meu grupo local em opo-
sio a outros grupos territoriais, Achuar em
oposio a outras unidades tribais jvaro, Jvaro
em oposio aos brancos ou outros ndios, e
assim por diante. Em suma, o termo funciona
como um classifcador ns/eles genrico.
Para os nossos propsitos, o interessante sobre
este classifcador que, em determinados contex-
tos, o ns que ele defne inclui duas classes de
seres imaginrios. Uma delas se refere a espritos
caracterizados pela sua aparncia humana ordi-
nria e seu comportamento inteiramente no
-humano e, de fato, inumano: eles so solitrios,
cegos, no comem e existem em um estado de
desejo generalizado e permanente. A outra classe
inclui espritos com aparncia no-humana que,
contudo, comportam-se como seres humanos,
uma vez que usam lngua e sinais, seguem regras
morais e so dotados de emoes humanas. Na
verdade, uma grande parte da mitologia jvaro
dedicada descrio das aes destas ltimas
criaturas; entidades ou shuar deste tipo tambm
aparecem proeminentemente no discurso e na
prtica xamnicas, bem como nas magias de cul-
tivo e de caa. Entretanto, se estes seres imagin-
rios podem em certas circunstncias ser defnidos
como pessoas, ou seja, como parte do ns, em
outros contextos eles so bem diferentes de pes-
soas reais, por vrias razes: s vezes porque esto
mortos e outras vezes porque acredita-se que so
como humanos apenas sob certas condies de
interao. O que eles de fato compartilham com
os verdadeiros humanos vivos, no entanto, a
conscincia e a intencionalidade. Essas so pro-
priedades que para os Achuar no so limitadas
a tipos especfcos de seres, mas atribuveis, em
determinados contextos, a vrios tipos diferentes
de coisas, incluindo as inanimadas; a vida, em
suma, um estado mental postulado mais do
que um estado da matria.
Como consequncia disso, ser um humano
vivo e verdadeiro implica em exibir um tipo
especial de aparncia corporal, praticar certos
tipos de comportamento comunicativo e social
e possuir certos estados de conscincia. Para
especifcar esta combinao que defne a hu-
manidade viva e verdadeira, devemos comear
por olhar mais de perto a aparncia corporal e
explorar algumas noes achuar concernentes
ao corpo. Os traos salientes do modelo mental
que do forma a estas ideias so os seguintes.
Primeiro, e surpreendentemente, os Achuar
possuem teorias notavelmente no elaboradas
sobre a procriao, e tm, com efeito, muito
pouco a dizer sobre a concepo e a formao
de uma criana; questes desta natureza so cla-
ramente tidas por eles como irrelevantes. Alm
disso, a gestao e o nascimento no so rituali-
zados e no h mitos explicitamente preocupa-
dos com a concepo e a procriao
10
. Segundo,
se examinarmos as proibies e observncias
ligadas s substncias e funes corporais um
conjunto de prticas geralmente considerado de
O corpo da alma e seus estados: uma perspectiva amaznica sobre a natureza de ser-se humano | 217
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
particular importncia para a compreenso das
ideias indgenas sobre a formao do corpo e o
modelamento da pessoa algumas propriedades
interessantes comeam a emergir. As proibies
so mais numerosas e rigorosamente observadas
precisamente naquelas prticas e situaes que,
do ponto de vista indgena, envolvem um pro-
cesso de transformao: fazer uma canoa, pre-
parar o veneno curare, padecer por mordida de
cobra. Assim, a relativa escassez e frouxido das
proibies ligadas gravidez e ao parto susten-
tam a viso de que estes processos no so vistos
como semelhantes a outras metamorfoses cultu-
ralmente enfatizadas. Em outras palavras, e ao
contrrio da maneira como a morte vista em
certos contextos, o nascimento nunca pensado
como um processo de transformao, e no h,
portanto, nenhum paralelismo entre o entrar no
estado de ser um humano verdadeiro e vivo e o
sair dele. Tambm deveramos destacar que, em
relao aos seus efeitos, as substncias corporais
no formam uma classe distinta de outras subs-
tncias, no corporais: o smen, por exemplo,
tem as mesmas propriedades que o curare, que
o veneno de cobra, ou que a sensao de quei-
mao de pimenta vermelha; e o sangue mens-
trual apenas sangue, ou, se ele tem qualquer
poder, este proveniente de atributos no es-
pecfcos, tais como a potncia do vermelho ou
a de ser pesado. Finalmente, coisas tidas como
vivas, ou seja, s quais se atribui intencionalida-
de e conscincia, so todas fundamentalmente
similares em termos de atributos orgnicos e
mecanismos fsiolgicos: um morcego ou um
cachorro, ou mesmo um p de mandioca, so
todos vistos como organizados da mesma for-
ma. Eles funcionam de acordo com processos
biolgicos idnticos, e sua matria corporal
aparncias parte a mesma. Se ns humanos
no estamos normalmente cientes deste fato,
isto se deve a razes epistemolgicas porque
ns normalmente no nos comunicamos com
eles e no porque esses metabolismos so
ontologicamente distintos.
Somos assim levados concluso de que
o que diferencia as espcies essencialmente
a forma ou, mais precisamente, a aparncia.
Como j mostrei em outra ocasio (Taylor
1993), do ponto de vista jvaro, esta aparn-
cia se refere ao conjunto de formas corporais
diferenciadas particularmente rostos , es-
pecfcas a cada classe de seres animados. Es-
tas formas existem em nmero limitado e so
infnitamente recicladas, o que explica porque
no existe aqui criao natural e porque o
nascimento no visto como um processo de
transformao ou de fabricao que adiciona
alguma coisa nova ao mundo. O nascimento
um reaparecimento, e a pessoa achuar, des-
te modo, chega pronta em termos de atributos
corporais. Segue-se disso que a noo Jvaro de
identidade pessoal deve ser enraizada na per-
cepo de singularidade da forma, e no, como
as noes ocidentais ps-freudianas nos fariam
acreditar, em uma realizao gradual da inte-
gridade e autonomia corporais, uma vez que os
corpos jvaro no possuem especifcidade org-
nica. Ainda assim, assumir que os Achuar, na
verdade, experienciam a si prprios como sin-
gularidades puramente genricas desafa o bom
senso. Uma forma impessoal particularizada
pode dar ao Eu [self] sua integridade, mas ob-
viamente no pode lhe conferir subjetividade.
A subjetividade, entretanto, primaria-
mente uma questo de refrao: ela se origina
na noo que algum tem da percepo que
outros tm de seu prprio Eu. E ai que deve-
mos procurar por uma soluo para o enigma
que acabei de evocar de como a experincia
de um corpo impessoal, externamente criado,
pode ser vivenciada subjetivamente. Acredito
que tal soluo possa ser encontrada na teia de
noes referentes ao afeto e memria, se por
memria entendemos a imagem mental que
218 | Anne-Christine Taylor
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
formamos de pessoas ou coisas. Como todos
ns sabemos a partir da leitura do belo livro de
Gow (1991), a memria, para os povos ama-
znicos, est intimamente ligada ao parentes-
co. De certa forma, na verdade, ela o prprio
parentesco. Nessa viso, relaes sociais consis-
tem na condensao e na memria dos estados
afetivos construdos pelas interaes dirias
nos atos de alimentar, partilhar e trabalhar. A
imagem mental pessoal que se tem dos outros
como parentes moldada por esta teia de sen-
timentos; assim, a imagem do Eu, na medida
em que se baseia na atribuio de imagens que
outros tm dele, necessariamente permeada
pela memria que os outros possuem de voc.
Ela precisamente uma representao desta
imagem genericamente singular, embora indi-
vidualizada, da pessoa, denotada pela expresso
vernacular wakan, um termo normalmente tra-
duzido como alma e que, na verdade, refere-se
imagem refetida de uma coisa, apario de
algum em um sonho, como tambm consci-
ncia daquele que sonha. Sobretudo, refere-se
ao fantasma de uma pessoa falecida recente-
mente, ou seja, a uma memria mutilada, na
medida em que consiste na substantivizao
da intersubjetividade outrora fundida com a
imagem de uma forma corporal que no existe
mais. A relao constitutiva entre subjetivida-
de e laos interpessoais nos permite entender
porque a viso, a linguagem e, de uma maneira
mais geral, a comunicao constituem um eixo
to vital na defnio da individualidade, uma
vez que a imagem refratada , em grande medi-
da, uma descrio implcita, e at s vezes expl-
cita, da pessoa. Os prprios Achuar esto bem
conscientes desse fato, como pode ser deduzido,
dentre outras evidncias, da estrutura de seus
cantos mgicos de amor. Esses so, invariavel-
mente, descries verbais, endereadas pessoa
amada, do estado que ele ou ela est experimen-
tando ao ver, ou melhor, ao sentir, uma imagem
magicamente induzida do emissor
11
. Em suma,
os Achuar certamente endossariam a afrma-
o de Wittgenstein de que o corpo a melhor
imagem que podemos ter da alma, particular-
mente por sua reversibilidade, uma vez que
igualmente bvio para eles que a alma tambm
a melhor imagem que podemos ter do corpo
como uma forma personalizada genrica.
A socialidade, como uma memria ineren-
temente afetiva, foi descrita com grande sutile-
za e perspiccia pelo que, em Paris, chamamos
de escola inglesa de americanismo. Contudo, as
descries de nossos colegas me parecem, com
frequncia, um tanto unilaterais e, de fato, surpre-
endentemente angelicais, uma vez que tendem
a minimizar um componente vital das relaes
sociais, quais sejam, a hostilidade ou a disposio
vingativa. Enquanto os ingleses so muito bons
no que toca ao amor, acredito que ns franceses
levamos vantagem na questo do dio
12
. A hosti-
lidade um aspecto particularmente importante
das relaes sociais e das confguraes psicolgi-
cas a elas inerentes, sobretudo em uma sociedade
como a dos Jvaro, que estruturada por vende-
tas endmicas e guerras intertribais. Aprender a
odiar, ou antes, absorver o dio do tecido do am-
biente social, to importante para eles quanto
aprender a amar. E claro, a hostilidade tambm
alimenta a experincia do Eu; ela colore, tanto
quanto o amor, a textura da imagem corporal
como aparncia singularizada que, como vimos,
est no cerne da individualidade jvaro.
Se o Eu enquanto pessoa um estado, ele
tambm, por natureza, um estado altamente
instvel, na medida em que a paisagem interior
da pessoa moldada pelo entendimento que ela
tem da percepo que os outros tm dela mes-
ma. A integridade da sensao que se tem de si
mesmo vulnervel em dois aspectos. Primei-
ramente, ela est exposta morte de outros, ao
estilhaamento daquele espelho do qual depen-
de uma ocorrncia muito frequente na vida
O corpo da alma e seus estados: uma perspectiva amaznica sobre a natureza de ser-se humano | 219
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
de um Achuar e que provoca, como primeira
reao, uma raiva intensa e socialmente direcio-
nada. Segundo, ela est exposta instabilidade
crnica das relaes em uma sociedade basea-
da em uma frouxa trama de parentelas, cujas
fronteiras variam constantemente no fuxo de
vendetas endmicas e de alianas cambiantes. A
vida tradicional entre os Jvaro gera, ento, um
tipo de paranoia latente, racional, uma vez que
membros da famlia prxima podem tornar-
-se suspeitos de traio em perodos de confi-
to aberto. A suspeita cai primeiramente sobre
os afns, claro, mas pode incluir at mesmo
consanguneos do mesmo sexo, como irmos
ou flhos
13
. Esta incerteza constante sobre a real
natureza dos sentimentos que os outros nutrem
por algum no pode deixar de ter consequn-
cias para a textura e os fundamentos da indi-
vidualidade
14
. Eu diria que a que a doena
entra. A doena, nos termos jvaro, o sofri-
mento experienciado pelos indivduos quando
se veem sobrepujados pela ambiguidade do
ambiente social e ento perdem um sentido
ntido de sua identidade; ou seja, quando sua
percepo do Eu obscurecida pela incerteza.
Na verdade, eu conjeturaria que o alto nvel
de ansiedade gerado pela extrema imprevisibi-
lidade das relaes sociais inerentes existncia
jvaro que explica porque qualquer afio, no
importando sua origem e seu carter aparente-
mente benigno, transforma-se em sintoma de
feitiaria se perdura por mais de poucos dias ou
at mesmo horas, e porque a taxonomia rela-
tivamente detalhada de patologias que os in-
formantes Achuar desenvolvem em abstrato se
reduz to rapidamente a um nico e massivo
contraste entre a sade e o sofrimento indife-
renciado o que vale dizer, ao morrer
15
.
esta quebra de clareza na percepo do Eu,
experienciado como sofrimento e conceitualiza-
do como uma investida homicida intangvel, que
justifca recorrer prtica teraputica xamnica.
Como Severi (1993) demonstrou para a cura
kuna da loucura, a terapia xamnica uma forma
de cura baseada na construo de uma estrutura
pragmtica complexa na qual o xam produz
uma descrio, geralmente incompreensvel ao
paciente, de sua interao comunicativa com
espritos estrangeiros. O xam, desse modo, cria
um anlogo do estado de confuso do paciente,
com a diferena crucial de que ele, o xam, do-
mina este mundo catico atravs da viso e da
palavra e se comunica com seus habitantes por
intermdio de seus espritos familiares, enquanto
o paciente, por sua vez, est preso a um estado de
colapso comunicativo consigo mesmo e com os
outros. atravs dessa transmutao da desor-
dem interna e muda em uma clara, estruturada
e explcita, embora incompreensvel, alteridade
que as pessoas so afnal restauradas a um estado
normal de autoconscincia; ou seja, um estado
no qual o Eu e o mundo podem coexistir em n-
veis aceitveis de ambiguidade.
Os Jvaro, entretanto, possuem uma outra
maneira de lidar com a fragilidade da individu-
alidade. Eles recorrem a uma experincia ritual
que , em muitos sentidos, uma imagem espe-
lhada da cura xamnica. Eu me refro aqui
busca pelas assim chamadas vises arutam, nas
quais a pessoa pode, no curso de um ritual pri-
vado envolvendo isolamento, jejum rigoroso e
a ingesto de grandes doses de drogas alucin-
genas, receber uma mensagem ou viso relati-
va a seu futuro. O esprito responsvel por essa
profecia, o arutam ou coisa antiga, assume a
forma de um Jvaro morto que, depois de uma
complicada e amedrontadora srie de metamor-
foses, aparece brevemente em pessoa para aquele
ou aquela que o busca e lhe dirige a palavra. No
caso dos homens, essa mensagem geralmente se
refere ao resultado de um ato de guerra ou de
um assassinato por vingana, o qual, claro, eles
se sentem ento compelidos a concretizar. A ex-
perincia arutam est, assim, diretamente ligada
220 | Anne-Christine Taylor
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
quelas situaes e relaes interpessoais mais
densamente carregadas de imprevisibilidade e se
baseia na mesma lgica que subjaz ao recurso
cura xamnica. Desnecessrio acrescentar que a
estrutura pragmtica da interao entre aquele
que busca o esprito e este ltimo to complexa
quanto aquela implicada na cura xamnica em
certo sentido, com efeito, at mais complexa.
(Refro-me aqui maneira pela qual as circuns-
tncias estereotipadas envolvendo o encontro ri-
tual so constitutivas do signifcado do evento).
Irei, portanto, me limitar a sublinhar duas ca-
ractersticas proeminentes da busca pelo arutam.
Primeiro, ela se centra no enquadramento
ritual das interaes ordinrias sobre as quais a
subjetividade, tal como percebida pelos Jvaro,
se constri. Assim, quando os Achuar falam da
mensagem arutam como uma espcie de alma
que a partir de ento se tornar uma parte de-
les, esto evocando uma reifcao, projetada
no futuro, de uma imagem do Eu enraizada em
um tipo especial de relao intersubjetiva, aquela
entre eles prprios mais precisamente, um esta-
do modifcado de sua conscincia e o arutam.
Essa hipstase tem como modelo a introjeo de
uma imagem atribuda do Eu que subjaz aos es-
tados normais de subjetividade. Portanto, assim
como o wakan a alma do corpo sobrevive
brevemente ao recm-falecido como uma subs-
tantivizao da memria que os parentes vivos
guardam dele, tambm a viso arutam que ele
ou ela recebeu encapsula a descrio, ou imagem,
que o esprito faz de seus futuros Eus. O wakan,
em suma, uma reifcao de uma memria atri-
buda, enquanto a alma arutam uma reifcao
da individualidade projetada. Paradoxalmente,
isso , de fato, tudo o que em ltima instncia
resta das pessoas, sob a forma da coisa antiga ou
arutam que elas um dia se tornaro. Em outras
palavras, o ritual arutam no est ligado a uma
elaborada teoria cosmolgica ou ontolgica. Ele
baseado na mesma percepo da subjetividade
e da intersubjetividade que informa a noo de
wakan, e seus signifcados especfcos esto en-
raizados na construo ritual de um contexto
particular de interao, mais do que em uma
elaborao de contedo. Em segundo lugar, o
efeito ou resultado da busca pelo arutam brota
de um evento de hipercomunicao, de uma
espcie de saturao de certeza e de signifcado
no-ambguo. Contudo, esse vislumbre de um
destino livre de qualquer imprevisibilidade deve
permanecer indescritvel, na medida em que
estritamente proibido falar sobre a mensagem
recebida do arutam. Se algum fzesse isso, ime-
diatamente perderia o benefcio da viso ou, na
verdade, a prpria viso ou mensagem como um
tipo de substncia anmica [soul-stuf] por meio
da qual o senso do Eu fortalecido. E isso, afnal,
a motivao primria para se submeter expe-
rincia mstica, bem como seu resultado fnal: a
aquisio de invulnerabilidade, manifestada pela
contundncia do discurso e da atitude, por uma
pintura facial de um certo tipo e por uma rai-
va aguada ou seja, por um impulso homicida
intensifcado
16
. Em suma, assim como a doena
leva a uma perda da capacidade de se comunicar
a no ser pela linguagem muda dos sintomas, o
estado de ultra bem-estar proporcionado pelo
encontro com um arutam implica a suspenso da
troca lingustica e a manifestao de um leque de
signos indiretos ou sintomas expressando uma
condio de individualidade amplifcada.
Portanto, se compararmos os dois tipos de
experincia ritual brevemente evocadas aqui, a
cura xamnica e a busca pelo arutam, temos, de
um lado, uma descrio mediada de um caos
controlado por meio da qual um indivduo pode
se livrar do sofrimento ocasionado por uma es-
magadora ambiguidade e pela eroso da indivi-
dualidade que ela implica e, de outro, uma viso
ou audio secreta, tambm mediada, marcada
por uma certeza absoluta, que dramaticamente
intensifca a fora da individualidade. Eu falo
O corpo da alma e seus estados: uma perspectiva amaznica sobre a natureza de ser-se humano | 221
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
deliberadamente de mediao no caso da busca
pelo arutam porque, embora aquele que busca o
esprito esteja s durante o ritual, no ele pr-
prio quem recebe a mensagem da apario, mas
sim seu wakan, a alma de seu corpo, sendo todo
o sentido das drogas e do jejum o de induzir um
estado de conscincia dissociada. Ento, de fato,
a estrutura que subjaz situao de comunicao
em ambos os casos similar. Na sesso de cura,
o paciente est como morto, inteiramente pas-
sivo, enquanto o xam gradualmente identifca
a si prprio com os componentes de desordem,
fgurados como criaturas e lnguas estrangeiras, e
assim os ordena enquanto os descreve. No ritual
arutam, aquele que busca o esprito tambm est
fgurativamente morto (durante seu perodo de
isolamento, seus parentes devem evitar evocar
sua imagem, do mesmo modo como evitariam
pensar sobre uma pessoa recentemente falecida),
de modo que sua alma, sua conscincia desin-
tencionalizada, pode gradativamente se tornar
parecida com a pessoa verdadeiramente morta
que, por fm, aparecer para ele; e essa intera-
o com uma entidade que est estruturalmente
to fora da sociedade quanto os estrangeiros
encontrados pelo xam gera uma clareza abso-
luta, no apenas como cura o que realmente
um retorno ao Eu mas, sobretudo, como uma
amplifcao do Eu ou de um estado de super
-individualidade.
Permitam-me resumir essa breve descrio
das noes jvaro sobre a pessoa e a experincia
do Eu que elas implicam. Comecei mostrando
que a pessoa defnida negativamente, em baixo
-relevo, por assim dizer, pela interseco de um
certo nmero de pressupostos inexplcitos acerca
da animao (vista como subjetividade impu-
tada), da socialidade (vista como comunicao
ordenada e, portanto, implcita nas noes ind-
genas de animao) e, fnalmente, da forma, su-
perfcie ordenada, aquele princpio de especiao
que divide um modelo ou matria fsiolgica de
outro modo generalizados. Prossegui mostrando
que a superfcie apropriada para os humanos en-
quanto uma classe de seres - ou seja, sua aparn-
cia - concebida como retirada de um estoque
fnito de formas distintivas e reciclveis. Assim,
o senso do Eu jvaro baseado na fuso de uma
imagem corporal singular, porm, genrica e da
percepo emocionalmente carregada que outras
pessoas tm dessa imagem corporal, por meio da
qual ela vem a ser experienciada como unicamen-
te pessoal. Argumentei, ento, que porque a indi-
vidualidade texturizada pela intersubjetividade,
porque a intersubjetividade ela prpria criada
no contexto de relaes sociais, e porque as rela-
es sociais entre os Jvaro envolvem laos de pa-
rentesco instveis e formas institucionalizadas de
violncia recproca porque, em suma, eles vivem
em um mundo permeado de incerteza e hostili-
dade , o senso achuar do Eu altamente vulne-
rvel. Ele oscila entre estados de incerteza, eroso
e colapso, de um lado, experienciados como um
sofrimento indiferenciado, homicida, que requer
tratamento xamnico e, de outro, estados de am-
plifcao provocados por uma experincia mstica
de certeza.
Isso me leva ao cerne do meu argumento.
Em termos analticos, uma pessoa ou um Eu
no uma coisa, uma essncia especfca molda-
da por uma teoria explcita ou implcita, ou, em
outras palavras, um conceito indgena. Ser uma
pessoa humana viva no um estado defnido
enquanto tal no h nenhum discurso canni-
co sobre a pessoa, e ningum jamais dir essa
a nossa ideia do que um homem ou uma mulher
, mesmo que esse estado seja circunscrito de
maneira precisa pela articulao de um conjunto
de premissas no explcitas. Ser uma pessoa ,
portanto, um leque ou um gradiente de conf-
guraes relacionais, um conjunto de nexos em
uma cadeia de metamorfoses simultaneamente
aberta e delimitada. A cadeia aberta porque a
prpria morte um processo sem fm, como a
222 | Anne-Christine Taylor
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
passagem do ns para o eles, de Jvaro a estran-
geiro; delimitada, entretanto, porque ser um
Eu vivo s pode ser defnido por contraste seja a
um estado de ser menos do que vivo, na doena,
seja a um estado de ser mais do que vivo, por
meio da aquisio de um arutam. E esse o mo-
tivo pelo qual tanto encontramos as oposies
rgidas e problemticas estabelecidas nas narra-
tivas mticas vida versus morte quanto, no
ritual e em outros campos da prtica, encontra-
mos vida e morte como um processo contnuo.
Essa a chave para o paradoxo com o qual co-
mecei esta palestra, que diz respeito existncia
de duas noes aparentemente contraditrias de
morte. No se trata, com efeito, de duas con-
cepes diferentes e compartimentalizadas da
mortalidade, uma naturalstica e outra perse-
cutria, mas antes de duas perspectivas mutua-
mente implicadas, uma focando nos termos em
lugar da relao entre eles, a outra focando na
relao e colocando os termos entre parnteses.
Alm disso, a atualizao das diferentes ocasies
em que a noo do Eu evocada forma uma
cadeia: a busca pelo arutam leva ao homicdio,
agresso e suspeio, que so a causa da doen-
a e da desorientao, que, por sua vez, exigem
ou tratamento xamnico ou outras buscas pelo
arutam, e assim por diante. Isso signifca que os
diferentes tipos de relaes e de autocriaes dis-
cutidas aqui esto relacionadas no apenas estru-
turalmente, mas tambm praticamente.
A abordagem da questo da personitude
delineada acima tem algumas implicaes mais
amplas, sobre as quais, guisa de concluso, eu
gostaria de chamar ateno. A maior parte dos
estudiosos dos Jvaro, eu prpria includa, tende
a considerar o complexo do arutam porque
intelectualmente espetacular e tambm devido
a seus aspectos esotricos , como o prprio
corao da cultura jvaro, a base mesma de sua
identidade, tanto para os ndios quanto para
seus etngrafos. Ainda assim, se verdade que
at recentemente a grande maioria dos homens
achuar havia experienciado encontros arutam,
igualmente verdade que essas buscas msticas
dizem respeito apenas a um estado extremo da
personitude jvaro, e no Jivaronidade en-
quanto tal, e a maioria dos informantes diria
que se poderia viver uma vida jvaro ordinria e
ser um Jvaro (ainda que reconhecidamente de
segunda classe) sem nunca experienciar um en-
contro arutam. Assim, ao afrmar que o comple-
xo arutam se situa no corao da cultura jvaro,
antes que em sues contornos, criamos uma ima-
gem equivocada no apenas do prprio com-
plexo arutam como da cultura jvaro em geral.
Tampouco essa distoro tica uma particu-
laridade dos estudos jvaro. Suspeito que muitas
de nossas descries etnogrfcas estejam de fato
baseadas em uma mistura similar entre cultura
e estados extremos. Por exemplo, qualquer des-
crio que pretenda caracterizar a cultura sim-
blica desta ou daquela sociedade por meio da
generalizao de conceitos deduzidos de qual-
quer tipo de discurso especializado s pode estar
errada: errada porque cega importncia da
prtica e da contextualizao, porque assume a
cultura como um sistema de linguagem e pensa-
mento compartilhados (reservadas diferenas de
sexo e a gerao) por todos. Premissas semnti-
cas podem, com efeito, ser compartilhadas por
todos, mas a pragmtica muito provavelmente
no o : na medida em que as condies de uso
determinam como essas premissas so elabora-
das, expressas e experienciadas, a afrmao de
que uma dada representao comum socie-
dade com certeza insustentvel se seu signif-
cado est enraizado em situaes de interao e
em formas de contextualizao que no so de
modo algum coletivas.
Meu segundo ponto , em certo sentido, uma
consequncia do primeiro. Se minha descrio
da pessoa e da individualidade achuar como um
repertrio de diferentes estados de ser tem uma
O corpo da alma e seus estados: uma perspectiva amaznica sobre a natureza de ser-se humano | 223
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
validade mais do que local, ento ser necessrio
rever nossa abordagem do problema da acultu-
rao. Ser necessrio, em particular, no mais
pensar a aculturao como uma eroso gradual e
a consequente reformulao das crenas centrais
de uma cultura. Entre os Achuar, a aculturao
sempre esteve presente, situada no prprio cerne
ou meio-termo do sistema cultural: no se trata
tanto de uma questo de perda, mas da sensa-
o de no se ser mais compelido a defnir o Eu
pela experienciao de toda a gama de estados
que ele normalmente implica. A aculturao
comea em uma condio de aprisionamento
em um estado de normalidade indefnida ou
no marcada, devido ao no mais engajar-se nas
situaes de interao caractersticas dos estados
extremos; portanto, um Jvaro aculturado, ou
potencialmente aculturado, simplesmente um
ser ordinrio, aquilo os prprios Achuar, muito
apropriadamente, chamam de nangami shuar,
uma pessoa apenas [just-so person], o tipo de
indivduo que tem a capacidade de entrar e sair
da sua ou de outras culturas com facilidade, des-
de que ele permanea em seus meios-termos ou
estados zero.
Em nenhum momento afrmei estar apresen-
tando uma teoria indgena, ou mesmo explici-
tando um conjunto de representaes coletivas
implcitas ou inconscientes sobre a pessoa, a
vida ou a morte; simplesmente segui algumas
das conexes entre aglomerados de coisas que
no precisam ser ditas. Creio, no entanto, que
mesmo essa minha apresentao superfcial des-
sa cadeia de relaes tenha sido sufciente para
evocar a singularidade estilstica da cultura jvaro.
Tomados separadamente, vrios elementos dos
esquemas conceituais sobre os quais ela se funda
podem ser encontrados disseminados por toda a
Amaznia; da mesma maneira, os mecanismos
cognitivos e, mais especifcamente, as estrutu-
ras lgicas subjacentes pragmtica da cultura
achuar tambm podem ser encontrados por toda
a Amaznia e, na verdade, muito mais alm. A
particularidade da cultura achuar deve, portanto,
enraizar-se no estabelecimento de um certo tipo
de circularidade lgica entre esses fragmentos
cognitivos e nocionais. Essa uma viso de senso
comum e, portanto, uma concluso bastante
capenga, mas nem por isso precisa ser uma con-
cluso derrotista. Ela nos permite, em particular,
contornar aquela situao, semelhante ao princ-
pio da incerteza dos fsicos, em que se nos con-
centramos em mecanismos cognitivos, deixamos
a cultura escapar, e se descrevemos a cultura da
maneira tradicional, contrariamos aquilo que a
pesquisa cognitiva nos ensinou sobre o funciona-
mento da mente. Mecanismos cognitivos como
tais no constituem nossa provncia enquanto
antroplogos, primeiramente porque, em lti-
ma instncia, eles provavelmente so invarian-
tes e, em segundo lugar, porque praticamente
impossvel reproduzir os protocolos experimen-
tais agora em uso na psicologia cognitiva em si-
tuaes normais de campo. Mas tampouco a
cultura aquilo que costumvamos consider-la.
Obviamente no podemos continuar dizendo
os Achuar pensam que..., porque o contedo
do pensamento que geralmente nos propomos
a descrever no , de fato, o que eles realmente
pensam. E, ainda assim, ns devemos, em certo
sentido, continuar dizendo exatamente isso esta
realmente a boa notcia. Pois, se nosso objetivo
adquirir (e compartilhar com nossos leitores)
uma compreenso dos pensamentos e experin-
cias de povos cujos pressupostos e estilos de vida
so diferentes dos nossos, s podemos faz-lo,
claro, enunciando e explicitando a grande parcela
da cultura que no precisa ser dita, que escapa
s conceitualizaes indgenas porque est incor-
porada e adquirida na prtica, antes que pelo
discurso. Certamente, a verso da cultura que
somos, assim, levados a produzir, em nenhum
sentido espelha o universo mental de nossos in-
formantes. Porm, no vejo como poderamos
224 | Anne-Christine Taylor
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
sequer imaginar esse universo sem que invents-
semos para ns mesmos e para nossos leitores um
tipo de substituto discursivo para uma cultura
na qual no fomos socializados, dando-nos desse
modo os meios de atingir algum grau de empatia
com a vida e os pensamentos do povo que es-
tamos estudando. Devemos, em outras palavras,
tratar a rede de pressupostos frequentemente
inexplcitos e no elaborados que constitutiva
da cultura como se ela fosse uma metafsica, por-
que essa construo fccional necessariamente
nosso procedimento essencial com efeito, nos-
so nico procedimento para trazer luz e para
verifcar a circularidade necessria da combina-
o de premissas encontrada em qualquer cultu-
ra, assim como o nico meio que nos permite
o exerccio daquela introspeco analgica que
est no cerne de nossa disciplina. E isso signifca
que podemos prosseguir alegremente trabalhan-
do em nossas monografas scio-cosmolgicas,
desde que respeitemos dois conjuntos de con-
dies. Primeiro, temos que prestar muito mais
ateno do que antes aos aspectos contextuais do
discurso e da comunicao, deixar de supor que a
cultura um texto coletivo e ser mais realistas em
nossa descrio de quem pensa o que e como em
cada circunstncia. Segundo, devemos aceitar
que nossas descries etnogrfcas so complexos
experimentos mentais antes que verses precisas
dos sistemas indgenas de pensamento, e v-las
como ferramentas conceituais inerentes prtica
e escrita da antropologia. Pode ser que essa fer-
ramenta seja incmoda; porm, se levarmos em
considerao a complexidade do fenmeno com
que, de comum acordo, supe-se que a antropo-
logia trabalha, precisamos reconhecer em nossas
monografas instrumentos bastante econmicos
(em todos os sentidos do termo), e a despropor-
o entre nossos meios uma complexa fco
controlada que no almeja uma descrio reals-
tica de fenmenos mentais e nossos fns a
descoberta e a verifcao da natureza das cone-
xes entre modelos mentais no to grande
quanto pode parecer primeira vista.
A mudana de perspectiva que sugeri no
uma pretenso absurda e no implica nenhuma
reviso importante de objetivo ou de mtodo.
Entretanto, ela parece oferecer antropologia al-
gum tipo de futuro enquanto empreendimento
intelectual vlido, o que, certamente, mais do
que pode ser dito seja do objetivismo brando que
praticamos por tanto tempo, seja do veculo auto-
destrutivo projetado pelos militantes mais zelosos
do ps-modernismo. Alm do mais, deslocamen-
tos menores de ponto de vista do tipo que estou
advogando so bastante tpicos da tradio inte-
lectual de nossa disciplina; com efeito, a ocorrn-
cia dessas mudanas sutis, que frequentemente
passam despercebidas, precisamente o que faz
a antropologia aparecer para os leigos como uma
reexposio sem fm dos mesmos problemas, ao
passo que seus praticantes sentem que ela est em
um progresso constante. Assim, gostaria de pen-
sar que a banalidade da minha concluso uma
espcie de prova de que a abordagem que estou
defendendo no totalmente alheia ao grande c-
none to notavelmente modelado e ilustrado pelo
cientista cuja memria honramos hoje.
Notas
1.
Esta fala foi originalmente apresentada na Confe-
rncia em homenagem Malinowski [Malinowski
Memorial Lecture], em 1993 e publicada sob a forma
de artigo no peridico Journal of the Royal Anthro-
pological Institute (vol. 2, n. 2, 1996, pp. 201-215).
2. A expresso se refere a um artigo de M. Bloch publicado
em Kuper 1992 com o ttulo What goes without saying.
Te conceptualization of Zafmaniry society. [N.T.: A
expresso what goes without saying, ou things that go
without saying refere-se a algo dotado de um carter
auto-evidente, que dispensa explicitao, ou seja, coisas
que no precisam ser ditas.] Ao longo desta palestra, irei
frequentemente me referir s hipteses apresentadas nesse
texto. Gostaria de agradecer Bloch por seus comentrios
O corpo da alma e seus estados: uma perspectiva amaznica sobre a natureza de ser-se humano | 225
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
iluminadores sobre um rascunho anterior deste trabalho e
pela sua ajuda no preparo do mesmo para a publicao.
3.
N.T.: Traduo extrada da verso brasileira do livro.
4.
Essa uma simplifcao brutal. Seria mais preciso
dizer que a agncia intencionalmente maligna que
causa a morte geralmente antropomorfzada, mas
no necessariamente humana. Para exemplifcaes
da viso que supe uma agncia estritamente humana
ver, por exemplo, Capistrano de Abreu (1941: 140-1)
sobre os Kashinaua e Harner (1972: 152-3) e Des-
cola (1994: 257-70) sobre os Jvaro Shuar e Achuar.
Entre os Piaroa, o agente pode ser uma divindade,
um animal ou um feiticeiro estrangeiro (Overing,
1985); entre os Yagua, ele pode ser humano ou
vegetal (Chaumeil, 1983: 264-311); entre os Guajiro
(Perrin, 1992: 209-12) e os Tukano (Reichel-Dolma-
tof, 1971: 80-6) ele pode ser um animal (enquanto
animal ou sob a forma de Mestre de animais).
5.
Uma amostra desses mitos analisada por Lvi-S-
trauss (1967).
6.
Dois pontos esto em questo aqui. O primeiro o pro-
blema da integrao de modelos mentais. Entre os an-
troplogos, a discusso sobre este ponto se centrou, na
medida em que existiu, na maneira pela qual a cognio
de domnio especfco [domain-specifc cognition] po-
deria, por meio da capacidade de meta-representao,
ser culturalmente elaborada (Atran, 1993 [seguindo
Sperber, 1990]; Bloch, 1993; Sperber, 1993). Como
aponta Bloch, esse tema, que obviamente de interesse
vital para os antroplogos, ainda foi muito pouco ex-
plorado. O segundo ponto a questo da unidade de
uma dada cultura. Antroplogos cognitivistas que, em
nome do realismo psicolgico, se recusam a conside-
rar a cultura como a manifestao de um script com-
partilhado subjacente ou, a fortiori, como expresso
de estruturas inconscientes, tm muita difculdade de
dar conta desse aspecto de seu objeto de pesquisa. Eles
tendem a contornar o problema argumentando que
a coerncia e a sistematicidade so simplesmente um
produto da etnografa, ou ainda, que a prpria noo
de cultura desprovida de signifcado. A cultura pode
bem no ser muito mais que uma orquestra de segun-
da classe tocando uma melodia lembrada pela metade,
sem a ajuda de um condutor (Lawson, 1993: 206), mas
ainda nos resta explicar como e porque todos se lem-
bram da mesma melodia, ainda que imprecisamente, e
porque o nvel de cacofonia em qualquer cultura dada
, com efeito, surpreendentemente baixo.
7.
Esta conferncia se baseia em dados coletados por P.
Descola e por mim mesma durante 26 meses de tra-
balho de campo entre 1976 e 1979, em 1984 e em
1992. Ela tambm se ancora, claro, na extensa lite-
ratura sobre os Jvaro, particularmente nos trabalhos
de Brown (1985), Harner (1972), Karsten (1935) e
Pellizzarro (1978; 1980).
8.
Para algumas verses publicadas desse mito como ele
contado pelos Schuar do Equador, ver Pellizzarro (1980).
9. Implcita nessa formulao est a ideia de que a dife-
rena entre os discursos mtico e ritual inerente a seus
respectivos signifcados; i.e., parte do sentido de uma
narrativa mtica derivado do fato de que ela implici-
tamente contrastada com um pronunciamento ritual e
vice-versa. Embora seja perfeitamente legtimo isolar tais
corpos de discurso para propsitos analticos, em algum
ponto, suas interconexes, mesmo que paream inteira-
mente negativas, devem ser levadas em considerao.
10. Com a exceo de um corpo de mitos relativos mudan-
a da cesariana letal para o parto natural. Esses mitos
so comuns ao menos entre os Shuar, Achuar e Agua-
runa. De acordo com essas narrativas, o nascimento de
uma criana costumava in illo tempore implicar a morte
da me, uma vez que era necessrio cortar a barriga das
gestantes para que os bebs pudessem nascer. Os ratos se
compadeceram das mulheres e fzeram um acordo com
elas, ensinando-as o parto natural em troca de uma par-
cela de suas colheitas de amendoim, para algumas verses
shuar deste mito, ver Pellizzarro (Ib., Idem).
11. Esses cantos pertencem a uma classe de enunciaes
chamadas anent, um tipo de discurso anmico [soul-
-speech] que transcende canais normais de comuni-
cao. Aqui segue um breve exemplo de uma dessas
invocaes, silentemente dirigida por uma mulher a
seu marido ausente:
Go fock to my little fathers heart/ make him return
to me crying pitifully/ go fock to his thoughts (and
make him cry) why does this feeling came to me?/
fy to his thoughts and make him awaken in tears/
(saying) why do I awaken thus?/ Oh, shes angry at
me/ she is going to leave me!/ make him awaken
with this thought/ crying, crying, go fock to him/
my little wakan, go fock to him (traduo minha;
a verso vernacular, juntamente com dados lingus-
ticos, pode ser lida em Taylor & Chau, 1983: 118-
119). [Se junte ao corao do meu pequeno pai /
faa-o voltar para mim chorando lastimosamente /
V se juntar aos seus pensamentos (e faa-o chorar)
porque estou me sentido assim? / Voe at seus pen-
samentos e faa-o acordar chorando / (dizendo) por
que eu acordo, ento? / Oh, ela est com raiva de
mim / ela vai me deixar! / faa-o acordar pensando
226 | Anne-Christine Taylor
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
isso / chorando, chorando, se junte a ele / meu pe-
queno wakan, se junte a ele.]
12. A perspectiva irnica de alguns americanistas britnicos
est ligada sua nfase na moralidade, i.e., nos valores
normativos da socialidade, tal como expressa por seus
informantes e incorporada em suas prticas; ver, por
exemplo, Belaunde, 1992; Gow, 1991; McCallum,
1989; Santos-Granero, 1991. Por outro lado, os ameri-
canistas franceses, que geralmente aderem a uma abor-
dagem estrutural-durkheimniana, tentam construir um
modelo das relaes sociais observadas enfatizando o
aspecto construtivo (no sentido sociolgico) do con-
fito. Para exemplos disso, ver Albert, 1985; Clastres,
1972; Carneiro da Cunha & Viveiros de Castro, 1985;
Combes & Saignes, 1991; Erikson, 1986 (dois destes
so franceses unicamente por fliao intelectual).
13.
A me praticamente o nico parente prximo que
sempre escapa s suspeitas. Porm, no se deve ima-
ginar que a vida familiar entre os Jvaro seja persis-
tentemente confituosa e tomada pela incerteza. Em
circunstncias normais, as relaes entre os membros
de um grupo domstico ou local so descontradas
e frequentemente ternas. Ainda assim, ningum fca
surpreso ou particularmente indignado em oposio
a enraivecido quando membros prximos de uma
mesma famlia se desentendem e se envolvem em uma
vendeta. Nesses casos, o grupo se divide e uma ou ou-
tra parte se junta a uma unidade territorial diferente.
14. Penso que isso tambm contribui para explicar a im-
portncia de formas de discurso mgico nessa cultura,
tais como os anent, feitos para modelar ou modifcar
os afetos de outros.
15. Os Achuar distinguem e do nome a uma variedade de
doenas. Algumas geralmente patologias epidmicas
so rotuladas como doena de branco; outras so
consideradas endgenas e inicialmente se lida com
elas recorrendo a plantas medicinais ou a formas do-
msticas de cura mgica. Esses males so pensados
como acidentais apenas no sentido de que o agente
responsvel por infigi-los pode t-lo feito no-inten-
cionalmente, mas claro que a no-intencionalidade
dessa intencionalidade imputada inerentemente
suspeita; se uma doena se prolonga ou se agrava, a
suspeita rapidamente d lugar certeza de um dolo
deliberado. Julgamentos acerca do status da sade
de indivduos ou mesmo de comunidades inteiras so,
portanto, altamente dependentes da forma percebida
das relaes sociais: em tempos de confito iminente
ou aberto, no apenas as pessoas tendem a se tornar
incomumente propensas a adoecer, como suas doenas,
independentemente de seu status taxonmico, so
imediatamente atribudas agresso xamnica.
16. Isso s verdade para os homens. As mulheres no pro-
curam sistematicamente o encontro com arutam e o
experienciam mais raramente que os homens. A fora
escondida (kakarma-) antes que a ira que elas assim
adquirem geralmente descrita em termos de uma vida
mais longa e de um maior bem-estar, de relaes privile-
giadas com as entidades que controlam a fertilidade ade-
quada das plantas de roa, animais domsticos e humanos,
e de relaes afetivas seguras com os parentes. Vale lembrar
tambm que os encontros femininos com arutam ocorrem
nas roas das mulheres, e no na foresta, e que parecem
acontecer apenas em tempos de crises emocionais agudas.
Referncias bibliogrfcas
ALBERT, Bruce. Temps du sang, temps des cendres: repr-
sentations de la maladie, systme rituel et espace politi-
que chez les Yanomami du sud-est Amazonie brsilienne.
Tese, Universidade de Paris, Nanterre, 1985.
ATRAN, Scott. Core domains versus scientifc theories:
evidence from systematics and Itza-Maya folkbiolo-
gy. In: HIRSCHFELD, Lawrence. A. & GELMAN,
Susan. A. (orgs.). Mapping the mind: domain specif-
city in cognition and culture. Cambridge: Cambridge
University Press, 1993.
BELAUNDE, Luisa Elvira. Gender, commensality and
community among the Airo Pai of western Amazonas.
Tese, Universidade de Londres, 1992.
BLOCH, Maurice. Language, anthropology and cogniti-
ve science. Man (N.S.) 26, 183-198, 1991.
______. What goes without saying: the conceptualization
of Zafmaniry society. In: KUPER, Adam. Conceptua-
lizing society. London & New York: Routledge, 1992.
______. Domain specifcity, living kinds and symbolism.
In: BOYER, Pascal. Cognitive aspects of religious symbo-
lism. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
BOYER, Pascal. Tradition as truth and communica-
tion: the cognitive description of traditional discourse.
Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
______. Cognitive aspects of religious symbolism. Cambrid-
ge: Cambridge University Press, 1993.
BROWN, Michael F. Tsewas gift: magic and meaning in an Ama-
zonian society. Washington: Smithsonian Institute, 1985.
CAPISTRANO DE ABREU, Joo. Grammatica, textos
e vocabulario Caxinauas. Rio de Janeiro: Edio de
Sociedade Capistrano de Abreu, 1941.
O corpo da alma e seus estados: uma perspectiva amaznica sobre a natureza de ser-se humano | 227
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. & VIVEIROS DE
CASTRO, Eduardo B. Vingana e temporalidade: os
Tupinambs. Journal de la Socit des Amricanistes
71, 191-208, 1985.
CHAUMEIL, Jean-Pierre. Voir, savoir, pouvoir: le chama-
nisme des Yagua du nord-est pruvien. Paris: Editions de
Lcole des Hautes tudes en Sicences Sociales, 1983.
CLASTRES, Pierre. Chronique des Indiens Guayaki. Paris:
Plon, 1972.
COMBES, Isabelle. & SAIGNES, Tierry. Alter ego:
naissance de lidentit chiriguano. Paris: Editions de
Lcole des Hautes tudes en Sicences Sociales, 1991.
DESCOLA, Phillipe. Les lances du crepuscule: relations ji-
varo. Paris: Plon, 1994.
ERIKSON, Phillipe. Altrit, tatouage et anthropopha-
gie chez les Pano: la belliquese qute du soi. Journal
de la Socit des Amricanistes 72, 185-209, 1986.
GOW, Peter. Of mixed blood: kinship and history in Pe-
ruvian Amazonia. Cambridge: Cambridge University
Press, 1991.
HARNER, Michael J. Te Jivaro: people of the sacred water-
fall. New York: Doubleday, Natural History Press, 1972.
KARSTEN, Rafael. Head hunters of the western Amazo-
nas. (Commun. Hum. Lit. 7:1). Helsingfors: Societas
Scientiarum Fennica, 1935.
LAWSON, Tomas. E. Cognitive categories, cultural forms
and ritual structures. In: Cognitive aspects of religious sym-
bolism. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
LVI-STRAUSS, Claude. Du miel aux cendres (Mytholo-
giques 2). Paris: Plon, 1967.
MALINOWSKI, Bronislaw. Os argonautas do Pacfco
Ocidental. So Paulo: Editora Abril, 1976.
MCCALLUM, Cecilia. Gender, personhood and social or-
ganization amongst the Cashinahua of Western Amazo-
nia. Tese, Universidade de Londres, 1989.
OVERING, Joanna. Images of cannibalism, death and
domination in a non-violent society. Journal de la
Socit des Amricanistes, 72, 133-156, 1985.
PELLIZZARRO, Siro M. Nunkui: mitos y ritos. Sucua,
Mundo Shuar, Serie Mitologia Shuar, 1978.
______. Tsantsa: la celebracin de la cabeza reducida. Su-
cua, Mundo Shuar, Serie Mitologia Shuar, 1980.
PERRIN, Michel. Les praticiens du rve. Paris: Presses
Universitaires de France, 1992.
REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Amazonian cosmos:
the sexual and religious symbolism of the Tukano In-
dians. Chicago: Chicago University Press, 1971.
SANTOS-GRANERO, Fernando. Te power of love: the
moral use of knowledge amongst the Amuesha of Central
Peru. London: Athlone Press, 1991.
SEVERI, Carlo. La memoria ritual: follia e immagine del
Bianco in uma tradizione sciamanica amerindiana. Fi-
renze: La Nuova Italia, 1993.
SPERBER, Dan. Te epidemiology of beliefs. In: FRA-
ZER, C (org.). Psychological studies of widespread be-
liefs. Oxford: Oxford University Press, 1990.
______. 1993. Te modularity of thought and the epi-
demiology of representations. In: HIRSCHFELD, L.
A. & GELMAN, S. Mapping the mind in cognition
and culture. Cambridge: Cambridge University Press,
1993.
STRATHERN, Marilyn. Parts and wholes: refguring
relationships in a post-plural world. In. KUPER, A.
(org.). Conceptualizing society. London & New York:
Routledge, 1992.
TAYLOR, Anne Christine. Remembering to forget: iden-
tity, mourning and memory among the Jivaro. Man
(N.S.) 28, 653-78, 1993.
______. & CHAU, Ernesto. Jivaroan magical songs. Ame-
rindia (Rev. Ethnoling. Amrind.) 8, 87-127, 1983.
traduzido de
TAYLOR, Anne-Christine. Te Souls Body and Its States: An Amazonian
Perspective of Being Human. Te Journal Of Te Royal Anthropological Institute.
Vol. 2, No. 2 (Jun., 1996), pp. 201-215.
228 | Anne-Christine Taylor
cadernos de campo, So Paulo, n. 21, p. 213-228, 2012
tradutores Eduardo Soares Nunes
Doutorando em Antropologia Social / UnB
Roberta Cerri
Mestranda em Antropologia Social / UnB
Marcela Stockler Coelho de Souza
Mestranda em Antropologia Social / UnB
revisora Marcela Stockler Coelho de Souza
Professora Doutora em Antropologia / UnB
Recebida em 26/08/2012
Aceita para publicao em 01/10/2012
You might also like
- Medievo violento: reflexões sobre o uso do conceito de violência para o estudo do período medievalFrom EverandMedievo violento: reflexões sobre o uso do conceito de violência para o estudo do período medievalNo ratings yet
- TEXTO 5. Damatta-Digre - 001 PDFDocument16 pagesTEXTO 5. Damatta-Digre - 001 PDFlucas rodriguesNo ratings yet
- Essas Doces Ações que vós Chamais de Crimes: O Pensamento Jurídico do Marquês de SadeFrom EverandEssas Doces Ações que vós Chamais de Crimes: O Pensamento Jurídico do Marquês de SadeNo ratings yet
- Pactos emocionais: reflexões em torno da moral, da ética e da deontologiaFrom EverandPactos emocionais: reflexões em torno da moral, da ética e da deontologiaNo ratings yet
- Wagner (2012)Document127 pagesWagner (2012)Paula Ávila NunesNo ratings yet
- Afromarxismo: Fragmentos de uma teoria literária práticaFrom EverandAfromarxismo: Fragmentos de uma teoria literária práticaNo ratings yet
- Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homensFrom EverandDiscurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homensRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (219)
- O desconhecido de si e dos outros: a invenção do ser humano e quando deixamos de entender o mundoFrom EverandO desconhecido de si e dos outros: a invenção do ser humano e quando deixamos de entender o mundoNo ratings yet
- Essencia Da-SociologiaDocument71 pagesEssencia Da-SociologiaRebeca MiryamNo ratings yet
- "Como um pedaço de carne": uma análise das metáforas do consumo de corpos e a colonialidade da linguagem no Sul do Brasil (1985-2020)From Everand"Como um pedaço de carne": uma análise das metáforas do consumo de corpos e a colonialidade da linguagem no Sul do Brasil (1985-2020)No ratings yet
- A espécie que sabe: Do Homo Sapiens à crise da razãoFrom EverandA espécie que sabe: Do Homo Sapiens à crise da razãoRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Desnaturalização do machismo estrutural na sociedade brasileiraFrom EverandDesnaturalização do machismo estrutural na sociedade brasileiraRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Muito além da formação: Diálogos sobre a transmissão e a democratização da psicanáliseFrom EverandMuito além da formação: Diálogos sobre a transmissão e a democratização da psicanáliseNo ratings yet
- FreudDocument25 pagesFreudsergioasds2529No ratings yet
- Antropologia e Imaginao Da Indisciplinaridade (Viveiros de Castro)Document13 pagesAntropologia e Imaginao Da Indisciplinaridade (Viveiros de Castro)mariapaulapmNo ratings yet
- A - Construcao - Ritual - Da - Pessoa-With-Cover-Page-V2 - Marcio GoldmanDocument34 pagesA - Construcao - Ritual - Da - Pessoa-With-Cover-Page-V2 - Marcio GoldmanMariana AvillezNo ratings yet
- Imre Kertész e o desterro humano: Psicanálise e LiteraturaFrom EverandImre Kertész e o desterro humano: Psicanálise e LiteraturaRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- Direitos humanos contra-hegemônicos e o caso da Clínica do TestemunhoFrom EverandDireitos humanos contra-hegemônicos e o caso da Clínica do TestemunhoNo ratings yet
- Os Dilemas Do Relativismo CulturalDocument7 pagesOs Dilemas Do Relativismo CulturalMarcelo Soares Cotta100% (1)
- Da plantation ao cárcere: racismo e bionecropolítica no BrasilFrom EverandDa plantation ao cárcere: racismo e bionecropolítica no BrasilNo ratings yet
- Sobre a violência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 5From EverandSobre a violência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 5Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (4)
- SILVA JR., Reinaldo Da. Uma Breve Reflexão Sobre Antropologia Da ReligiãoDocument12 pagesSILVA JR., Reinaldo Da. Uma Breve Reflexão Sobre Antropologia Da ReligiãoGabriel PintoNo ratings yet
- A Fábula Das Três Raças PDFDocument15 pagesA Fábula Das Três Raças PDFRegiane RegisNo ratings yet
- Goldman Marcio. 2015. Além Da IdentidadeDocument19 pagesGoldman Marcio. 2015. Além Da IdentidadegabrielimprotaNo ratings yet
- O Difícil Exercício Da AlteridadeDocument12 pagesO Difícil Exercício Da AlteridadeFasbinter AiresNo ratings yet
- Eduardo Viveiros de Castro - Antropologia e Imaginação Da IndisciplinaridadeDocument9 pagesEduardo Viveiros de Castro - Antropologia e Imaginação Da IndisciplinaridadeFernando FernandesNo ratings yet
- Antropologia e Psicologia - Apontamentos para Um Diálogo Aberto.Document15 pagesAntropologia e Psicologia - Apontamentos para Um Diálogo Aberto.Janilson LoterioNo ratings yet
- Resumo e ComentárioDocument3 pagesResumo e Comentáriorafaela cNo ratings yet
- Caminhos de Uma Pesquisa Negra em 2024Document4 pagesCaminhos de Uma Pesquisa Negra em 2024HenricoiNo ratings yet
- Ilienkov, E. v. - O Biológico e o Social No SujeitoDocument6 pagesIlienkov, E. v. - O Biológico e o Social No SujeitoLeoritos PkNo ratings yet
- Caminhos da identidade - 2ª edição: Ensaios sobre etnicidade e multiculturalismoFrom EverandCaminhos da identidade - 2ª edição: Ensaios sobre etnicidade e multiculturalismoNo ratings yet
- Anti Relativismo - Clifford GeertzDocument14 pagesAnti Relativismo - Clifford Geertzbia_souzandradeNo ratings yet
- Sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida: Segunda consideração extemporâneaFrom EverandSobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida: Segunda consideração extemporâneaNo ratings yet
- A Síndrome do Amor Bandido: Hibristofilia: o amor e a prisão de estar em liberdadeFrom EverandA Síndrome do Amor Bandido: Hibristofilia: o amor e a prisão de estar em liberdadeNo ratings yet
- GEERTZ, Clifford, O Senso Comum Como Sistema Cultural. In. O Saber Local, Novos Estudos em Antropologia Interpretativa, Petrópolis, Vozes, 1997.Document17 pagesGEERTZ, Clifford, O Senso Comum Como Sistema Cultural. In. O Saber Local, Novos Estudos em Antropologia Interpretativa, Petrópolis, Vozes, 1997.MargarethaZelleNo ratings yet
- Antropologia RuralDocument66 pagesAntropologia RuralAntonio MendoncaNo ratings yet
- Fichamento - Homo Hierarchicus, de Louis DumontDocument4 pagesFichamento - Homo Hierarchicus, de Louis Dumontremobastos100% (1)
- Racismo Uma Encruzilhada para A PsicanaliseDocument6 pagesRacismo Uma Encruzilhada para A Psicanalisegrandchase0505100% (1)
- Pina Cabral - O Limiar Dos AfetosDocument33 pagesPina Cabral - O Limiar Dos AfetosSel GuanaesNo ratings yet
- Cenas de um pensamento incômodo: gênero, cárcere e cultura em uma visada decolonialFrom EverandCenas de um pensamento incômodo: gênero, cárcere e cultura em uma visada decolonialNo ratings yet
- Antropologia e Seus EspelhosDocument67 pagesAntropologia e Seus EspelhosSonia LourençoNo ratings yet
- Faces Da Indianidade PDFDocument290 pagesFaces Da Indianidade PDFSonia LourençoNo ratings yet
- Versão WEB Livro Memórias Dos Povos Do Campo No Paraná FINALDocument404 pagesVersão WEB Livro Memórias Dos Povos Do Campo No Paraná FINALHelena KussikNo ratings yet
- Livro Etnologia Indigena e IndigenismoDocument274 pagesLivro Etnologia Indigena e IndigenismoFlávia Oliveira Serpa Gonçalves100% (1)
- Avtar Brah - Diferenca Diversidade DiferenciacaoDocument48 pagesAvtar Brah - Diferenca Diversidade DiferenciacaoHolli DavisNo ratings yet
- AUSTIN, J.L. Quando Dizer É Fazer Palavras e AçãoDocument69 pagesAUSTIN, J.L. Quando Dizer É Fazer Palavras e AçãoSonia Lourenço100% (2)
- STENGERS Entrevists A Representação de Um Fenômeno Científico É Uma Invenção PolíticaDocument3 pagesSTENGERS Entrevists A Representação de Um Fenômeno Científico É Uma Invenção PolíticaSonia LourençoNo ratings yet
- PEIRANO Mariza Etnografia Ou A Teoria Vivida. Revista Ponto UrbeDocument9 pagesPEIRANO Mariza Etnografia Ou A Teoria Vivida. Revista Ponto UrbeSonia LourençoNo ratings yet
- LÉVI-STRAUSS, C. Mitológicas 1 - O Cru e o CozidoDocument390 pagesLÉVI-STRAUSS, C. Mitológicas 1 - O Cru e o CozidoMônica Renata100% (2)
- CALHEIROS Orlando Aikewara Esboços de Uma Sociocosmologia Tupi GuaraniDocument324 pagesCALHEIROS Orlando Aikewara Esboços de Uma Sociocosmologia Tupi GuaraniSonia LourençoNo ratings yet
- VELHO, Otávio. Globalização - Antropologia e Religião. 1997.Document22 pagesVELHO, Otávio. Globalização - Antropologia e Religião. 1997.Sonia LourençoNo ratings yet
- LANGDON Jean Os Diálogos Da Antropologia Com As Políticas PúblicasDocument12 pagesLANGDON Jean Os Diálogos Da Antropologia Com As Políticas PúblicasSonia LourençoNo ratings yet
- Tarcísia Da Silva Almeida: Questão 001Document3 pagesTarcísia Da Silva Almeida: Questão 001Mario Damião R. Domingos100% (1)
- A Gênese Do NatalícioDocument7 pagesA Gênese Do NatalícioLuiz HiginoNo ratings yet
- Revista GeografiaDocument21 pagesRevista GeografiaEduardo GaioNo ratings yet
- Instrumentos Capazes de Medir GrandezasDocument24 pagesInstrumentos Capazes de Medir GrandezasAlexNo ratings yet
- Allan Kardec - Conselhos Reflexões e Máximas de Allan KardecDocument37 pagesAllan Kardec - Conselhos Reflexões e Máximas de Allan KardecjpcreteNo ratings yet
- AformaçoesDocument81 pagesAformaçoeslunabella32100% (10)
- As Sete Maiores Descobertas Científicas Da HistóriaDocument32 pagesAs Sete Maiores Descobertas Científicas Da Históriajsalg100% (1)
- Historia Da Lei Da Inercia PDFDocument10 pagesHistoria Da Lei Da Inercia PDFcesarNo ratings yet
- Nota Aula 2 e Exercícios - Modelos AtômicosDocument10 pagesNota Aula 2 e Exercícios - Modelos AtômicosDavi Elpidio Belo Pinheiro100% (1)
- Alimentacao Biodinamica PDFDocument227 pagesAlimentacao Biodinamica PDFPaulo Sérgio Pelegrino100% (3)
- MODULO 11 - EletrotermofototerapiaDocument108 pagesMODULO 11 - EletrotermofototerapiaMarina PaulaNo ratings yet
- Fazbear Do Terror #2 - FetchDocument108 pagesFazbear Do Terror #2 - FetchBernardo Castello Branco Suriano NascimentoNo ratings yet
- Química I: Eliana Midori Sussuchi Samísia Maria Fernandes Machado Valéria Regina de Souza MoraesDocument19 pagesQuímica I: Eliana Midori Sussuchi Samísia Maria Fernandes Machado Valéria Regina de Souza MoraesSILBER BENTESNo ratings yet
- Principio VitalDocument2 pagesPrincipio VitalJosé Carlos D'EstacioNo ratings yet
- Artigos Do Templo em Outros VolumesDocument291 pagesArtigos Do Templo em Outros VolumesDode FigArNo ratings yet
- Karma e Vidas Passadas - PalestraDocument13 pagesKarma e Vidas Passadas - Palestraapi-3703609No ratings yet
- Katia Paulilo Mantovani PDFDocument126 pagesKatia Paulilo Mantovani PDFJosefina Ladeia LimaNo ratings yet
- Aula 01 - Materia e Suas PropriedadesDocument30 pagesAula 01 - Materia e Suas PropriedadesFillipe SilvaNo ratings yet
- Almoxarifado e Gestão de MateriaisDocument7 pagesAlmoxarifado e Gestão de MateriaisAlana MorelliNo ratings yet
- Como Montar Uma Revista ImpressaDocument7 pagesComo Montar Uma Revista ImpressatiagotartarugaNo ratings yet
- Gumbrecht - Lendo para A StimmungDocument10 pagesGumbrecht - Lendo para A StimmungMatiasBarrios86No ratings yet
- Apostila de Mec Dos Sólidos CompletaDocument85 pagesApostila de Mec Dos Sólidos CompletaJeosafá PereiraNo ratings yet
- Vistas Do Mundo Real GI GurdjieffDocument64 pagesVistas Do Mundo Real GI GurdjieffJailson MarianoNo ratings yet
- 15 Material DouradoDocument15 pages15 Material DouradowanderrluizNo ratings yet
- Boscov e Campanha Manual Tecnico NatmDocument115 pagesBoscov e Campanha Manual Tecnico NatmMari VizentinNo ratings yet
- Ebook - Futebol QuanticoDocument14 pagesEbook - Futebol QuanticoLeno PappisNo ratings yet
- Leticia Seminario IIIDocument5 pagesLeticia Seminario IIIAline BileskiNo ratings yet
- (Em Portuguese Do Brasil) Humberto Soriano-Introdução À Dinâmica Das Estruturas-CAMPUS - GRUPO ELSEVIER (2014)Document464 pages(Em Portuguese Do Brasil) Humberto Soriano-Introdução À Dinâmica Das Estruturas-CAMPUS - GRUPO ELSEVIER (2014)Raúl Castellón100% (2)
- Ciência e Propriedade Dos MateriaisDocument251 pagesCiência e Propriedade Dos MateriaisJean NascimentoNo ratings yet
- A Arte Tolteca Da Vida e Da Morte - Don Miguel Ruiz & Barbara EmrysDocument322 pagesA Arte Tolteca Da Vida e Da Morte - Don Miguel Ruiz & Barbara EmrysFelipe MoraisNo ratings yet