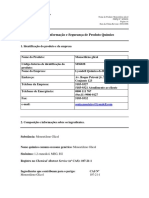Professional Documents
Culture Documents
Dialnet OErroMoralNaTragediaENaEpopeia 2564660
Uploaded by
dulcineajones0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views0 pagesOriginal Title
Dialnet-OErroMoralNaTragediaENaEpopeia-2564660
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views0 pagesDialnet OErroMoralNaTragediaENaEpopeia 2564660
Uploaded by
dulcineajonesCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 0
83
O erro moral na tragdia e na epopia*
Mario A. L. Guerreiro
Depto. de Filosoa UFRJ
As etimologias tanto podem ser esclarecedoras como produtoras de
equvocos, tanto podem conter esclarecimentos abrangentes como
parciais. Este parece ser o caso especfico da palavra tragdia, pro-
veniente de tragdia, literalmente: grito do bode. primeira vista,
difcil imaginar qual a relao entre uma determinada forma de es-
petculo teatral e o rudo produzido pelo referido animal. Contudo,
essa etimologia aponta para uma origem ritualstica da referida forma
de expresso dramtica.
Trata-se do grito do bode expiatrio emitido no momento em que
este era imola-do aos deuses imortais, para apaziguar sua ira em rela-
o aos mseros mortais. O chamado sacrifcio de sangue tal como
costumava ocorrer nos cultos dionisacos no uma peculiaridade
da cultura grega arcaica, tampouco as frmulas mgicas que costu-
mavam acompanh-lo, pois podemos encontrar ambos nas mais
diferentes culturas. Porm uma caracterstica marcante da cultura
grega o longo percurso em que um ritual primevo passou por muitas
transformaes e culminou em uma refinada forma de expresso ar-
tstica entre os sculos V a. C e IV a. C.
A tragdia tica foi a primeira manifestao daquilo que Richard
Wagner, no sculo XIX, denominou de Gesamtkunstwerk (obra de
arte total), porque era uma admirvel sntese de diversas formas parti-
culares de expresso artstica. No Renascimento Italiano, um erro de
interpretao a respeito do desempenho da tragdia acabou gerando
outra forma de obra de arte total: a pera. E o autor de O Anel dos
Nibelungos desejando ir alm da pera tradicional criou uma nova
________________
* Texto composto a partir de duas comunicaes apresentadas nos Centros de Histria Antiga
da UFRJ e da UERJ em1999.
Filosoa Antiga
84
forma de arte total: o drama musical (Wort-Ton Drama). Finalmente,
neste nosso sculo que hoje se aproxima do fim, o cinema parece ter
ido alm das formas precedentes, no sentido de realizar uma sntese
mais rica das diversas formas de expresso artstica. Este ao menos o
ponto de vista de A. Hauser (1972, v. II, p. 1115-1151), que elegeu
a arte cinematogrfica como a forma tpica de expresso do sculo
XX.
Embora Wagner tenha cunhado a expresso obra de arte total para
caracterizar o novo gnero criado por ele, a percepo de que a trag-
dia tica era uma forma de integrao de diversas formas particulares
no escapou do olhar aguado de Aristteles (1974). Na Potica, ele
estudou cada forma de expresso separadamente e, posterior-mente,
procurou mostrar como elas se entrosavam admiravelmente bem nos
grandes espetculos produzidos por squilo, Eurpedes, Sfocles e
outros. De todos os conceitos gerados por Aristteles, tendo em vista
uma compreenso ampla da tragdia, nosso interesse converge para
os de trama e tema (mythos). A trama diz respeito basicamente a uma
histria que vai sendo contada atravs das falas dos atores e do resu-
mo feito pelo coro, porm o tema engloba no s o assunto como
tambm a viso expressa pelo autor a respeito do mesmo. No fundo,
o que est em jogo so dois aspectos tpicos de todas as formas de
expresso ficcional: a fabulao e a viso de mundo.
Como procuramos mostrar em um livro recentemente publicado
(Guerreiro, 1999 a), os mencionados aspectos so constituintes de
todos os tipos de fico, quer estejam em jogo narrativas como
o caso do poema pico e do romance quer estejam dramatizaes
como o caso da tragdia e do drama moderno. H autores que
expressam deliberadamente uma viso de mundo, h os que simples-
mente se servem da trama e das personagens para expressar tal coisa
como o caso do chamado romance de tese e h ainda os que
no tm nenhuma inteno de expressar sua viso de mundo, po-
rm a expressam involuntariamente mediante a caracterizao de suas
personagens e a construo de sua narrativa ou dramatizao.
O erro moral na tragdia e na epopia
85
Costuma-se dizer que assim o fazem inconscientemente, mas pensa-
mos que h uma boa alternativa para as explicaes do tipo freudiano
baseadas no obscuro conceito de o inconsciente (das Unbewusst, lite-
ralmente: o Desconhecido) e esta alternativa consiste no conceito
de conseqncias no-pretendidas (unintended consequences) criado
por F. Hayek (1960). Desse modo, supondo que um autor no tenha
a inteno deliberada de expressar uma viso de mundo, esta desponta
como uma conseqncia no-pretendida da sua inteno manifes-
ta de contar uma histria, e pode ser facilmente surpreendida pelos
pontos de vista tcitos embutidos na sua narrao ou dramatizao.
No que diz respeito especificamente tragdia clssica, a posio ge-
ralmente sustentada pelos crticos que os poetas trgicos, tendo a
inteno explcita ou no, expressaram efetivamente uma particular
viso de mundo, e esta era uma concepo fatalista, de acordo com a
qual ningum podia modificar sua moira (destino). Para citar apenas
um exemplo: encontramos no texto de dipo-Rei de Sfocles uma
fala bastante expressiva da referida concepo fatalista:
Os homens so joguetes dos deuses. So como moscas nas mos
de meninos malvados que as matam por pura diverso (citado
por Mondolfo, 1969, p. 347, o grifo nosso).
Dificilmente encontraremos uma imagem to forte e contundente da
impotncia e da passividade dos indivduos humanos. Diante disto, a
idia de que os indivduos so dotados de autotelia e capazes de traar
os rumos das suas vidas atravs das suas escolhas no passa de uma pia
iluso. Ser mesmo? Na sua Histria da Cultura Grega, J. Burckhardt
concordou inteiramente com a idia bastante disseminada de que o
que estava em jogo na tragdia era a fora do destino [nome alis de
uma famosa pera de Verdi], porm fez a ressalva de que esta mesma
se apresentava de ao menos trs maneiras distintas:
(1) Como necessidade cega, como absoluto eimrmenon
ou o que pouca diferena faz a vontade dos deuses
terrivelmente invejosos e vingativos.
Filosoa Antiga
86
(2) Como necessidade absoluta, tal como na Edipdia,
em que uma coisa no teria acontecido, se no tivesse
acontecido outra e assim por diante.
(3) Como culpa dos pais, tal como em lastor, em que de
vingana em vingana a maldio torna-se algo cada vez
mais terrvel. (Burckhardt, 1953, v. III, p. 298-299).
Cabe assinalar que o fatalismo no uma peculiaridade da cultura gre-
ga porm uma simples tendncia proveniente dos orculos e dos cultos
rfico-dionisacos. verdade que Aristteles manifestou profunda ad-
mirao pela poesia trgica, porm esta se restringia ao aspecto esttico
e no se estendia ao ideolgico, ou seja: ele admirava a fabulao, mas
repudiava a viso de mundo dos poetas trgicos. Sua admirao foi cla-
ramente expressa na Potica, mas seu repdio apesar de no expresso
explicitamen-te na tica a Nicmaco (Aristteles, 1958), nem na tica
a Eudemo (Aristteles, 1963) pode ser facilmente deduzido de alguns
princpios bsicos expostos nestas mesmas obras.
Como j vimos (Guerreiro, 1999b), para Aristteles nenhum animal
alm do homem que animal racional e animal poltico pode
agir no sentido rigoroso deste termo, pois, de todos os seres vivos, o
homem o nico que a verdadeira fonte de uma atividade prtica
(praxis tinon arch) (Aristteles, 1958, II, 5, 122b19), e isto porque
a causa eficiente de toda atividade prtica uma escolha (proiresis).
Em outras palavras: a fonte de uma ao voluntria uma deciso da
vontade. E como a vontade de um indivduo humano pode fazer es-
colhas, ela tem de ser considerada uma vontade livre visando sempre
a uma finalidade. (Aristteles, 1963, VII, I, 1139a32).
No que diz respeito ao humana, no contexto da cultura grega
encontramos uma contraposio de duas vises fortemente antag-
nicas e dificilmente conciliveis: de um lado, uma viso determinista
sustentada por Demcrito, os megricos, os esticos e outros; de ou-
tro uma viso libertarista sustentada por Aristteles e Epicuro. Essa
contraposio gerou uma longa polmica histrica que chegou aos
nossos dias. No domnio da teologia, ela ficou conhecida como a
polmica entre os defensores da predestinao e os do livre arbtrio.
O erro moral na tragdia e na epopia
87
Nos domnios da tica e da teoria da ao humana, a polmica entre
os necessitaristas e libertaristas.
Pensamos que, independentemente das particularidades dos referi-
dos domnios do saber, a questo fundamental em jogo consiste em
oferecer uma resposta para uma indagao bsica: A vontade de um
indivduo humano a causa das suas aes voluntrias ou no? Para o
determinismo dos atomistas, dos megricos e dos esticos, assim como
para o fatalismo dos poetas trgicos, a resposta No. Mas, para as
vises libertaristas de Aristteles e de Epicuro, a resposta Sim.
Uma das mais graves objees podendo ser feitas aos partidrios
do determinismo e do fatalismo [No fazemos a menor diferena
entre ambos neste contexto] pode ser formulada assim: Admitindo
que no gozamos de liberdade de escolha, como podemos ser consi-
derados os verdadeiros autores das nossas aes, para que possamos
ser considerados responsveis por nossos erros morais? A atribuio
de responsabilidade no faz o menor sentido quando se pode mos-
trar que um indivduo no praticou uma ao livremente escolhida
por ele. [a respeito do determinismo vide Guerreiro 2002, cap. I
Indeterminao e liberdade].
Vejamos o caso de dipo na tragdia Edipo-Rei de Sfocles. Como
sabemos, quando ele nasceu foi afastado de seus verdadeiros pais e
criado por outros. Quando j era adulto e voltava para sua terra sem
saber disso, entrou em uma luta com um homem que ele no sabia
ser seu pai e acabou matando-o. Tendo chegado sua terra, que igno-
rava ser a sua, casou-se com uma mulher no sabendo ser ela sua me.
Devemos considerar que ele tinha as intenes de cometer um parri-
cdio e um incesto? No h dvida de que ele efetivamente cometeu
ambos, mas como se pode alegar que ele tinha a inteno de fazer o
que fez, se ele no sabia que aquele homem desconhecido era Laio,
seu pai, e aquela mulher, que ele nunca havia visto antes, era Jocasta,
sua me? E como se pode alegar que ele cometeu erros morais? Se j
estava decretado pelo inexorvel destino que ele faria necessariamente
tais coisas, como podemos dizer que suas aes foram produtos da
sua livre e espontnea vontade?
Filosoa Antiga
88
Ao tomar conhecimento do que tinha efetivamente feito, dipo foi
tomado por um sentimento de culpa, foi levado ao desespero e furou
seus prprios olhos. Porm se ele se sentiu culpado foi pelo mal que
fez objetivamente aos outros, independentemente de ter desejado
faz-lo. Devemos considerar que h ao menos trs distintas maneiras
de nos sentirmos culpados por um mal feito aos outros:
(1) Por termos desejado praticar um mal que praticamos de fato
(2) Por termos desejado praticar um mal, ainda que no o tenha-
mos efetivamente praticado
(3) Por no termos desejado praticar um mal que praticamos de fato
De um ponto de vista tico, no podemos desconsiderar nenhum
desses trs casos. Em (1) a culpa assume a forma do remorso(ou ar-
rependimento), pois este sentimento moral s pode ter lugar quando
um indivduo pratica de fato um mal e posteriormente entra em con-
flito com sua conscincia ntima que o reprova pelo ato praticado.
Evidentemente o sentimento de culpa de dipo no pode ter sido
deste tipo.
Em (2) no pode ser o caso do remorso, uma vez que este pressupe a
prtica efetiva de um mal. Porm pode ser o caso da auto-recrimina-
o em que primeiramente um indivduo se imagina desempenhando
um ato malvolo e posteriormente renuncia a pratic-lo e se auto-
recrimina por reconhecer que por um momento ele poderia ter feito
aquilo que meramente imaginou. Evidentemente o sentimento de
culpa de dipo no pode ter sido desse tipo.
Em (3) est caracterizada a auto-recriminao, porm sua natureza
distinta da que se configurou em (1) [onde h lugar para o remorso]
e em (2) [onde no h lugar para tal coisa], pois embora o mal prati-
cado no tenha sido um efeito decorrente de uma inteno de faz-lo,
foi decorrente de uma ao praticada pelo agente. Trata-se de um
caso tpico de conseqncia no-pretendida. Este justamente o caso
de dipo que no pretendia matar seu pai, nem casar com sua me,
porm acabou praticando um parricdio e um incesto.
O erro moral na tragdia e na epopia
89
Mas se dipo no teve a inteno de fazer tais coisas, por que se
sentiu terrivelmente culpado chegando mesmo a se autopunir gra-
vemente furando seus olhos?! Simplesmente porque o sentimento de
culpa tanto pode decorrer de (1) uma inteno que se materializou,
de (2) uma inteno que no se materializou, ou (3) de uma ao sem
a correspondente inteno de pratic-la. Assim sendo, perfeitamen-
te compreensvel que um indivduo se sinta culpado, mesmo por um
mal involuntariamente praticado por ele; se o referido mal no pode
ser considerado decorrente da sua inteno, tem de ser considerado
decorrente da sua ao, como o caso do homicdio culposo em que
diferentemente do doloso no est caracterizada a inteno de
praticar o ato praticado.
Desse modo, torna-se bastante compreensvel dizer que a auto-recri-
minao e a autopunio de dipo no decorreram de ele ter tido as
intenes de praticar os males que praticou, porm dos males produ-
zidos nos outros em decorrncia das suas aes efetivas. No devemos
esquecer que dipo no caracterizado por Sfocles como um indi-
vduo dotado de autodeterminao e de capacidade de escolha, mas
sim um mero fantoche movido pelo destino inexorvel ou pelo desejo
dos deuses. Um indivduo nestas condies no pode ser considerado
responsvel por nenhum mal, porm isto no o impede de se sentir
culpado diante do mal feito aos outros. Neste sentido, concordamos
inteiramente com J. S. Lasso de La Vega quando ele afirma:
El dolor humano es el terrazgo donde nace la tragedia. El sufri-
miento de un alma, que puede sufrir con grandeza, eso y slo eso
es la tragedia. (Lasso de La Vega, 1970, p. 15, o grifo nosso).
Realmente, se h uma virtude moral no heri trgico, sua capa-
cidade de suportar grande sofrimento com dignidade e resignao,
coisa alis reconhecida por Aristteles (1958, 1099b e 1100
a-b).
Repetimos aqui o que j dissemos (Guerreiro, 2001): Entretanto,
para ser coerente com o que j havia proposto na tica a Nicmaco
(1099b), Aristteles no concorda com a idia de que o infortnio
traz necessariamente a infelicidade. No h dvida de que ele concor-
Filosoa Antiga
90
re fortemente para a produo da infelicidade, mas no h dvida
tambm que temos a capacidade de enfrentar qualquer vicissitude
com coragem e determinao [a no ser Aristteles admite uma
vicissitude como a de Pramo na Ilada: algo alm do limite humano
de suportao]. Ora, o mesmo poderia ser dito de uma vicissitude
como a de dipo. Comentando a viso do heri trgico na Potica de
Aristteles, diz S. H. Butcher:
dipo, embora possuidor de um temperamento aodado e
impulsivo, bem como de certo orgulho e arrogncia, no
pode ser tido como algum que en-controu a runa em vir-
tude de um grave defeito moral. Seu carter no foi o fator
determinante de seu infortnio. Como um homem qualquer,
ele foi uma vtima das circunstncias no sentido prprio desta
expresso. Ao matar Laio, ele podia provavelmente ser consi-
derado, em certo grau, moralmente culpvel. Mas o ato foi
certamente praticado em virtude de uma provocao e pos-
sivelmente em legtima defesa (vide dipo em Colona, 992).
Sua vida foi uma cadeia de erros, o mais terrvel dos quais o
casamento com sua me. [...] Contudo, esta foi uma ofensa
puramente inconsciente, a qual nenhuma culpa pode ser
associada. (Butcher, 1951, p. 320, o grifo nosso).
[obs. nossa: onde Butcher escreve puramente inconscien-
te escreveramos: de modo nitidamente no-pretendi-
do, para evitar qualquer aluso ao obscuro conceito freu-
diano de o Inconsciente].
Mas se os que produzem efeitos malficos, como dipo e lastor, no
so considerados autores destes mesmos, porm meros veculos de um
mal cujos verdadeiros autores so o inexorvel destino ou os deuses, o
erro moral envolvido no pode ser considerado humano, porm cs-
mico ou divino. A imoralidade em questo no pode ser humana, mas
sim olmpica. O fado pode ser at tomado como um fato, mas a trag-
dia tica no pode ser considerada uma tragdia tica.
Nessa engenhosa prosopopia, as personagens no podem ser consi-
deradas representaes de indivduos concebidos como agentes morais
no sentido rigoroso do termo como poderamos considerar Hamlet
O erro moral na tragdia e na epopia
91
ou Othello nos respectivos dramas shakespearianos porque, para
todos os efeitos, as personagens da tragdia se encontram na mesma
condio de crianas, dbeis mentais ou selvcolas no-aculturados,
ou seja: na condio daqueles que tm de ser considerados moral-
mente inocentes e juridicamente inimputveis, justamente por serem
considerados irresponsveis no no sentido de terem negligenciado
decorrncias previsveis dos seus atos, porm no sentido de no pode-
rem ser considerados capazes de assumir a autoria destes mesmos.
A conseqncia que se segue bastante contundente. Se aceitarmos
qualquer forma de fatalismo ou de determinismo da ao humana, te-
remos de considerar que somos incapazes de assumir a autoria do bem
ou do mal que praticamos. E se no somos considerados capazes disso,
estamos na mesma condio dos moralmente inocentes e juridicamente
inimputveis. Porm, se no nos agrada sermos tomados como infantes
tutelados, bugres de tanga ou oligofrnicos balbuciantes, ento temos
de assumir que somos os verdadeiros autores tanto do bem como do
mal que praticamos e, por isto mesmo, responsveis por ambos.
O bnus da liberdade gera inevitavelmente o nus da responsabilida-
de, que so duas faces de uma mesma moeda.
realmente uma pena que Sfocles no fosse filsofo e no avalias-
se as conseqncias lgicas e ticas de dipo-Rei. O mesmo se pode
dizer de Freud, que se inspirou na referida tragdia para elaborar seu
espantoso conceito de complexo de dipo, que, bem examinado, nada
mais do que uma verso laica do pecado original, assim como o
div do psicanalista nada mais do que a verso modernizante do
vetusto confessionrio. Se a religio era o pio do povo, Marx e Freud
eram viciados irrecuperveis e no sabiam (vide Guerreiro, 2000 e
Webster, 1999).
Procuramos mostrar que, na tragdia grega, os indivduos no eram
considerados responsveis por suas aes e, por isto mesmo, no
poderiam ser considerados culpados pela prtica de qualquer mal.
Embora seja difcil contestar esse modo de ver as coisas nas tragdias
de Sfocles, ele pode ser passvel de ressalvas no tocante a Eurpedes e
Filosoa Antiga
92
squilo. Considerando que, entre as fontes da tragdia, esto o mito
e a poesia pica, decidimos fazer uma breve investigao dos poemas
homricos, e isto nos permitiu levantar a hiptese de que, nesse outro
contexto, h uma ambigidade em relao s noes de responsabi-
lidade e culpa.
Talvez, ambigidade no seja a expresso correta, porm con-
tradio, porque o que est em jogo no o uso de um termo em
diferentes acepes, porm dois tipos de opinio conflitantes sobre o
mesmo assunto. Ora a autoria das aes individuais atribuda aos
deuses ou ao destino e as personagens ficam isentas de qualquer res-
ponsabilidade ora atribuda aos prprios homens e neste caso,
elas no podem se eximir de responsabilidade e culpa. Parece difcil
dizer se Homero, enquanto narrador, assume um ou outro desses
pontos de vista ou se limita simplesmente a apresent-los sem tomar
qualquer partido; porm o simples fato de o autor da Ilada e da
Odissia seja ele Homero ou qualquer outro apresentar essas duas
opinies conflitantes um claro indcio de que, na sua poca, j se
apresentava o germe da longa polmica histrica entre os necessita-
ristas e libertaristas.
No difcil encontrar nos poemas homricos personagens culpveis
que procuram se defender das imputaes de culpa e das reprovaes
alheias, mediante alegao da sua no-responsabilidade na prtica
dessa ou daquela ao considerada condenvel aos olhos da sua comu-
nidade, e at mesmo personagens complacentes que se compadecem
de atos praticados por outras e as eximem de qualquer culpa. Pris
se desculpa das reprimendas feitas por Hctor (Homero, 1952, III,
60). Pramo, por sua vez, procura atenuantes para o comportamento
de Helena, considerado pelos velhos troianos como causa de muitos
transtornos (Homero, 1952, III, 164). Agamnon tenta se eximir de
responsabilidade pela ofensa feita a Aquiles, da qual se originaram
tantos males para os gregos (Homero, 1952, XX, 85). Ulisses, no
Hades, tenta se desculpar com Ajax atribuindo a Zeus a responsabi-
lidade pela ofensa feita por ele, Ulisses (Homero, 1949, XIX, 528).
Esses so alguns casos em que as personagens procuram se apresentar
O erro moral na tragdia e na epopia
93
como instrumentos involuntrios, simples vtimas do terrvel Destino
(moira) ou dos deuses, poderes sobre-humanos cujas foras no pu-
deram resistir.
Mondolfo (1955, p. 339) assevera que essas tentativas de se eximir de
culpa tm suas razes em antigas crenas em que estavam em jogo no
s a idia de um destino superior aos homens e at mesmo aos deu-
ses (Homero, 1952, XVI, 341), mas tambm crenas primitivas de
carter mgico ou demonaco relacionadas com o culto dos mortos e
reforadas pela experincia do irresistvel poder das paixes humanas
(amor, cime, medo, clera etc.), que, segundo se acreditava, tinham
a capacidade de transformar um indivduo em um possesso, no po-
dendo em virtude disto ser considerado responsvel por suas aes.
[Verso brasileira: Em um dos grotes desse pas enorme, o homicida de
um crime doloso alega que, no momento em que tinha enfiado a faca na
barriga de outro fato testemunhado por mais de trs pessoas estava
possudo por Exu; e o delegado, por no poder prender uma suposta
entidade sobrenatural, prende mesmo o suposto possudo por ela].
De acordo ainda com Mondolfo (1955, p. 339), essa idia de pos-
sesso demonaca teria sido expressa posteriormente pelos poetas
trgicos mediante o emprego do verbo dimonian, quer dizer: ser
possudo por um dimon uma entidade sobrenatural no neces-
sariamente maligna, como o caso do demnio socrtico mas,
no contexto visado pelo referido autor, necessariamente maligna.
Mondolfo chamou ainda a ateno para o aspecto de que as crenas
relativas possesso demonaca no constituem de nenhum modo
uma peculiaridade da cultura grega; ao contrrio: so bastante co-
muns em uma grande diversidade de culturas, assim como fazem
parte do imaginrio popular da nossa prpria cultura.
Na Grcia antiga, essas crenas acabaram produzindo uma estranha
noo batizada por um pesquisador moderno com o estranho nome
de crime objetivo, juntamente com a alegao de que a referida
noo antecedeu as de sujeito criminal e responsabilidade jurdica.
Justamente com base na referida noo coisa bastante esdrxula aos
Filosoa Antiga
94
nossos olhos modernos que o culpado era considerado um demen-
te (demens), mera vtima de um delrio ou loucura provocados pela
clera ou vingana de algum deus. Desse modo, seu suposto crime
era visto como amarta ou amrtema, ou seja: um erro de carter
involuntrio pelo qual no lhe cabia a atribuio de qualquer respon-
sabilidade. O problema, como j insinuamos, que havia de fato uma
escandalosa ambigidade nos usos dos mencionados termos, pois seu
significado deslizava facilmente da noo de erro involuntrio de
erro voluntrio, e isto produzia uma importante diferena.
Comentando a viso aristotlica do heri trgico na Potica, S. H.
Butcher diz que ele costuma cair de uma posio de grande eminn-
cia em terrvel desgraa, mas o infortnio que acaba arruinando a
sua vida no pode ser creditado a uma maldade deliberada, mas sim
a um grande erro ou fraqueza moral (frailty). [Como diria, muitos
sculos mais tarde, Hamlet, generalizando abusivamente natureza
feminina o carter de Gertrudes, sua me: Frailty, thy name is woman!
[Fraqueza moral, teu nome mulher!], Butcher desenvolve seu ponto
de vista dizendo:
A palavra amarta, no seu sentido coloquial, comporta di-
versas acepes. Como sinnimo de amrtema, e aplicada
a uma ao determinada, significa um erro devido a um
conhecimento inadequado de circunstncias determina-
das. De acordo ainda com este mesmo uso, poderamos
acrescentar o adendo de que as circunstncias so tais que
podiam ser conhecidas. Assim sendo, est includo qual-
quer erro de juzo decorrente de aodamento e de anlise
descuidada do caso em questo um erro que at certo
ponto moralmente condenvel, uma vez que podia ter
sido evitado. [Quem comete] um erro dessa natureza pode
reivindicar perdo ou compreenso. Ocorre que amarta
mais frouxamente aplicada a um erro decorrente de ine-
vitvel ignorncia, para o qual o nome mais apropriado
atychema (desventura). Em ambos os casos, no entanto, o
erro no-intencional; surge da falta de conhecimento e
sua qualificao moral e depende de se o indivduo ou
no responsvel por sua ignorncia. Uma acepo distinta
O erro moral na tragdia e na epopia
95
limitada ainda referncia a uma ao determinada
a amarta de carter propriamente moral: um erro ou uma
falta em que a ao consciente e intencional, mas no
deliberada. Tais aes so realizadas sob [fortes comoes
de] a paixo ou o dio. (Butcher, 1951, p. 318-9).
De modo geral, essa passagem de Butcher bastante esclarecedora,
embora no tenhamos compreendido o que ele quis dizer com a
ao consciente e intencional, mas no deliberada. Como podemos
conceber uma ao intencional que no seja consciente e no envolva
deliberao?
Ainda que entendssemos que Butcher estava querendo fazer refern-
cia a uma ao tpica em que o agente agiu sob as fortes comoes do
amor ou do dio e, por isto mesmo, coubesse a alegao de que estava
mentalmente transtornado, devemos lembrar que de um ponto de
vista jurdico isto serviria como atenuante do crime praticado, no
como iseno de culpa [como o caso da ao em legtima defesa].
Temos razes para sustentar que, neste e em outros casos, a tica
no deve sustentar um ponto de vista diferente do sustentado pelo
Direito. Desse modo, estando em jogo o carter do heri trgico,
pensamos ser prefervel a interpretao de Mondolfo quando, em re-
ferncia a amarta, falou em um erro de carter involuntrio pelo
qual no lhe cabia qualquer responsabilidade.
Charles Greene (1944, p. 40-1) afirmou que nos poemas homricos
h vestgios das j mencionadas crenas primitivas, porm consi-
dera que estas aparecem em uma nova configurao, uma vez que
so incorporadas por determinadas personagens, justamente para se
defenderem de reprimendas feitas por outras, que atribuem a elas
responsabilidade por certos atos praticados por elas. Para Greene, isto
uma clara indicao de que, na poca de Homero, j podia ser en-
contrada uma maneira de pensar contrria viso de erros morais e
crimes como decorrentes de possesso demonaca.
Como temos procurado mostrar, em diversos trabalhos voltados para
o pensamento grego e para o da nossa poca, noes tais como as
Filosoa Antiga
96
de possesso demonaca, determinismo da ao humana, fatalis-
mo, predestinao e coisas semelhantes se prestaram e continuam
se prestando muito bem a determinadas alegaes infundadas em que
indivduos humanos procuram a todo custo se eximir de responsa-
bilidade e culpa. E por incrvel que possa parecer primeira vista, a
afirmao de que somos livres para fazer nossas escolhas e escolher
nossos caminhos nem sempre recebida com satisfao, principal-
mente por vir acompanhada da sua inevitvel contrapartida: a de que
somos inteiramente responsveis pelas escolhas que fazemos.
O franco antagonismo das vises necessitarista e libertarista j estava
bem configurado na poca de Pricles, como observou oportuna-
mente L. Rohden:
No perodo histrico que precedeu Pricles, vemos os
gregos envoltos por uma viso eminentemente mtica do
mundo e de si prprios. A moira suspensa sobre a cabea
dos homens, estava a dirigir seus caminhos, castigando
uns e salvando outros. Os males que cometiam eram atri-
budos inspirao divina. Veja-se o exemplo clssico na
tragdia Ajax de Sfocles. Aos poucos a viso de culpabili-
dade foi sendo considerada como responsabilidade humana.
Nos tempos de Pricles os homens deviam responder por
suas aes diante da comunidade. (squilo, Eumnides,
900 e segs.) (Rohden, 1977, p. 23).
Nos tempos homricos e na tragdia de Sfocles, o bode expiatrio
dos erros voluntrios dos indivduos era o inexorvel Destino ou os
poderosos deuses, mas no nosso Admirvel Mundo Novo, foram des-
cobertos novos subterfgios: o misterioso Inconsciente de Freud ou
a viso neomarxista ps-moderna esta mesma que tem grande difi-
culdade em ver criminosos, mas extrema facilidade em ver vtimas da
sociedade capitalista. Diante disto, nada mais urgente do que exigir
que os indivduos assumam suas decises e parem de ficar procuran-
do falsas causas para suas verdadeiras mazelas. E isto vlido tanto no
domnio da moralidade privada como no da moralidade pblica.
O erro moral na tragdia e na epopia
97
Referncias
ARISTTELES, (1974) La Poetica [introduzione, traduzione, commento
di F. Albegianni] . Florena. La Nuova Italia.
NICOMACHEAN ETHICS [traduo de D. Ross]. Oxford University
Press.
BURCKHARDT, J. (1953) Historia de La Cultura Griega. Barcelona. Editorial
Iberia.
BUTCHER, S. H. (1951) Aristotles Theory of Poetry and Fine Art. Nova
Iorque. Dover Publication.
GREENE, C. (1944) Moira. Harvard University Press.
GUERREIRO, M. A . L. (1999a) O Problema da Fico na Filosofia Analtica.
Londrina. Editora UEL.
______. (1999b) Theoria e prxis em Aristteles. Comunicao apresentada
no Primeiro Colquio Luso-Brasileiro de Pesquisa Filosfica, Depto. de
Filosofia da UFRJ, 24/8/99.
______. (2000) As Alegaes do Materialismo e do Atesmo In: Guerreiro:
Deus Existe? Uma Investigao Filosfica. Londrina. Editora UEL.
______. (2001) O conceito de Eudaimonia em Aristteles: Seu Significado
Para Ns, Revista Brasileira de Filosofia, vol. LI, fasc. 204, 2001
______. (2002) Igualdade ou Liberdade? Porto Alegre. EDIPUCRS.
HAUSER, A. (1972) Histria Social da Literatura e da Arte. So Paulo.
Mestre Jou.
HAYEK, F. (1960) The Constitution of Liberty. The University of Chicago
Press.
HOMERO (1952) Ilada (texto grego e traduo em francs). Paris. Belles
Lettres.
______. (1949) Odissia (texto grego e traduo em francs). Paris. Belles
Lettres.
LASSO DE LA VEGA, J. S. L. (1970) De Sfocles a Brecht. Barcelona.
Planeta.
MONDOLFO, R. (1969) La Comprensin del Sujeto Humano en La Cultura
Antigua. Buenos Aires. Edicciones Imn.
Filosoa Antiga
98
ROHDEN, L. (1997) O Poder da Linguagem: A Arte Retrica de Aristteles.
Porto Alegre. EDIPUCRS.
WEBSTER, R. (1999) Por Que Freud Errou: Pecado, Cincia e Psicanlise.
Rio de Janeiro / So Paulo. Record.
You might also like
- A Condicao Cavaleiresca de Dom Quixote U PDFDocument17 pagesA Condicao Cavaleiresca de Dom Quixote U PDFdulcineajonesNo ratings yet
- Velis Nolis... CervantesDocument236 pagesVelis Nolis... CervantesdulcineajonesNo ratings yet
- A Condicao Cavaleiresca de Dom Quixote U PDFDocument17 pagesA Condicao Cavaleiresca de Dom Quixote U PDFdulcineajonesNo ratings yet
- Velis, Nolis, Invidia: o Desentendimento Entre Lope de Vega e CervantesDocument16 pagesVelis, Nolis, Invidia: o Desentendimento Entre Lope de Vega e CervantesdulcineajonesNo ratings yet
- FilekDocument4 pagesFilekEwerton GuimarãesNo ratings yet
- Artigo Implicações Renais Do Hipertireoidismo Felino - RevisãoDocument7 pagesArtigo Implicações Renais Do Hipertireoidismo Felino - RevisãoLulua AmaralNo ratings yet
- Nom#25 Fevereiro2020 PDFDocument81 pagesNom#25 Fevereiro2020 PDFMagusAndréLNo ratings yet
- Edital 31020703Document16 pagesEdital 31020703WILLIAN OLIVEIRANo ratings yet
- (Des) Localização Do Meio e Outras Rotas - Tese Claudia ZimmerDocument234 pages(Des) Localização Do Meio e Outras Rotas - Tese Claudia ZimmerelaineNo ratings yet
- Ensaio - Psicologia - Andressa GoncalvesDocument6 pagesEnsaio - Psicologia - Andressa GoncalvesAndressaGonçalvesNo ratings yet
- Psicologia Do Desenvolvimento Da Criança e Do Adolescente - Unidade1Document13 pagesPsicologia Do Desenvolvimento Da Criança e Do Adolescente - Unidade1Anabela SousaNo ratings yet
- PG04-Propagacao de Onda em Dieletricos Com PerdaDocument4 pagesPG04-Propagacao de Onda em Dieletricos Com PerdaTobias Salazar BarbosaNo ratings yet
- Boas Práticas de Manipulação de Produtos EstéreisDocument12 pagesBoas Práticas de Manipulação de Produtos EstéreisgbmmmNo ratings yet
- Fotografia e Modernidade PDFDocument20 pagesFotografia e Modernidade PDFJorgeLuciodeCamposNo ratings yet
- Museu Virtual 4 UnidadeDocument13 pagesMuseu Virtual 4 UnidadeClecia OliveiraNo ratings yet
- Antibióticos X Bactérias - A Corrida Do Século - SuperinteressanteDocument4 pagesAntibióticos X Bactérias - A Corrida Do Século - SuperinteressanteThais Ewerton100% (1)
- Teologia Da TrindadeDocument20 pagesTeologia Da TrindadeLeandro Luiz ArmelinNo ratings yet
- Aventuras Na Oração.Document76 pagesAventuras Na Oração.lucivaldoNo ratings yet
- Exercitando (Aula01 Top1)Document1 pageExercitando (Aula01 Top1)Zaquiel AndradeNo ratings yet
- Ensaio A Vazio e em CC Do MITDocument20 pagesEnsaio A Vazio e em CC Do MITVinicius MazucaNo ratings yet
- Trabalho 01.1 - Homicídio Privilegiado, Eutanásia e OrtotanásiaDocument2 pagesTrabalho 01.1 - Homicídio Privilegiado, Eutanásia e OrtotanásiaVanderlei BalsanelliNo ratings yet
- Cesar Camargo MarianoDocument140 pagesCesar Camargo MarianoIvan Beck100% (3)
- Luiza Mahin - Uma Rainha Africana No BrasilDocument76 pagesLuiza Mahin - Uma Rainha Africana No BrasilCarol SantosNo ratings yet
- Modelo Do Termo de Compromisso de Estágio ObrigatórioDocument3 pagesModelo Do Termo de Compromisso de Estágio ObrigatórioRobert SimãoNo ratings yet
- Tóp Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Rev Americana Independencia América EspanholaDocument2 pagesTóp Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Rev Americana Independencia América EspanholaHellen OliveiraNo ratings yet
- 1º Teste Geografia 1º PERIODO ESAGDocument4 pages1º Teste Geografia 1º PERIODO ESAGLinda PereiraNo ratings yet
- Curso - ANIMISMODocument43 pagesCurso - ANIMISMOcelsobarretoNo ratings yet
- Resenha Figuras de RetóricaDocument7 pagesResenha Figuras de RetóricaSoutoAndersonNo ratings yet
- PARNASIANISMODocument24 pagesPARNASIANISMOrose3cariagaNo ratings yet
- Erich Von Daniken - O Dia em Que Os Deuses ChegaramDocument115 pagesErich Von Daniken - O Dia em Que Os Deuses ChegaramGinamagalhãesNo ratings yet
- Lista de Aprovados PMDFDocument445 pagesLista de Aprovados PMDF7z2hbgvpqxNo ratings yet
- Fala Conscienc. 7Document136 pagesFala Conscienc. 7victoria juliaNo ratings yet
- Memorial Do Convento Capitulo I Recuperado AutomaticamenteDocument34 pagesMemorial Do Convento Capitulo I Recuperado AutomaticamentelizaNo ratings yet
- FISPQ Monoetilenoglicol (MEG)Document8 pagesFISPQ Monoetilenoglicol (MEG)Wanderson CaldeiraNo ratings yet