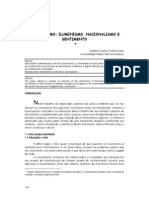Professional Documents
Culture Documents
Sobre o Conceito de Comunidade Na Obra de Maria Gabriela Llansol
Uploaded by
Lélia VilelaCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Sobre o Conceito de Comunidade Na Obra de Maria Gabriela Llansol
Uploaded by
Lélia VilelaCopyright:
Available Formats
Sobre o conceito de comunidade na obra de Maria Gabriela Llansol
Marilaine Lopes Silva
Resumo: Por meio dos conceitos de comunidade elaborados por Georges Bataille e Maurice Blanchot, esse ensaio pretende analisar os possveis significados do mesmo termo na obra da escritora portuguesa Maria Gabriela Llansol. Palavras-chave: Maria Gabriela Llansol, Maurice Blanchot, comunidade. Desejando sempre, no ntimo, manter-me estranha e estrangeira (afasto sempre a horizontal homogeneizao dos grupos), descubro que esta realidade de grupo finalmente criou uma constituio interna e um sentido espontaneamente original: no somos uma comunidade, somos uma sucesso, uma ordem. Eu sou o que se sucede quele, aquele o que vem antes de mim. Estamos ligados por uma coerncia, no por uma identidade. (LLANSOL 1999, p. 92)
Observa-se, em certas passagens da obra de Maria Gabriela Llansol, a retomada do termo comunidade. Tal retorno se d no contexto de um trabalho com a escrita que se faz, como afirma Joo Barrento, no espao de uma utopia esttica e poltica, esttico-poltica (2005, p. 18). A preocupao da autora com esse conceito coincide, na contemporaneidade, com sua emergncia na reflexo de diferentes pensadores. A persistncia das reflexes sobre os contornos possveis para o conceito de comunidade ganha estmulo, segundo Peter Pl Pelbart, a partir da percepo da perda de um comum que garantia ao lao social certa consistncia. No entanto, o mesmo autor observa, a partir de Jean-Luc Nancy, que a idia de um comum que se perdeu parece algo intrnseco ao prprio conceito de comunidade, como algo que acompanha o pensamento sobre ela. A constituio da sociedade implicaria a perda da comunidade, aqui entendida como uma espcie de vnculo e de compartilhamento de uma identidade. Mas, para Nancy, algo se insinua no fato de a percepo dessa perda se dar como algo retrospectivo, como aponta Pelbart: A cada momento de sua histria ele [o Ocidente] se entrega a uma nostalgia de uma comunidade perdida, desaparecida, arcaica, deplorando a perda de uma familiaridade, de uma fraternidade, de uma convivialidade (PELBART, 2003, p. 32).
Dessa forma, a suposta perda dos laos de comunho e pertinncia revela-se como constituinte da comunidade. A identidade como fator homogeneizador, que seria a base da idia de comunidade, e que pressupe morte e excluso do que foge regra, d lugar ao conceito de que, ao contrrio, ela s possvel a partir de um [...] compartilhamento de uma separao dada pela singularidade (PELBART, 2003, p. 33) e, nesse sentido, ela se ope sociedade, uma vez que o movimento desta caminha para a totalizao. Em um dilogo peculiar com Georges Bataille (e com a escrita de Marguerite Duras, em um segundo momento), Maurice Blanchot tambm se lana discusso do tema em seu La communaut inavouable. Inicialmente, o autor analisa as implicaes da relao entre comunidade e comunismo. Tendo como princpio a imanncia do sujeito, o comunismo implica certa idia de comunidade da qual a diferena excluda, onde a nica relao possvel a do Mesmo com o Mesmo (Mme avec le Mme). Se a comunidade isto relacionamento do mesmo com o mesmo , portadora de todos os erros e perigos dos quais toda forma de totalitarismo capaz, como nomear a relao que se abre entrada do outro? Segundo o autor, ao se chamar de comunidade essa nova relao, preciso se perguntar ento o que est em questo no pensamento sobre ela. Essa relao parece se assentar no na idia de um todo que restituiria s partes que lhe compem uma totalidade, uma integridade como forma de apaziguamento das falhas e fissuras do sujeito. Ao contrrio disso, o que engendra a necessidade de comunidade o que, segundo Blanchot, Bataille define como princpio de incompletude (principe dincompltude), falta que no busca o outro como complemento de uma falha constituinte do sujeito, mas como algo que com esse se choca, dando-lhe um sentido pela oposio, pelo desafio que representa e no pela certeza de uma integridade: O ser no busca ser reconhecido, mas ser contestado: ele vai, para existir, em direo ao outro, que o contesta e, s vezes, o nega, a fim de que ele comece a ser somente nessa privao, que o torna consciente (est a a origem da sua conscincia) da impossibilidade de ser ele mesmo, de insistir como ipse ou, se o queremos, como indivduo separado: assim, talvez, ele existir, provando-se como exterioridade sempre anterior, ou como existncia totalmente manifesta, compondo-se apenas como se decompondo constante, violenta e silenciosamente. Assim, a existncia de cada ser apela ao outro ou a uma pluralidade de outros [...]. Ele chama, a isso, uma comunidade: comunidade finita, pois ela tem, por sua vez, seu princpio na finitude dos seres que a compem e que no suportariam que esta (a comunidade) esquecesse de levar a um mais alto grau de tenso a finitude que os constitui. (BLANCHOT, 1983, p. 16-17; traduo nossa). Segundo Blanchot, a comunidade assim entendida ainda encerra o perigo de fuso, cujos exemplos histricos revelam a tendncia morte ou entrega a um lder que representa para o grupo sua prpria conscincia e liberdade. Assim, a comunidade pensada dessa forma parece encontrar-se em um caminho que resvala no cerceamento da liberdade individual, representado pelo totalitarismo, e na morte, representada pela idia de fuso.
Entretanto, na proximidade daquele que morre se revela uma outra comunidade intil (dsoeuvr) por no constituir parte da sociedade, no tender fuso comunal e no ter nenhum valor de produo. Uma comunidade que no serve para nada, a no ser se fazer presente diante da morte do outro, pois essa morte a do outro o fora de mim (hors de moi) que me abre a uma comunidade. Idia difcil de acompanhar em Blanchot e que est presente tambm em Lvinas: o momento da morte do outro como o que me desvela o prximo como alteridade, ao mesmo tempo em que lana sobre mim, me aproximando dele, a responsabilidade de no deix-lo s nesse momento que tambm o meu: Mas este em-face do rosto na sua expresso na sua mortalidade me convoca, me suplica, me reclama: como se a morte invisvel que o rosto de outrem enfrenta pura alteridade, separada, de algum modo, de todo conjunto fosse meu negcio. Como se, ignorada de outrem que j, na nudez de seu rosto, concerne, ela me dissesse respeito (me regardait) antes de sua confrontao comigo, antes de ser a morte que me desfigura a mim-mesmo. A morte do outro homem me concerne e me questiona como se eu me tornasse, por minha eventual indiferena, o cmplice desta morte invisvel ao outro que a se expe; e como se, antes de ser eu mesmo votado a ele, tivesse que responder por esta morte do outro e no deixar outrem s, em sua solido mortal. precisamente neste chamamento de minha responsabilidade pelo rosto que me convoca, me suplica e me reclama, neste questionamento que outrem prximo. (LVINAS, 2004, p. 194) A comunidade se mostra como algo fora do mercado, por no ter valor de produo, e como algo que escapa sociedade e a ameaa. Tambm no pode ser vista como comunho ou proximidade dada pela semelhana, j que ela ao se constituir em uma (falsa) integridade a proporcionar s partes incompletas que lhe formam a completude que lhes falta desemboca nos perigos do totalitarismo e da fuso comunal. E, ao ter a morte como um momento que a torna, de certo modo, possvel, a comunidade parece surgir como algo proporcionado pela descontinuidade e pela distncia: descontinuidade dada pela paradoxal proximidade daquele que, ao morrer, se afasta, ao mesmo tempo em que sua alteridade me lana para esse comum que a morte, mas que me estranha, fora de mim, exterior. Idias difceis de serem percorridas e alinhavadas, o que se pode concluir delas, a princpio, que talvez s seja possvel falar o que a comunidade no . Entretanto, ao mostrar essa negativa, a prpria idia de comunidade vacila. O que fica, sobretudo, parece ser a insistncia do desejo de compartilhamento. Nesse sentido, a escritura surge como uma das possibilidades que parece abrirse comunidade (ao menos, a uma idia especfica de comunidade) ao surgir da necessidade de partilha daquilo que, ao acontecer ao sujeito, lhe escapa: , tambm, neste sentido que o mais pessoal no podia se conservar como um segredo prprio a um nico, j que ele rompia os limites da pessoa e exigia ser partilhado, melhor, se afirmava como a prpria partilha. Essa partilha remete comunidade, ela se expe na comunidade, se teoriza nela, o seu risco, tornando-se uma verdade ou um objeto que se poderia deter enquanto a comunidade, como diz Jean-Luc Nancy, s se mantm como o lugar o no-lugar onde no h nada a deter, segredo de no ter nenhum segredo, trabalhando somente na inao que atravessa a prpria
escrita ou que, em toda troca pblica ou privada de fala, faz reter o silncio final em que, no entanto, nunca est certo de que tudo, enfim, termina. Sem fim, ali onde reina a finitude. (BLANCHOT, 1983, p. 37-38; traduo nossa). Essa comunidade parece ter no texto a guarda do desejo de encontro, sua potncia e sua falha: potncia intrnseca, j que o texto abertura ao fora e abertura ao outro, e falha porque tal movimento engendra uma violenta dessimetria entre eu e o outro. Falha como espao causado pela disjuno desses que o texto rene sem agrupar: Estas notas me ligam como um fio de Ariane aos meus semelhantes e o resto me parece vo. Eu no poderia, entretanto, fazer nenhum dos meus amigos l-las. [Bataille, citado por Blanchot] Pois, ento, leitura pessoal por amigos pessoais. De onde o anonimato do livro que no se dirige a ningum e que, pelas relaes com o desconhecido, instaura o que Georges Bataille (pelo menos uma vez) chamar de a comunidade negativa: a comunidade daqueles que no tm comunidade. (BLANCHOT, 1983, p. 45; traduo nossa). Essa comunidade daqueles que no tm comunidade delimitada por Bataille, toca, em algum ponto, o projeto de escrita de Llansol: Trabalhar a dura matria, move a lngua; viver quase a ss atrai, pouco a pouco, os absolutamente ss (LLANSOL, 1994, p. 53). Nesse trecho v-se a escrita como ponto de encontro (que no o mesmo que agrupamento ou concentrao) de seres singulares, que no se alienam ante possveis pontos de comunho. Nesse absolutamente ss de Llansol possvel ouvir o aqueles que no tm comunidade de Bataille. Tal perspectiva no traz na palavra negativa ou s a falha como fracasso, mas como distncia necessria. preciso ento investigar como isso se d na escrita de Llansol. Seguir a linhagem que seu texto revela nos leva a pensar na possibilidade de delimitar um conceito de comunidade interior ao projeto dessa escrita e consoante com certos aspectos de sua obra (como a constituio de um universo textual prprio atravs do desvendamento do conceito de textualidade, tendo como pressuposto certo tratamento em relao histria e a conceitos caros da literatura, como os de personagem e metfora). As figuras que formam a linhagem do texto llansoliano se renem numa estranha diversidade de intensidades e interesses (percebe-se, em seu texto, a emergncia de figuras de diferentes tradies e modos de vida). Entre essas figuras no h homogeneidade, no so semelhantes, ao mesmo tempo em que tambm no h hierarquia, divises, segmentos. Nesse sentido, de maneira ligeira (um tanto simplista, ainda), no h comunidade. Mas, quando surge de maneira afirmativa, qual sentido habita o sopro trazido por esse termo? E, o mais curioso, que me encontro face a um texto que no pressentira porque no me dera conta de quando queriam encontrar-se, enfim, os membros visveis e invisveis dessa comunidade. (LLANSOL, 1994, p. 46) Espero o Augusto e, para no me aborrecer, brinco com as palavras. S a princpio porque depois penso que a comida, que eu como lentamente, me transforma. Mas sinto-me como algum que viaja em pas estrangeiro, por no me sentir, de modo algum, ligada a uma nao. Na Blgica, sinto-me menos em terra alheia talvez porque est explcito que nenhum lao de origem poltica me liga a este pas. Sem pas em parte alguma, salva no
vazio em que me dei a uma comum idade. Comum idade real por imaginria, e imaginria por verdadeira. A escrita, os animais, fazem parte dessa orla, e so tais seres excludos pelos homens, que eu recebo. Trabalhar a dura matria, move a lngua; viver quase a ss atrai, pouco a pouco, os absolutamente ss. (LLANSOL, 1987, p. 53) Nesses dois trechos, a idia de comunidade vem relacionada idia de encontro e de algo anterior a ele. Essa anterioridade parece se configurar como uma disperso, que no desencontro, mas uma qualidade de solido contrria ao conceito de concordncia, conformidade, identidade. Na geografia desse texto, no a identidade que delimita os espaos dos encontros: s o escravo pergunta quem , o homem livre segue quem o chama (LLANSOL, 1995). O que move os corpos indicado por Llansol: O cerne de todas estas imagens so, de facto, os afectos (LLANSOL, 1995). Talvez na importncia dos afetos na configurao desse espao resida, portanto, a possibilidade de compreender que sentido de comunidade o texto engendra. Embora se possa ouvir, no termo afeto empregado por Llansol, ressonncias espinosistas (o que no surpresa, visto que Espinosa uma de suas figuras), ela lhe confere ainda outras nuances. Para Llansol, o afeto compreende um triplo registro: o belo, o pensamento e o vivo, e neste triplo registro [...] que os corpos se movem (LLANSOL, 1995). Se, por vezes, como nessa passagem, o termo surge como um conceito especfico, em outros momentos, soa como em seu uso corriqueiro, como algo relacionado aos sentimentos e s relaes geradas por esses: Vou ser mais clara. J todos perdemos afectos. Perd-lo perder uma virtualidade do universo, perder uma parte do corpo ou parte do corpo que ficou por fazer (LLANSOL, 1995). Num ou noutro momento, o que se evidencia o encontro entre os corpos (encontro como algo em devir e no previamente determinado), capacidade de sair de um estado de menor potncia (Llansol prefere o termo pujana, tendo em vista outros contextos que abarcam o termo potncia), de menor possibilidade de ao, para um outro, de maior possibilidade. pela relao entre os corpos, atravs dos afetos que se adivinham e complementam, que os encontros se do. Essa perspectiva torna possvel a maneira como Llansol aborda o tempo e a histria: Se a matria do texto a alma humana, os afectos como lhe chamei, no se pode inscrev-la numa temporalidade linear e ficcional, porque sendo um processo redutor de apreenso do encadeado dos anis, o texto que emerge no vai, quer num quer noutro, alm da casca de um fruto de ouro. Porque nesse encadeado, as figuragens anulam mutuamente a sua luz prpria; no se conseguindo libertar da histria, continuam tentadas a elucidar o seu hipottico sentido, e o leitor fica sem saber se so figuras perdidas num tempo histrico errado, se so personagens tentados por um vago mstico. [...] preciso criar um dispositivo escrito, dispor-se decididamente a escrever texto, for-lo a criar uma outra temporalidade, onde as figuras humanas sejam levadas a coabitar, segundo o princpio de bondade, com as figuras da sua linhagem e com outras figuras no-humanas, numa simultaneidade temporal. No na temporalidade da histria, mas na temporalidade dos seus afectos, nas formas que revelam, nos pensamentos que sublevam, no rasto de fulgor que deixam no sentido que se interroga. Nessa relao, torna-se ridculo pensar num qualquer sentido da histria e, liberto dessa
tentao, o humano deixa de se ver forado a submeter a luminosidade alheia sua. (LLANSOL, 1995). O que h a negao da idia de comunidade como tentativa de reduo a uma identidade pretensamente comum, irmanada dentro de foras que lhe so exteriores (territrio, partido poltico, religio, lngua, etc.): [...] possvel fazer da multido uma colectividade de homens livres, em vez de um conjunto de escravos? (DELEUZE, 1980?, p. 17). Essa pergunta de Espinosa parece ecoar no texto llansoliano. Desse modo, um sentido possvel para comunidade no reside no que est fora a determinar uma reunio a partir de uma identidade comum, mas na intensidade dos prprios corpos, os afetos de que so capazes. Alis, quem sabe o que um corpo? (LLANSOL, 1994, p. 145), pergunta de Llansol a nos lembrar Espinosa: No sabemos o que pode um corpo (DELEUZE, 1980?, p. 139). Nesse imprevisvel dos corpos e seus afetos, mora a possibilidade do encontro, um estar em comum, mas ainda na diversidade. O que no um paradoxo, mas uma condio.
Abstract: Based on the concepts of community elaborated by Georges Bataille and Maurice Blanchot, this essay intends to analyze the possible meanings of the same term in the work by the Portuguese writer Maria Gabriela Llansol. Keywords: Maria Gabriela Llansol, Maurice Blanchot, community.
Referncias
BARRENTO, Joo. A voz dos tempos e o silncio do tempo: o projecto inacabado da Histria em O livro das comunidades. Lisboa; Sintra: Grupo de Estudos Llansolianos, 2005. BLANCHOT, Maurice. La communaut inavouable. Paris: Minuit, 1986. DELEUZE, Gilles. Espinosa e os signos. Porto: RS Editora. [1980?]. LVINAS, Emmanuel. Ensaios sobre a alteridade. Petrpolis: Vozes, 2004. LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboa. O Pblico, n. 1.786, 28 jan. 1995. Entrevista concedida a Joo Mendes. ______. Finita. Lisboa: Rolim, 1987. ______. Lisboaleipzig 1: o encontro inesperado do diverso. Lisboa: Rolim, 1994. ______. O livro das comunidades. Lisboa: Relgio Dgua, 1999. PELBARD, Peter. Vida capital: ensaios de biopoltica. So Paulo: Iluminuras, 2003.
You might also like
- Comunidade, toque e arte na filosofia de Jean-Luc NancyDocument10 pagesComunidade, toque e arte na filosofia de Jean-Luc NancyBrunoandrade1100% (1)
- Peter Pelbart-Como Viver SoDocument7 pagesPeter Pelbart-Como Viver SoLara VasconcelosNo ratings yet
- PELBART, Peter P. - A Vida em Comum - Vida CapitalDocument19 pagesPELBART, Peter P. - A Vida em Comum - Vida CapitalMaria do Rosario100% (1)
- A Construção da Psicologia SocialDocument43 pagesA Construção da Psicologia SocialÉrika Oliveira100% (1)
- O Que É o Ato de CriaçãoDocument11 pagesO Que É o Ato de CriaçãojorgesayaoNo ratings yet
- Animais em KafkaDocument18 pagesAnimais em KafkaFernando FragaNo ratings yet
- Suely RolnikDocument11 pagesSuely RolnikTarcisio GreggioNo ratings yet
- Conto de Escola - Machado de AssisDocument4 pagesConto de Escola - Machado de AssisLucianne VasconcelosNo ratings yet
- Tunga e a instauração através da fabulação e experimentaçãoDocument14 pagesTunga e a instauração através da fabulação e experimentaçãoLílian Soares100% (1)
- Ana Godoy - Menor Das Ecologias 2Document12 pagesAna Godoy - Menor Das Ecologias 2Ana GodoyNo ratings yet
- Avaliação de produção acadêmica para programa de pós-graduação em letrasDocument7 pagesAvaliação de produção acadêmica para programa de pós-graduação em letrasJules FlamartNo ratings yet
- A Gente Combinamos de Não Morrer - Conceição Evaristo PDFDocument13 pagesA Gente Combinamos de Não Morrer - Conceição Evaristo PDFFernanda JustoNo ratings yet
- Perec Aproximação Das Coisas ComunsDocument4 pagesPerec Aproximação Das Coisas ComunsRenan SoaresNo ratings yet
- Theodor Adorno - Revendo o Surrealismo - 1956 PDFDocument3 pagesTheodor Adorno - Revendo o Surrealismo - 1956 PDFAde EvaristoNo ratings yet
- (TRADUÇÃO) Otobiographies - DerridaDocument3 pages(TRADUÇÃO) Otobiographies - DerridaMarcelo AlvesNo ratings yet
- ANTELO Tempos-ValiseDocument31 pagesANTELO Tempos-Valisedavi pessoaNo ratings yet
- Artigo Sobre o Conto Cadeira de Jose Saramago 09 - Artigo - Tereza - Isabel - de - Carvalho PDFDocument8 pagesArtigo Sobre o Conto Cadeira de Jose Saramago 09 - Artigo - Tereza - Isabel - de - Carvalho PDFLemuel DinizNo ratings yet
- Dossie Antonin Artaud e Reverberacoes IDocument171 pagesDossie Antonin Artaud e Reverberacoes IMichelle Martins de AlmeidaNo ratings yet
- A literatura como conceito transversalDocument21 pagesA literatura como conceito transversalVeronica Gurgel100% (1)
- Associação Robert Walser para sósias anônimos - 2º Prêmio Pernambuco de LiteraturaFrom EverandAssociação Robert Walser para sósias anônimos - 2º Prêmio Pernambuco de LiteraturaNo ratings yet
- Encontro entre Glissant e Guimarães RosaDocument28 pagesEncontro entre Glissant e Guimarães RosaEdilane CardosoNo ratings yet
- DERRIDA Enlouquecer o SubjetilDocument132 pagesDERRIDA Enlouquecer o SubjetilWinston KurtzNo ratings yet
- Autoficção Feminina: A Mulher Nua Diante Do EspelhoDocument12 pagesAutoficção Feminina: A Mulher Nua Diante Do EspelhoSsica_AvelinoNo ratings yet
- Olhares que se refletemDocument8 pagesOlhares que se refletemRodrigo LuchetaNo ratings yet
- Os Impasses Do Amor - Vladimir SafatleDocument15 pagesOs Impasses Do Amor - Vladimir SafatleJuliana Ortegosa AggioNo ratings yet
- As Elegias de Duíno de RilkeDocument10 pagesAs Elegias de Duíno de RilkeJorge TardanNo ratings yet
- Fabiana Bruno ANTROPOLOGIA E POÉTICA (Fotografia) PDFDocument6 pagesFabiana Bruno ANTROPOLOGIA E POÉTICA (Fotografia) PDFSaulo SantiagoNo ratings yet
- Adorno: crítica e rememoraçãoDocument7 pagesAdorno: crítica e rememoração'Gustavo RaftNo ratings yet
- Memória Coletiva e Memória Histórica segundo Maurice HalbwachsDocument14 pagesMemória Coletiva e Memória Histórica segundo Maurice HalbwachsJuliana ArrudaNo ratings yet
- A perseguição de Pentesileia a AquilesDocument43 pagesA perseguição de Pentesileia a AquileshelenafrmNo ratings yet
- Rafael Kalaf Cossi - Luce Irigaray e A Psicanálise - Uma Crítica FeministaDocument19 pagesRafael Kalaf Cossi - Luce Irigaray e A Psicanálise - Uma Crítica FeministaGustavoNo ratings yet
- 3 Régine Robin Autoficção Bioficção CiberficçãoDocument10 pages3 Régine Robin Autoficção Bioficção CiberficçãoHenrique Julio VieiraNo ratings yet
- De Mauss A Levi-StraussDocument17 pagesDe Mauss A Levi-StraussHugo CiavattaNo ratings yet
- Pela opacidade: o direito à não compreensãoDocument3 pagesPela opacidade: o direito à não compreensãoThiago MattosNo ratings yet
- Novo romance: descrição e interpretação do romanceDocument5 pagesNovo romance: descrição e interpretação do romancePaloma SantosNo ratings yet
- Arquivo Memoria e Testemunho - 1a ConferênciaDocument27 pagesArquivo Memoria e Testemunho - 1a ConferênciamchagutNo ratings yet
- Tem País Na Paisagem - Marília GarciaDocument17 pagesTem País Na Paisagem - Marília GarciaJoãoNo ratings yet
- Van Gogh - O Suicidado Da SociedadeDocument10 pagesVan Gogh - O Suicidado Da SociedadeDenis MirandaNo ratings yet
- Democracia insurgente: três pensamentos singularesDocument22 pagesDemocracia insurgente: três pensamentos singularesmallaguerra100% (1)
- O que é um dispositivoDocument9 pagesO que é um dispositivoClayton MouraNo ratings yet
- Deleuze Quatro Formulas KantDocument3 pagesDeleuze Quatro Formulas KantchurianaNo ratings yet
- A Alegria É Breve - Maria Filomena MolderDocument10 pagesA Alegria É Breve - Maria Filomena MolderSusana DuarteNo ratings yet
- Walter Benjamin - A Imagem de ProustDocument11 pagesWalter Benjamin - A Imagem de Prousttito_cps100% (2)
- Marília Garcia: cortes, repetições e diálogosDocument32 pagesMarília Garcia: cortes, repetições e diálogosCarpestudiumNo ratings yet
- BORGES O Idioma Analitico de John Wilkins Jorge Luis Borges in Outras InquisicoesDocument5 pagesBORGES O Idioma Analitico de John Wilkins Jorge Luis Borges in Outras Inquisicoeskity75No ratings yet
- 4 - Afectos e PerceptosDocument3 pages4 - Afectos e PerceptosLe PaixãoNo ratings yet
- O Filme-Ensaio como Forma de Pensamento AudiovisualDocument13 pagesO Filme-Ensaio como Forma de Pensamento AudiovisualJujardimNo ratings yet
- A literatura do atrito e o pensamento experimentalDocument7 pagesA literatura do atrito e o pensamento experimentalIolanda Biasi BragançaNo ratings yet
- (Camafeu n.1) Antilógica - Patrícia LinoDocument24 pages(Camafeu n.1) Antilógica - Patrícia LinoPamela P. Cabral da SilvaNo ratings yet
- A Escrevivência Na Escrita AcadêmicaDocument20 pagesA Escrevivência Na Escrita AcadêmicaÂngela Márcia100% (1)
- Agamben, Giorgio - A Imanência AbsolutaDocument19 pagesAgamben, Giorgio - A Imanência AbsolutaCamila Bernard100% (1)
- Derrida, Jacques - Discurso Prêmio AdornoDocument12 pagesDerrida, Jacques - Discurso Prêmio AdornoJuliana Bratfisch100% (1)
- Blanchot - O Olhar de OrfeuDocument2 pagesBlanchot - O Olhar de OrfeuCaio SoutoNo ratings yet
- CadernosDocument7 pagesCadernosMarcos Douglas PereiraNo ratings yet
- Cidadão Instigado - Fortaleza - Cidadão Instigado - Fortaleza - CapaDocument4 pagesCidadão Instigado - Fortaleza - Cidadão Instigado - Fortaleza - CapaLélia VilelaNo ratings yet
- Guia de Bolso para IniciantesDocument3 pagesGuia de Bolso para IniciantesDrica DicastroNo ratings yet
- Original o Que Eh Perf SchechnerDocument25 pagesOriginal o Que Eh Perf SchechnerCinthia MendonçaNo ratings yet
- LLansol, Maria Gabriela. A Terra Fora Do SítioDocument28 pagesLLansol, Maria Gabriela. A Terra Fora Do SítioRômulo TôrresNo ratings yet
- Tédio e Modernidade em BaudelaireDocument119 pagesTédio e Modernidade em BaudelaireLélia VilelaNo ratings yet
- Gisleyne Cassia Portela Costa - Romantismo Iluminismo Nacionalismo e ToDocument6 pagesGisleyne Cassia Portela Costa - Romantismo Iluminismo Nacionalismo e ToarthursmarquesNo ratings yet
- RCCS75 003 019 Francoise MeltzerDocument17 pagesRCCS75 003 019 Francoise Meltzerchico1984No ratings yet
- Desenhar para conhecer: a rede de desenhadores urbanosDocument13 pagesDesenhar para conhecer: a rede de desenhadores urbanosLélia VilelaNo ratings yet
- A Marca de Tânatos - o Traço Melancólico No Texto LiterárioDocument100 pagesA Marca de Tânatos - o Traço Melancólico No Texto LiterárioLélia VilelaNo ratings yet
- Escritas de Si, Diana KlingerDocument206 pagesEscritas de Si, Diana KlingerFilipe MalangaNo ratings yet
- NICIÉ, Michelle. A Máquina Abstrata de RostidadeDocument17 pagesNICIÉ, Michelle. A Máquina Abstrata de RostidadeLélia VilelaNo ratings yet
- Boxe 2005Document12 pagesBoxe 2005Lélia VilelaNo ratings yet
- RCCS75 003 019 Francoise MeltzerDocument17 pagesRCCS75 003 019 Francoise Meltzerchico1984No ratings yet
- Interpretação de CorbinDocument14 pagesInterpretação de CorbinMoacyNo ratings yet
- O Espaço Libidinal Da Leitura e Da Escrita em LlansolDocument10 pagesO Espaço Libidinal Da Leitura e Da Escrita em LlansolLélia VilelaNo ratings yet
- Cartas e CorposDocument10 pagesCartas e CorposLélia VilelaNo ratings yet
- Elogio Aos Errantes RIDocument334 pagesElogio Aos Errantes RIFernanda Stenert100% (2)
- Carta Sobre o Humanismo HeideggerDocument37 pagesCarta Sobre o Humanismo Heideggerana lilian marchesoni parrelli100% (2)
- Dicionário Da CidadeDocument9 pagesDicionário Da CidadeLélia VilelaNo ratings yet
- Thomaz Mitchell Com Marcas2Document17 pagesThomaz Mitchell Com Marcas2Lélia VilelaNo ratings yet
- DERRIDA, J. Adeus A Emmanuel Lévinas PDFDocument71 pagesDERRIDA, J. Adeus A Emmanuel Lévinas PDFLélia Vilela100% (1)
- Atlas SinteseDocument21 pagesAtlas SinteseLélia VilelaNo ratings yet
- Tese FranklinDocument142 pagesTese FranklinLélia VilelaNo ratings yet
- As Vantagens de Ser CartesianoDocument4 pagesAs Vantagens de Ser CartesianoLélia VilelaNo ratings yet
- A Escrita de Um Corpo Sem ÓrgãosDocument12 pagesA Escrita de Um Corpo Sem ÓrgãosLélia VilelaNo ratings yet
- Carta Sobre o Humanismo HeideggerDocument37 pagesCarta Sobre o Humanismo Heideggerana lilian marchesoni parrelli100% (2)
- BLANCHOT, Maurice - O Instante Da Minha MorteDocument15 pagesBLANCHOT, Maurice - O Instante Da Minha MorteDiogo CardosoNo ratings yet
- Nancy - 58 Indícios Sobre o CorpoDocument16 pagesNancy - 58 Indícios Sobre o CorpoMiguel Pinto100% (1)
- Emprego Das Classes de PalavrasDocument56 pagesEmprego Das Classes de PalavrasFernando SantiagoNo ratings yet
- Odis11 NL1 Teste Avaliacao CCDocument2 pagesOdis11 NL1 Teste Avaliacao CCAna EstevesNo ratings yet
- Teatro SecXXDocument20 pagesTeatro SecXXBiblioteca Escolar - ESDGMNo ratings yet
- Testeco1 - 7ºanoDocument2 pagesTesteco1 - 7ºanoDora SilvaNo ratings yet
- Terapia cognitivo-comportamental e transtornos alimentaresDocument22 pagesTerapia cognitivo-comportamental e transtornos alimentaresCarla Cristina de SouzaNo ratings yet
- Portas de inspeção para dutos de arDocument5 pagesPortas de inspeção para dutos de arjeffersonNo ratings yet
- Paleontologia e Paleoecologia Dos Moluscos Do Cretáceo Superior Da Formação Jandaíra, Bacia PotiguarDocument1 pagePaleontologia e Paleoecologia Dos Moluscos Do Cretáceo Superior Da Formação Jandaíra, Bacia PotiguarCarlos AlvesNo ratings yet
- Relatório de Inspeção Da Casa de Bombas - DEXCO - UBERABA 21.12.22Document8 pagesRelatório de Inspeção Da Casa de Bombas - DEXCO - UBERABA 21.12.22REMONATO ENGENHARIANo ratings yet
- Os Lusiadas PowerpointDocument29 pagesOs Lusiadas PowerpointAnonymous EzNWKWak100% (2)
- Africa21 N115 Fev2017Document84 pagesAfrica21 N115 Fev2017John LunhumaNo ratings yet
- Macbook Air 13 Preço $300 Ou Mais No ParaguaiDocument1 pageMacbook Air 13 Preço $300 Ou Mais No ParaguaiEnzo PassarinhoNo ratings yet
- O paradigma indiciário segundo Carlo GinzburgDocument3 pagesO paradigma indiciário segundo Carlo GinzburgElitePoa RsNo ratings yet
- Desenvolvimento Social: Conselho Estadual de Assistência SocialDocument1 pageDesenvolvimento Social: Conselho Estadual de Assistência SocialUsuário GeralNo ratings yet
- Estudo de Caso LIBRASDocument2 pagesEstudo de Caso LIBRASElisangela Moura NR PromotoraNo ratings yet
- MSP - Ventilador 678 PDFDocument69 pagesMSP - Ventilador 678 PDFjaoNo ratings yet
- Plantar+Orga Nico+-+mo Dulo+02Document38 pagesPlantar+Orga Nico+-+mo Dulo+02rouninnNo ratings yet
- 2 Problemas Ambientais Globais PDFDocument89 pages2 Problemas Ambientais Globais PDFRomildo JuniorNo ratings yet
- Perdas e Eficiência de Um TrafonsformadorDocument12 pagesPerdas e Eficiência de Um TrafonsformadorMarceloNo ratings yet
- Receita Sertralina.1Document3 pagesReceita Sertralina.1Pedro FernandesNo ratings yet
- Etapa 3 - Desenvolver - Fichas de Entrega AICDocument4 pagesEtapa 3 - Desenvolver - Fichas de Entrega AICIsabela Souza AlvesNo ratings yet
- Comunicação Interna e Engagement: Mariana BlancDocument77 pagesComunicação Interna e Engagement: Mariana BlancBárbara CostaNo ratings yet
- Atividade de Revisao 2 Serie 3 Trim (1) 2Document3 pagesAtividade de Revisao 2 Serie 3 Trim (1) 2qandaNo ratings yet
- 6 - EXAMES COMPLEMENTARES-semiologiaDocument25 pages6 - EXAMES COMPLEMENTARES-semiologiaCristiane Santos100% (1)
- Conteúdo Lutas - 2º Ano Ifal PDFDocument83 pagesConteúdo Lutas - 2º Ano Ifal PDFMarcos André Rodrigues Da Silva JúniorNo ratings yet
- Autodiagnóstico de AssertividadeDocument8 pagesAutodiagnóstico de AssertividadeAna Vanessa100% (1)
- I Conferência Promoção Saúde Ottawa 1986Document8 pagesI Conferência Promoção Saúde Ottawa 1986Nayara OliveiraNo ratings yet
- Formação Catequistas PDFDocument38 pagesFormação Catequistas PDFLuiz EduardoNo ratings yet
- Feminismo e lavagem cerebralDocument16 pagesFeminismo e lavagem cerebralWalyson de SousaNo ratings yet
- Motivação e desempenho públicoDocument202 pagesMotivação e desempenho públicoLuciano da SilvaNo ratings yet
- Reflexão Ufcd 0703Document2 pagesReflexão Ufcd 0703Ana Rosa AzulNo ratings yet