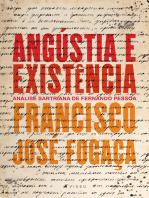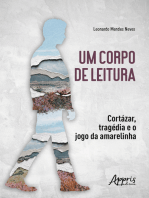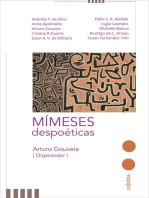Professional Documents
Culture Documents
Tese Franklin
Uploaded by
Lélia VilelaOriginal Description:
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Tese Franklin
Uploaded by
Lélia VilelaCopyright:
Available Formats
Universidade Federal Fluminense
Instituto de Letras
Programa de Ps-graduao em Letras
Doutorado em Literatura Comparada
Linha de Pesquisa: Perspectivas tericas nos estudos literrios
CENAS E CENRIOS DA DOENA NA LITERATURA
Franklin Alves Dassie
Niteri
2011
FRANKLIN ALVES DASSIE
Cenas e cenrios da doena na literatura
Tese apresentada ao Programa de Ps-Graduao
em Letras da Universidade Federal Fluminense,
como requisito parcial para a obteno do ttulo
de Doutor em Letras. rea de concentrao:
Estudos Literrios. Subrea: Literatura
Comparada.
Orientadora: Prof
a
. Dr
a
. Paula Glenadel
Niteri
2011
FRANKLIN ALVES DASSIE
Cenas e cenrios da doena na literatura
Tese apresentada ao Programa de Ps-Graduao
em Letras da Universidade Federal Fluminense,
como requisito parcial para a obteno do ttulo
de Doutor em Letras. rea de concentrao:
Estudos Literrios. Subrea: Literatura
Comparada
APROVADA EM FEVEREIRO DE 2011.
BANCA EXAMINADORA
__________________________________________________________________
Prof
a
. Dr
a
. Paula Glenadel - Orientadora
Universidade Federal Fluminense
___________________________________________________________________
Prof. Dr. Eduardo Sterzi
Fundao Armando lvares Penteado (FAAP)
___________________________________________________________________
Prof. Dr. Manoel Ricardo de Lima
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
___________________________________________________________________
Prof. Dr. Marcelo Jacques de Morais
Universidade Federal do Rio de Janeiro
__________________________________________________________________
Prof
a
. Dr
a
. Diana Klinger
Universidade Federal Fluminense
___________________________________________________________________
Prof
a
. Dr
a
. Maria Elizabeth Chaves de Mello - Suplente
Universidade Federal Fluminense
___________________________________________________________________
Prof. Dr. Andr Rangel Rios Suplente
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
NITERI
2011
Em memria de Joana Alves Pereira
AGRADECIMENTOS
A minha orientadora, Paula Glenadel, pela dedicao e pacincia sempre amorosa, e por
acreditar nesse trabalho.
Ao meu irmo, Bruno, por ser meu amigo, e aos meus amigos Amanda, Andr Luiz,
Ana Paula, Bianca Justiniano, Carlito, Daniel Chomski, Daniel Ennes, Eduardo
Pantaleo, Flavio, Leonardo e Pri Buhr, por serem meus irmos.
Aos professores Marcelo Jacques e Luiz Fernando de Medeiros pela conversa que
tivemos na minha banca de qualificao.
Aos professores Eduardo Sterzi, Manoel Ricardo de Lima, Marcelo Jacques e Diana
Klinger, por terem aceitado nosso convite.
Aos funcionrios da Secretaria de Ps-Graduao em Letras da UFF, pela eficincia e
carinho de sempre.
Ao CNPq, que tornou possvel a realizao desse trabalho.
RESUMO
Neste trabalho fiz uma anlise crtico-interpretativa das relaes entre a experincia da doena e
a literatura nas obras de Csar Aira, Gonalo M. Tavares, Paul Auster e Sebastio Uchoa Leite,
com o objetivo de investigar a maneira como cada um desses autores encenou aquela
experincia. Atravs das noes de cena e cenrio, identifiquei a recorrncia de certas imagens
as de janelas e portas e as relacionei com a experincia da morte, figurada a partir de outra
noo, a do limiar. Esse caminho tornou possvel a discusso da escritura como lugar da
figurao da subjetividade (as cenas da doena), do espao como elemento onde tal processo
acontece (os cenrios da doena) e, sobretudo, da compreenso da literatura como um impulso
de vida.
PALAVRAS-CHAVE: doena, literatura, contemporaneidade.
ABSTRACT
In this paper I did a critical-interpretative analysis of the relationship between illness and
literature in the works of Cesar Aira, Gonalo M. Tavares, Paul Auster and Sebastio Uchoa
Leite, aiming to investigate how each of these writers has interpreted that experience. Through
the notions of scene and scenario, I have identified the recurrence of certain images windows
and doors and made a relation between them and the experience of death, illustrated from
another notion, of the threshold. This choice made possible to place the discussion of writing as
the figuration of subjectivity (the scenes of the illness), as part of the space where this process
happens (the scenarios of disease), and especially the understanding of literature as a vital
lifeline.
KEY-WORDS: illness, literature, contemporaneity.
SUMRIO
INTRODUO, p. 09
CAPTULO UM: O PROBLEMA, p. 17
Um corpo transparente, p. 18
A dupla cidadania, p. 24
Csar Aira e o Diario de la hepatis, p. 42
CAPTULO DOIS: CENAS, p. 58
Leituras, cenas, p. 59
Sebastio Uchoa Leite e a descoberta da doena, p. 73
Gonalo M. Tavares e a percepo do corpo, p. 83
CAPTULO TRS: CENRIOS, p. 92
Espaos e direes privilegiadas, p. 93
Quartos, escritrios, p. 101
Limiares, estar por um fio, p. 111
CONCLUSO, p. 131
BIBLIOGRAFIA, p. 138
9
INTRODUO
Escrevi pela primeira vez sobre a doena na parte final (A doena, os espaos)
de um dos ensaios que dediquei obra de um poeta contemporneo
1
. Articulei a a
doena que aparece de forma significativa em seus ltimos quatro livros com o
espao, identificando como esta relao uma relao incerta: desde as quedas, que
sugerem a descoberta da doena, at as internaes em unidades e centros de tratamento
intensivo, que definiram a fase mais radical da doena nesse autor. Interessante, assim,
foi a identificao de alguns dos espaos da doena salas de espera, quartos de
1
Falo da minha dissertao de mestrado, Sebastio Uchoa Leite: potica, vozes e espaos, que foi
orientada pela professora Celia Pedrosa e defendida em maro de 2007. Nela investigo como a imagem
do duplo (desdobrada na reflexo sobre a escritura, na figurao da subjetividade e na configurao dos
espaos) pode ser uma noo interessante para a leitura da obra de Sebastio.
10
hospital e as respectivas unidades e centros como zonas limiares: espaos da abertura
e, ao mesmo tempo, do fechamento, capazes de dialetizar a relao entre interior e
exterior. Identifiquei que este movimento foi encenado atravs de uma experincia
reflexiva do olhar da uma srie de referncias ao sair do corpo, ao espiar-me, ao
especular-me e ao ver-me. E, ainda, pela recorrncia e importncia das imagens de
portas e janelas na obra, que se relacionavam, por sua vez, com a imagem do outro lado
(que, ao contrrio da diviso que ela parece reivindicar, encena um movimento entre
interior e exterior). As duas estratgias de encenao a identificadas o olhar reflexivo
e as portas e janelas se articulam com a experincia de estar por um fio: doente, ele sai
do corpo, v-se quase morrendo (ele espectador e, ao mesmo tempo, protagonista
desta ao), mas a passagem (para o outro lado) no acontece.
Algumas das noes com as quais penso a doena foram, portanto, desdobradas
da parte final deste ensaio. Ensaio que foi um tipo de limiar fechamento de uma
escritura que, paradoxalmente, abria uma outra. Este aspecto pode ser ressaltado a partir
mesmo de versos do ltimo poema do ltimo livro deste poeta: Muss es sein? Es muss
sein / ( preciso? preciso). A pergunta, que no pergunta nada, e a resposta, que nada
responde, so as anotaes que Beethoven fez na partitura de uma de suas composies.
Ningum sabe o que ele quis dizer, uma vez que a indeterminao atravessa tanto a
pergunta quanto a resposta do msico. Como ltimo poema do livro, seria comum
esperar que ele fechasse o livro, mas isto no acontece h, ao contrrio, a figurao de
uma abertura, melhor dizendo, h um movimento que reenvia o leitor ao comeo do
livro, numa tentativa de rasura de uma legibilidade talvez alcanada. Escrever um
possvel fechamento reenviou-me, ento, para o comeo das anlises da doena, ou seja,
aquilo que foi desenvolvido abriu-me outra vez a oportunidade de pensar a experincia
patolgica. A parte final do ensaio que, diretamente, se relacionava com uma idia de
11
fim, da experincia da morte, da concluso da vida, (a doena, o estar por um fio, a
passagem para o outro lado) foi, na verdade, um impulso de vida.
Esse impulso foi atravessado pelas reflexes de Susan Sontag em A doena
como metfora. A leitura dele aconteceu um pouco antes da identificao dos poemas
da doena como corpus de anlise do trabalho. No fui, a princpio, buscar no livro um
repertrio analtico para a escritura, mas, por curiosidade, uma compreenso da
experincia da doena. E o mais interessante, numa primeira leitura, foi a perspectiva de
pensar a doena no como uma forma de auto-expresso do carter da pessoa, ou seja,
de no validar as explicaes psicolgicas dela o cncer, por exemplo, no seria
causado pelas emoes que o doente reprimiu ao longo de sua vida
2
. Nas palavras de
Sontag: A interpretao psicolgica abala a realidade fsica de uma doena. Tal
realidade tem que ser explicada. E mais adiante: As teorias psicolgicas so um meio
poderoso de por a culpa no doente (Sontag, 1984: 71, 73). Esvaziar a doena de
significados, numa tentativa de repudiar as explicaes psicolgicas (psicologizantes)
foi mesmo um dos objetivos que levaram Sontag a escrever A doena como metfora,
que pode ser considerada uma exortao, uma advertncia. Interessante que o livro
no foi escrito em primeira pessoa, na forma de um relato autobiogrfico da sua prpria
doena: Parecia que uma narrativa seria menos til do que uma idia. Para os prazeres
da narrativa, eu recorreria a outros escritores, afirma ela noutro momento (Sontag,
2007: 97). A estratgia de convocar outros escritores fez com que A doena como
metfora fosse atravessado por representaes da doena de pocas e naturezas
2
Sontag assertiva e irnica quanto a esta postura: Apoiando a teoria sobre as causas emocionais do
cncer h uma florescente literatura e um exrcito de pesquisadores. E raramente se passa uma semana
sem que aparea um novo artigo anunciando ao pblico a ligao cientfica entre o cncer e os
sentimentos dolorosos. So mencionadas investigaes a maioria dos artigos se refere sempre s
mesmas investigaes em que, entre, digamos, algumas centenas de cancerosos, dois teros ou trs
quintos declaram ter estado deprimidos ou insatisfeitos com suas vidas, ter sofrido com a perda (pela
morte, rejeio ou separao) de um parente, amante, cnjuge ou amigo ntimo. Mas parece provvel que,
de algumas centenas de pessoas que no tm cncer, a maioria tambm declara ter tido emoes
depressivas e traumticas: a isso se chama condio humana (Sontag, 1984: 66).
12
diversas. Isso foi importante, sobretudo, pelas anlises que Sontag fez da idia
romntica de atraente vulnerabilidade, gesto que consistiu no culto tuberculose a
aparncia de doente algo glamoroso e das relaes entre ela e a noo de doena
individual. A dupla cidadania e as reflexes sobre a cena romntica foram aspectos
significativos numa segunda leitura, no mais determinada pela curiosidade, porm
sobre aquilo que capaz de ampliar a compreenso dos fenmenos da escritura.
Por outro lado, antes de justificar a importncia da experincia patolgica nas
reflexes sobre os procedimentos de subjetivao, um outro acontecimento que me
motivou ainda mais foi a leitura do relato de David Rieff sobre o convvio com a me
Susan Sontag nos ltimos nove meses de sua vida
3
. A narrativa, em primeira pessoa,
focaliza, sobretudo, a possibilidade e os riscos de um transplante de clulas-tronco na
tentativa de impedir o avano da sndrome mielodisplstica, um tipo de cncer que
quase nunca regride. A operao, como era de esperar, no foi bem-sucedida, a tal ponto
que, nas palavras de David, quando [ela] morreu, seu corpo, virtualmente do interior da
boca at a sola dos ps, estava coberto de feridas e hematomas (Rieff, 2008: 4). Houve
uma identificao minha com algumas das situaes narradas em Mar de muerte.
Dentre elas, uma em especial, a que tem relao direta com a escritura: E, durante
muito tempo depois da morte dela, acreditei que no escreveria nada (Idem, ibidem: 5).
Esse movimento entre fechamento (no escrever) e abertura (escrever um livro)
justificado assim por David:
Ainda acredito que no o teria feito se tivesse conseguido me despedir
adequadamente de minha me. No estou falando sobre o que, nos EUA,
chamado de closure [encerramento], a idia de que existe alguma maneira de
3
RIEFF, David. Mar de muerte. Barcelona: Randon House Espanha, 2008. O ttulo original do livro
Swimming in a sea of death a sons memoir.
13
passar um trao psicolgico embaixo de um acontecimento e, como diz a
expresso, seguir em frente. No acredito que exista essa coisa, e, se houver,
no est ao meu alcance. Mas no finjo que servi a algum exceto a mim
mesmo. As memrias, como os cemitrios, so para os vivos (Idem, ibidem: 6).
A escritura impulsionada por uma despedida que no ir acontecer: ou porque
se despedir de algum que acredita na possibilidade de recuperao e, portanto, de viver
uma coisa bastante complicada, ou porque nunca possvel saber se uma despedida
ser mesmo a ltima
4
. Mas esta ausncia uma espcie de interlocutor , que justifica a
realizao da escritura, no ser uma forma de apagar ou dar um fim ao acontecimento
traumtico. Escrever no aquilo que ele chama de closure. Escrever, apesar de ser
motivado pela despedida que no aconteceu, no um gesto capaz de substituir a
despedida que no aconteceu. Posso dizer que tal movimento paradoxal, de escrever
para se despedir e no se despedir, desdobrado da tenso entre no escrever nada e
escrever um livro, uma das foras que atravessaram minhas reflexes. Fora que, por
um lado, deu vida ao que estaria, ento, fechado pelas circunstncias e no penso aqui
em causa, ou origem, mas em motivao. Fora que, por outro, fui capaz de localizar
nas cenas da doena haver sempre uma pessoa se despedindo de outra, observando o
avano da doena, esperando a chegada da morte e tudo isto estar, sempre,
acontecendo na escritura, interminavelmente.
A ampliao do corpus a possibilidade de analisar no apenas as obras em que
a experincia da doena autobiogrfica configurou-se, a princpio, como um
problema. Isto por causa da abertura de horizontes, no sentido de repertrio, que a ela
4
Norbert Elias, no stimo captulo de A solido dos moribundos, analisa o desconforto peculiar que
dizer alguma coisa para aqueles que esto morrendo. Segundo ele, o embarao bloqueia as palavras,
falta espontaneidade nestas situaes e as formas seculares tradicionais de expresso so pouco
convincentes (Elias, 2001: 31-37).
14
tornou possvel: a doena uma experincia que atravessa direta, ou indiretamente, uma
srie de obras ela uma experincia citvel, reivindicada entre os mil focos da
cultura que configuram a escritura como espao de dimenses mltiplas (Barthes,
2004: 62). Entre escolher uma ou duas obras dentre uma srie que poderia comear
em dipo Rei, passar pela Montanha mgica e terminar em Noites felinas , escolhi
algumas delas. Antes de eleger uma obra, ou a obra de um autor, porque mais exemplar
(uma vez que nelas poderia localizar todas as experincias reivindicadas pelas noes de
cena e cenrio), preferi identificar uma ou mais experincias em cada uma das obras
os acontecimentos patolgicos, sejam eles autobiogrficos ou no, foram percebidos
ento levando em conta sua intensidade figurada. Pensar a questo da intensidade da
figurao das experincias aproximar esses autores atravs da maneira como eles
enfrentam o contemporneo e, enfim, pela compreenso parecida que eles tm das
relaes entre a experincia da doena e a escritura
5
.
Acredito, assim, que me afasto de uma compreenso estratificada de corpus,
observvel, por exemplo, nas noes jurdicas do corpus juris canonici e corpus juris
civilis compilao de leis do direito eclesistico e do direito cannico romano. A
compreenso de corpus que convoco aproxima-se da acepo lingstica da palavra,
definida como um conjunto de enunciados numa determinada lngua, geralmente
colhidos de atos reais de fala, que servem como material para anlise lingstica
6
. A
noo de enunciado sugere ento uma idia de movimento, ou de uso, que as noes
dos cdigos jurdicos no sugerem um enunciado um acontecimento e no uma lei
7
.
A partir da concepo fisiolgica de corpus, que a entende como um conjunto de rgos
5
Quase todos os autores do corpus esto vivos e continuam publicando. So eles: Csar Aira (Buenos
Aires, 1949), Gonalo M. Tavares (Angola, 1970), Paul Auster (Nova Jersey, 1947) e Sebastio Uchoa
Leite (Recife, 1947-RJ, 2003).
6
Dicionrio Houaiss da Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001.
7
Lembro do interesse de Deleuze pela jurisprudncia, que seria a adaptao das leis s situaes de fato,
e do desprezo dele pela lei: O que me interessa no a lei nem as leis (uma um noo vazia, e as outras
so noes complacentes), nem mesmo o direito ou os direitos, e sim a jurisprudncia. a jurisprudncia
que verdadeiramente criadora de direito (Deleuze, 2007: 209).
15
com funes predeterminadas, lembro de outra definio interessante, proposta por
Jean-Luc Nancy em 58 indicios sobre el cuerpo:
Corpus: um corpo uma coleo de peas, de pedaos, de membros, de zonas,
de funes. Cabeas, mos e cartilagens, queimaduras, suavidades, esguichos,
sonhos, digesto, apavoramentos, excitao, respirar, digerir, reproduzir-se,
saliva, lquidos, tores, cimbras e marcas. uma coleo de colees, corpus
corporum, cuja unidade continua sendo uma pergunta para ela mesma (Nancy,
2007: 23).
Quando define assim o corpus, Jean-Luc, numa clara referncia ao corpo sem
rgos de Artaud, investe de outras foras o que se configuraria como organizao, um
organismo um corpus uma coleo, uma prtica, a histria de seus usos. Quando
convoco o entendimento do corpus como enunciado e coleo de colees, desejo
que as noes de cena e cenrio sejam animadas pelas obras e, ao mesmo tempo, que as
animem. Afasto-me, entre outras coisas, da escritura como segundo diagnstico
examina-se uma obra, buscando veracidade e identificao atravs de pactos de leitura
(a lei ao invs da jurisprudncia). Ao solicitar esta compreenso, figuro uma abertura
que torna possvel a relao das obras a partir de foras diferentes, afastando-me de
noes genricas e historicistas que, de certa maneira, tomam posse da escritura a partir
de normas, leis e datas. Porm, em nenhum momento, desejo uma leitura anarquizante
que, de forma romntica, pretenda destruir qualquer possibilidade de formao de
sentidos. No fora do corpus juris que inscrevo minha leitura, mas dentro dele,
pensando nas leis adaptadas s situaes de fato, enfim, como a jurisprudncia as
compreende. Pretendo ento montar colocar em jogo uma coleo de peas
articulveis, onde cada uma delas ilumina a outra, complementando as leituras.
16
Cada obra encena um acontecimento uma experincia de escrita, uma maneira
de habitar os espaos e isto se apresenta como uma deixa, ou vrias delas, uma
sugesto de leitura. A partir da figura da porta na interpretao talmdica, imagino a
deixa como uma chave que , ao contrrio da condio tradicional absoluta, capaz de
abrir, no todas, porm mais de uma porta da casa. Uma deixa que, ao relacionar as
obras, anima as noes de cena e cenrio, em outras palavras, capaz de abri-las, de
ilumin-las, tornando possvel, assim, uma leitura menos abstrata. Ensaio a entrada de
cada obra como uma narrativa que se encontra aberta a localizao de outras deixas
de outras chaves , podendo sugerir uma reorganizao diferente de cada entrada.
Figurada como um ensaio, a minha leitura identifica uma experincia, que se apresenta
ento com mais intensidade, e anota a localizao das outras portas.
17
CAPTULO UM: O PROBLEMA
18
A ltima gerao dos filsofos: os doentes
Gonalo M. Tavares
1. 1. Um corpo transparente
Susan Sontag, no livro A doena como metfora, ao comentar a promoo da
personalidade como imagem, fato que ela localiza na romantizao da tuberculose no
sculo dezenove, lembra de uma frase de Thophile Gautier. Ele disse que quando era
jovem no poderia aceitar como poeta lrico quem estivesse pesando mais que noventa
e nove libras (Sontag, 1984: 41). Uma libra, unidade de massa utilizada no sistema
ingls de pesos e medidas, equivale a quase meio-quilo esse poeta deveria, ento,
pesar menos de cinquenta quilos. Sontag destaca a expresso poeta lrico usada por ele,
segundo ela, talvez conformado com o fato de que os romancistas tinham de ser feitos
de matria mais rstica e pesada (Idem, ibidem). A anedota diz respeito a uma atitude
generalizada de transformar o aspecto doentio da tuberculose em modelo de beleza,
numa espcie de atraente vulnerabilidade ter a aparncia de doente era algo sedutor.
Mas a anedota poderia, tambm, ser lida como uma definio do gnero lrico, uma
definio que utilizasse como critrio principal a aparncia do poeta menos de
cinquenta quilos, poeta lrico. A possibilidade da existncia de uma classificao
genrica a partir da aparncia de algum parece inapropriada (um contra-senso, pode-se
dizer), mas ela no deixa de corresponder a uma imagem de poeta a de algum doente,
19
tuberculoso ou no, que morre cedo e com uma morte quase redentora: o corpo
dissolvido, a personalidade eterificada e a conscincia expandida.
A compreenso do poeta, a partir da idia de fragilidade (um corpo que pesa
menos de cinquenta quilos), desdobra-se em querer saber qual o motivo da peculiar
exigncia e/ou afirmao de Gautier. Por um lado, sabe-se que para os romnticos a
doena era uma maneira de tornar a pessoa interessante que como romntico foi
originalmente definido (Idem, ibidem: 42). A tuberculose era considerada uma forma
de promoo da pessoa, uma forma de individualiz-la entre tantas outras, de torn-la
mais inteligente, mais sedutora. A afirmao da personalidade atravs da imagem, que
experincia da doena torna possvel, est, portanto, num horizonte de expectativas da
configurao romntica da singularidade. Hegel, na Esttica, numa espcie de sntese da
potica romntica, define o contedo da poesia lrica como a maneira como a alma
com seus juzos subjetivos, alegrias e admiraes, dores e sensaes, toma conscincia
de si mesma no mago deste contedo (Hegel, 1999: 608). possvel, a partir da
afirmao de Hegel, afirmar que o lirismo a expresso dos sentidos e estados da alma
do poeta, que manifesta numa espcie de introspeco meditativa a interioridade
antes da representao do mundo objetivo e exterior o poema seria uma forma de
apresentar, ou de exteriorizar, uma experincia muito particular. A exigncia de Gautier
e a definio de Hegel e, sobretudo, as leituras e os desdobramentos delas, configuraram
uma imagem do poeta lrico e do lirismo que se transformou em lugar-comum.
Uma das acepes de lrico diz o seguinte: aquilo que constitui uma expresso
tica e dramtica do sentimento. J lirismo, no mesmo dicionrio, alm de significar a
tendncia literria que privilegia a subjetividade e as formas que deixam transparecer o
estado de alma do autor, diz respeito ao carter subjetivo ou romntico da arte em
20
geral
8
. As palavras-chave so sentimento e subjetividade, como se elas fossem capazes
de definir, perfeitamente, a experincia lrica. Mais interessante, porm, aquilo que
tais definies sugerem. Por um lado, que lirismo uma caracterstica que pode ser
encontrada na arte em geral, e no apenas no gnero potico
9
. H, ainda, uma
equivalncia problemtica entre subjetivo e romntico, uma aproximao, pode-se dizer,
bastante redutora. Por outro lado, as acepes sugerem uma compreenso do lirismo
como aquilo que transparece do estado de alma do autor. E se transparece, imagina-
se, pelo significado do verbo, que a obra do poeta lrico condiz, de maneira
transparente, com seus sentimentos lembre-se que a tuberculose era diagnosticada,
sobretudo, a partir das imagens radiogrficas, que permitiram, pela primeira vez, que o
interior do paciente fosse observado o corpo tornar-se-ia, assim, transparente.
H uma possibilidade de leitura que acompanharia, quase sem problematizao,
as relaes entre aquele corpo frgil, de aparncia doentia, e os poemas que foram
escritos por ele parece no haver nenhuma distncia entre a doena real e a doena
escrita: aquela no seria encenada no poema, uma vez que ele seria uma espcie de
pronturio potico. No apenas a doena, mas tambm, segundo a formulao de Hegel,
as admiraes, as alegrias e as sensaes transparecem no poema, que pode ser
considerado um repositrio de sentimentos. Uma conseqncia dessa leitura seria,
portanto, a neutralizao do aspecto dramtico do autor como um fazedor de cena ,
no sentido de dramatizao ou encenao, do poema. E, assim, as palavras-chave para a
compreenso do lirismo seriam autenticidade e verdade: quanto mais potico, mais
verdadeiro, disse Novalis. A aparncia de doente plido e mirrado, pesando menos de
8
Dicionrio Houaiss da Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001.
9 Emil Staiger, em Conceitos fundamentais da Potica, no fala em gnero lrico, pico ou dramtico,
mas em estilo lrico, pico e dramtico. Estas palavras, ou conceitos, no funcionam mais como
substantivos, elas so agora palavras modificadoras, enfim, funcionam como adjetivos. H uma idia
lrica, um tom lrico, um clima lrico, segundo as expresses utilizadas por Staiger, e no mais o gnero
lrico. Nesse sentido, tal adjetivo pode, alm de definir um gnero, qualificar/definir um pensamento, um
lugar, ou at mesmo o estado de uma pessoa. Staiger chega mesmo a afirmar que os gneros referem-se
a algo que no pertence somente Literatura (Staiger, 1972).
21
cinquenta quilos seria ento um sintoma (uma prova mdica) que ajudaria na
interpretao da obra do poeta-doente. A doena poder, ento, ser duplamente
diagnosticada tanto pelos mdicos, atravs de investigaes rigorosas, quanto pelos
leitores, atravs da articulao interessada da obra com a biografia.
A relao de transparncia entre obra e autor, e as noes de verdade e
autenticidade, como fundamentais na compreenso do poema, so os desdobramentos
de uma teoria expressiva da arte teoria que se apresentou, com mais fora, na esttica
romntica, mas que j estava esboada em algumas poticas clssicas e neoclssicas. A
questo se colocou em torno do papel desempenhado pelo elemento emotivo na arte
potica. Horcio diz que no basta serem belos os poemas, tm de ser emocionantes,
uma vez que se me queres ver chorar, tens de sentir a dor primeiro tu. Quintiliano,
leitor de Horcio, dizia que o principal requisito para mover o sentimento dos outros
que ns mesmos estejamos comovidos. Em The mirror and the lamp, ao comentar
estas passagens, H. M. Abrams afirma que tal estado oportuno de sentimento era um
dos diversos meios artificiais pelo qual o poeta recorreria para impressionar seus
leitores. Abrams lembra ento de Boileau, que na sua potica diz que o segredo
consiste, em primeiro lugar, em agradar e emocionar, inventar recursos que possam me
atrair. A regra principal comover os leitores, estando comovido mas o estar
comovido um artifcio. A idia da emoo como essncia da poesia tambm fez parte
da esttica romntica. Houve, no entanto, como mostrou Abrams, uma substituio
importante no romantismo, a encenao dos sentimentos d lugar espontaneidade
(Abrams, 1972: 111). Era preciso estar mesmo comovido: as emoes do poetas seriam,
portanto, sinceras e no encenadas era necessrio ser verdadeiro.
A expressividade ser assim a principal caracterstica do gnero lrico, mas uma
expressividade sincera. Novalis define a poesia como a representao do esprito, do
22
mundo interior em sua totalidade, e as palavras como a revelao externa desse reino
interior. A definio de Wordsworth vai alm: toda boa poesia caracterizada como
um espontneo transbordar do sentimento a expressividade, alm de definir o
gnero, considerada um valor (Wordsworth apud Abrams, 1972: 147). Definida como
expresso dos sentimentos do mundo interior-subjetivo ao contrrio da representao
do mundo exterior-objetivo , a poesia lrica e quase toda a crtica romntica elegem o
autor como centro de significao do poema a expresso seria chamada de auto-
expresso. H, ento, consequncias importantes. Em primeiro lugar, o uso dos termos
objetivo e subjetivo como aspectos capazes de definir, e valorar, os gneros poticos a
lrica a forma subjetiva, a epopeia definida como pura objetividade e o drama
considerado uma composio de lugar intermedirio. Uso que, por sua vez, permite e,
at mesmo sugere, uma compreenso dicotmica da obra potica: subjetivo ou objetivo,
interno ou externo, dentro ou fora. Em segundo lugar, a excelncia da figura do autor e
a consequente idia da verificao que ela ir convocar ler uma obra para encontrar o
autor nela ou, ao contrrio, examinar o autor para explicar a obra, caminhos um pouco
distintos, mas capazes de neutralizar a encenao de experincias pessoais.
Esse tipo de leitura aproximar-se-ia de uma compreenso psicolgica da doena.
Acreditou-se, no sculo dezenove, que a doena exprimia era a manifestao do
carter do doente, enfim, que ela era um produto da vontade. Sontag explica isso da
seguinte maneira: A doena a vontade falando atravs do corpo, uma linguagem para
a dramatizao do mental, uma forma de auto-expresso (Sontag, 1984: 58). Georges
Groddeck, importante mdico alemo, no comeo do sculo passado, descreveu a
doena numa descrio que poderia ter sido escrita no sculo dezenove, uma vez que
para ele a doena tambm era produto da vontade como um smbolo, uma
representao de algo que se passa no interior (Groddeck apud Sontag, 1984: 58).
23
Estas definies da doena aproximam-se das definies do lirismo, e essa aproximao
colaboraria, em certo sentido, nas leituras que acreditam que a obra seria um sintoma
uma manifestao da personalidade do autor (auto-expresso e representao do
interior so termos encontrados nas definies do gnero lrico). A experincia da
doena poderia ser considerada assim um dos principais temas da poesia lrica.
A reivindicao de uma compreenso romntica da escritura ser retomada nos
sculos seguintes, sobretudo, de duas maneiras. Por um lado, essa noo de escritura
exigida em leituras que a compreendem como documento, recorrendo assim a
procedimentos que pacificam no sentido de simplificar, de tornar transparente a
relao da experincia da doena com o texto, que seria um espao de verificaes. Por
outro, essa compreenso romntica reivindicada como uma experincia citvel as
imagens romnticas da doena atravessam as representaes dessa experincia, porm
so contaminadas pela ironia. Ironia encontrada em A montanha mgica e que se volta
para Hans Castorp, quando contrai a tuberculose e, como diz Sontag, espiritualmente
submetido a um processo de refinamento atravs da doena Mann faz um comentrio
sobre a capacidade da doena dos artistas tornar o burgus um sujeito sofisticado e
interessante (Sontag, 1984: 46). Ironia que atravessa tambm as representaes da
doena na obra de Kafka, que explica assim a satisfao de encen-la e como faz isso:
me comprazo de morrer na pessoa do moribundo, exploro de maneira bem calculada a
ateno do leitor concentrada na morte. Comover, estando comovido, mas esse estar
comovido uma cena: minha queixa to perfeita quanto possvel (Kafka apud Didi-
Huberman, 1998: 251). A ironia uma estratgia discursiva que possibilita ento
reivindicar a imagem romntica da doena como experincia citvel e, assim, afastar-se
das leituras que a compreendem como auto-expresso sincera.
24
1. 2. A dupla cidadania
Esta vida um hospital onde cada enfermo vive ansioso por mudar de leito.
Charles Baudelaire
A vida dos indivduos , desde a origem, reduo dos poderes da vida.
Georges Canguilhem
Uma definio bsica de doena afirma que ela uma alterao biolgica do
estado de sade de um ser seja ele qual for manifestado por um conjunto de
sintomas perceptveis ou no. Isto ir pressupor que existe um estado corporal saudvel
modificado pelo aparecimento da doena, que, independente da sua natureza, altera
aquilo que at ento funcionava bem. A definio da doena como alterao ou como
adulterao do estado de sade sugere que a experincia patolgica seja um
acontecimento configurado como desvio de um comportamento normal, uma
experincia apresentada como exceo. A sade pode ser considerada, assim, regra,
modelo de um corpo isento de defeito, erro ou falha. A definio de sade, no mesmo
dicionrio
10
, diz que ela um estado de equilbrio entre o organismo e seu ambiente, o
qual mantm as caractersticas estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites
normais e, ainda, um estado de boa disposio fsica e psquica. A doena seria
segundo a mesma lgica a alterao do estado de equilbrio, uma perturbao da
10
As definies de doena e sade so do Dicionrio Houaiss da Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro,
2001, p. 1070 e p. 2525-6 respectivamente.
25
boa disposio do organismo. Da, entre outras coisas, a compreenso, em certo
sentido naturalizada, da doena como um estado contrrio ao estado de sade a
doena uma experincia que se apresenta, portanto, de forma negativa: alterao de
equilbrio, desvio de um comportamento normal e/ou padro, debilidade, mal-estar,
enfim, um acontecimento dissonante que perturba um estado harmnico.
A noo de doena como uma experincia que provoca a dissonncia
desdobrada da compreenso do silncio como outro dos valores relacionados sade.
Georges Canguilhem, em um dos ensaios de Escritos sobre medicina, lista uma srie de
definies que articulam sade e silncio. Eis algumas delas. Bichat, importante
anatomista francs, afirmou: A sade a vida no silncio dos rgos (Bichat apud
Canguilhem, 2005: 35). Paul Valry, em resposta a Ren Leriche: A sade o estado
no qual as funes necessrias se realizam insensivelmente ou com prazer (Valry
apud Canguilhem, 2005: 35). Bem antes dele, Charles Daremberg escreveu, em A
medicina histria e doutrinas, que no estado de sade, no sentimos os movimentos
da vida, todas as funes se realizam em silncio (Daremberg apud Canguilhem, 2005:
36). Mais de cem anos antes de Daremberg, Diderot afirmou: Quando estamos bem,
nenhuma parte do corpo nos informa de sua existncia, se alguma delas nos adverte por
meio da dor , com certeza, porque estamos mal (Diderot apud Canguilhem, 2005: 36).
Uma vida saudvel um acontecimento silencioso pacfico, pode-se dizer que no
percebido ou percebido apenas de forma prazerosa. Mudando de tom, Flaubert no
Dicionrio das idias feitas, verbete medicina, ironiza: Rir-se dela quando se est de
sade (Flaubert, 1974: 108). Quase na mesma direo, Henri Michaux afirma a relao
entre sade e silncio:
Como o corpo (seus rgos e suas funes) foi conhecido e desvelado
sobretudo no pelas proezas, mas pelos distrbios dos fracos, doentes,
26
enfermos, feridos (a sade sendo silenciosa e fonte desta impresso
imensamente errnea de que tudo evidente), so as perturbaes do esprito,
seus disfuncionamentos que sero meus ensinantes (Michaux apud
Canguilhem, 2005: 36).
A risada dos saudveis medicina no verbete escrito por Flaubert e a
compreenso de que so os distrbios, as perturbaes e as disfunes que ensinam
sobre o corpo segundo Michaux lembram que a medicina a cincia da doena, no
da sade. E sendo mais preciso, Canguilhem afirma que a sade no um conceito
cientfico, um conceito vulgar, no sentido de ser comum, ao alcance de todos
(Canguilhem, 2005: 37). A compreenso da sade como silncio dos rgos aponta
para a idia da doena como exceo uma existncia no-pacfica, rumorosa, que
desregula o funcionamento normal do organismo, que desregula aquilo que estava
intacto e bem conservado. A doena, quando pensada assim, sugere ento um corpo que
modelo de existncia perfeita e modelo porque a sade, considerada regra, um
modelo retrico, um conceito vulgar, ao alcance de todos porque repetido por todos,
numa relao de redundncia. A dicotomia estabelecida entre sade e doena logo,
entre equilbrio e alterao, regra e exceo, silncio e rumor interessante, uma vez
que ser a partir dela que uma compreenso diferente da doena ser imaginada.
Compreenso esta desdobrada da relao sade-silncio/doena-rumor.
Entre parnteses, Michaux afirma isto: (a sade sendo silenciosa e fonte desta
impresso errnea de que tudo evidente). Para ele, uma impresso um palpite,
algo que repito sem ter visto, sem saber pensar no silncio apenas como valor da
sade, melhor dizendo, uma impresso acreditar repetir, sendo redundante que
tudo no organismo funciona de modo pacfico, sem que haja inscrito neste silncio um
outro funcionamento, no-evidente. Pode-se afirmar que para Michaux a experincia
patolgica que est inscrita no silncio, que a impresso esta noo acessvel a todos
da sade como regra padro ou norma imensamente errnea. A compreenso
27
dicotmica dos estados de sade e doena como estados contrrios d lugar, ento, a
uma cena diferente: uma cena em que a experincia patolgica inscrita na sade, de
forma que a noo daquela como exceo recusada h o questionamento do lugar-
comum que procura, de diversas formas, estabelecer um espao de excentricidade
experincia da doena. Uma maneira de compreender esta inscrio sugerida na
abertura de A doena como metfora de Susan Sontag:
A doena o lado sombrio da vida, uma espcie de cidadania mais onerosa.
Todas as pessoas vivas tm uma dupla cidadania, uma no reino da sade e
outra no reino da doena. Embora todos prefiramos usar somente o bom
passaporte, mais cedo ou mais tarde cada um de ns ser obrigado, pelo menos
por um curto perodo, a identificar-se como cidado do outro pas (Sontag,
1984: 7, grifos meus).
As noes escolhidas por Sontag para definir e/ou caracterizar a doena so
topolgicas, numa espcie de geografia do corpo: lado, cidadania, dupla cidadania,
reino, passaporte, cidado e pas. A adjetivao da experincia patolgica como lado
mais sombrio da vida no ir configurar extremos, uma vez que as outras
qualificaes/aproximaes parecem desfazer isto a doena um tipo de cidadania
mais onerosa do que a sade, que, por sua vez, tambm uma cidadania onerosa.
Porm aquilo que parece impedir a configurao de extremos a noo de dupla
cidadania cada pessoa ser cidado, ao mesmo tempo, de dois reinos: saudvel e
doente no reino da sade, doente e saudvel no reino da doena. A identificao como
cidado de outro pas no caso o pas da doena uma experincia, de acordo com
Sontag, obrigatria, em certo sentido, uma experincia normal.
Uma compreenso afim de Sontag, de pensar a inscrio da doena na vida, a
de Canguilhem que, no livro O normal e o patolgico, afirma: uma sade perfeita
28
contnua um fato anormal consider-la de modo absoluto um entendimento ideal
de estrutura e comportamento orgnico. A afirmao seguinte mais interessante:
Quando se diz que uma sade continuamente perfeita anormal, expressa-se o fato de
a experincia do ser vivo incluir, de fato a doena. Anormal quer dizer precisamente
inexistente, inobservvel (Canguilhem, 2007: 96-7). Enfim, a sade perfeita uma
fico, um estado ideal, uma impresso errnea pens-la assim confirmar que a
doena e a morte esto inscritas na vida: A morte est na vida, a doena signo disso,
afirma Canguilhem em Escritos sobre a medicina (Idem, 2005: 32). A noo da doena
como signo desdobra-se na noo de risco inevitvel:
As doenas so um preo a ser pago, eventualmente, por homens, feitos, vivos,
sem t-lo pedido, e que devem aprender que tendem necessariamente, desde seu
primeiro dia, para um final a um s tempo imprevisvel e inelutvel (Idem,
ibidem).
Como risco inevitvel, que ser pago eventualmente a identificao que
acontece, cedo ou tarde, como cidado do outro pas , a doena no ser definida como
alterao de uma ordem, como desvio de uma regra, enfim, no ser possvel diz-la
anormal, uma vez que anormal, de acordo com esta perspectiva, seria a noo de sade
perfeita. A experincia patolgica antes de ser exceo, ser definida como normal, no
sentido de existente e observvel. No seria incorreto afirmar, a partir da e da noo de
dupla cidadania, a presena (virtual, em potncia) de um terceiro reino a doena seria,
ento, um espao intermedirio, limiar, entre a vida e a morte. Da a compreenso dos
espaos da doena como se fossem os ltimos lugares e, por isso, a expectativa
angustiante que pode ser experimentada pelo doente no a certeza de passagem para o
outro lado, mas a possibilidade a inscrita.
29
A noo de dupla cidadania, compreendida em dilogo com a crtica que
Michaux faz do par sade-silncio e da idia de impresso, o comeo de uma
resignificao das definies de sade e doena que configuram entendimentos
dicotmicos (equilbrio versus alterao, regra versus exceo, silncio versus rumor).
Melhor dizendo, a dupla cidadania o comeo da resignificao das estratgias de
enunciao dos modelos retricos que numa relao de redundncia se tornam
comuns. Ao explicar a inteno de A doena como metfora, Sontag afirma que no
pretende descrever uma emigrao real para o reino dos doentes e o que seja l viver,
ou melhor, que no pretende descrever a verdadeira geografia, mas os esteretipos do
carter nacional. Esteretipos sobre a doena naturalizados a partir do uso, nem um
pouco inocente, de sinistras metforas (Sontag, 1984: 7). A doena como metfora ,
portanto, uma coleo de lugares-comuns sobre a doena na literatura, filosofia poltica,
arquitetura, jornalismo, psicologia e outras reas e, sobretudo, uma crtica s formas de
naturalizao dos significados negativos conferidos experincia da doena.
Dez anos depois, ao reler A doena como metfora, logo na abertura de AIDS e
suas metforas, Sontag assinala o carter prtico do livro: tranqilizar a imaginao, e
no incit-la. E continua: Em vez de conferir significado, que o objetivo do
empreendimento literrio, esvaziar o significado de algo (Sontag, 2007: 87). Esvaziar a
doena de significados, de modo a compreend-la apenas como doena, numa tentativa,
por um lado, de repudiar as noes punitivas que de certa forma tornam os doentes
culpados pelas suas afeces e as explicaes psicolgicas da doena e, por outro, de
no associ-la diretamente morte numa equivalncia de conseqncias desastrosas
so as linhas de fora que atravessam o livro de Sontag.
A compreenso da doena como algo obsceno de aspecto abominvel, de mau
pressgio, que deve permanecer escondido reivindica uma forma enunciativa que
30
interdita os nomes da doena. A experincia patolgica passa, ento, a ser encarada
como um mistrio e temida de modo muito agudo ser tida como moralmente, seno
literalmente, contagiosa, afirma Sontag (Sontag, 1984: 10). Esta interdio
observada, por exemplo, quando Kafka, numa carta a um amigo, escrita no sanatrio
onde morreria dois meses depois, afirma: verbalmente eu no ouo nada de definido,
uma vez que ao discutir sobre a tuberculose... todos adotam um modo desajeitado,
evasivo e opaco de falar (Kafka apud Sontag, 1984: 11) Interdio que Karl
Menninger, psiquiatra americano, identifica ao lembrar que a prpria palavra cncer
tida como capaz de matar alguns pacientes que no sucumbiram (to rapidamente) ao
mal de que sofrem (Menninger apud Sontag, 1984: 10). A supresso do nome uma
tentativa irracional de anular, de escamotear o temor da doena. Uma tentativa
frustrada, que ir resultar, justamente, em seu contrrio, uma vez que confere doena,
atravs do seu nome, um tipo de poder sobrenatural. A doena , assim, considerada
intratvel, numa era em que a premissa bsica da medicina a de que todas as
enfermidades podem ser curadas (Sontag, 1984: 9).
A enunciao desajeitada um dos sintomas da associao que acontece
usualmente entre a experincia da doena e a morte. Mais uma vez Kafka, agora em
carta ao amigo Max Brod. Ao pensar que a tuberculose no uma doena especial,
nem uma enfermidade que merea um nome especial, Kafka diz ser ela o prprio
germe da morte, intensificado (Kafka apud Sontag, 1984: 26). Georg Groddeck, o j
citado mdico alemo, afirma que, entre as teorias formuladas sobre o cncer, a mais
significativa aquela que acredita que o cncer leva, atravs de estgios definidos,
morte. Groddeck explica assim a afirmao: Com isso, quero dizer que o que no
fatal no cncer (Groddeck apud Sontag, 1984: 26). A radicalidade da equivalncia
aquilo que fatal = cncer e a compreenso da tuberculose por Kafka sugerem,
31
segundo Sontag, uma espcie de fantasia, que se desdobra na compreenso negativa
da experincia patolgica, porque inscrita na dicotomia sade versus doena, e nas
formas enunciativas que conferem a ela significaes negativas
11
.
A noo da doena como castigo punio manifestada, geralmente, em forme
de epidemias, as pestes, que aconteciam devido falta pessoal ou a transgresses
coletivas
12
foi, a partir do sculo dezenove, substituda no imaginrio pela noo de
que ela exprimia o carter, ou a vontade, do doente. A doena, afirma Sontag, a
vontade falando atravs do corpo, uma linguagem para a dramatizao do mental, uma
forma de auto-expresso (Sontag, 1984: 58). Aps sua tuberculose ser diagnosticada,
Kafka, em carta a Felice, disse: No ntimo, no creio que esta doena seja uma
tuberculose, ou pelo menos no principalmente uma tuberculose, mas, antes, um sinal
de minha bancarrota total. Representao da sua falncia, a tuberculose aparece no
seu dirio como smbolo de uma ferida cuja inflamao se chama Felice (Kafka apud
Sontag, 1984: 58). A doena a dramatizao do carter apaixonado, e a paixo, com
seus devaneios, a responsvel pelo aparecimento da tuberculose
13
.
A compreenso da experincia patolgica como dramatizao auto-expresso
do carter se configura, ento, numa espcie de etiologia emocional. Assim, se a causa
da tuberculose a paixo, exprimindo uma personalidade romntica, a resignao a do
11
A forma enunciativa que relacionam a doena morte conseqncia tambm de uma compreenso da
morte como um acontecimento agressivamente sem sentido, acontecimento que Sontag chama de
moderna rejeio da morte. Benjamin, num dos fragmentos de O narrador, j havia identificado tal
rejeio: No decorrer dos ltimos sculos, pode-se observar que a idia da morte vem perdendo na
conscincia coletiva, sua onipresena e sua fora de evocao (Benjamin, 1996: 207). Norbert Elias, no
ensaio A solido dos moribundos, fala da represso da idia indesejada, uma forma de afastar a idia da
morte de ns mesmos (Elias, 2001:7).
12
Lembre-se, entre outros castigos, a peste que acometeu Tebas devido ao crime de dipo em dipo
rei. Eis sua descrio, no discurso do sacerdote: Tu bem vs que Tebas se debate numa crise de
calamidades, e que nem sequer pode erguer a cabea do abismo de sangue em que se submergiu; ela
aparece nos germens fecundos da terra, nos rebanhos que definham nos pastos, nos insucessos das
mulheres cujos filhos no sobrevivem ao parto. Brandindo seu archote, o deus malfico da peste devasta a
cidade e dizima a raa de Cadmo; e o sombrio Hades se enche com os nossos gemidos e gritos de dor
(Sfocles, 1969:78).
13
Este discurso, que relacionava a tuberculose paixo, sobreviveu at um pouco depois de Robert Koch
anunciar, em fins do sculo dezenove, a descoberta do bacilo como a causa primria da doena.
32
cncer o canceroso seria, ento, algum que durante toda a vida reprimiu fortemente
as emoes e/ou os sentimentos. Sontag enumera uma srie de personalidades que
tiveram seu cncer diagnosticado como uma reao derrota poltica e restrio a
suas ambies pessoas, enfim, que tiveram as mortes por cncer diagnosticadas
como terrvel castigo infligido por uma vida de renncia ao instinto. Mas Sontag se
pergunta como incluir nessa lista Freud, Wittgenstein e Rimbaud, pessoas que,
dificilmente, seriam descritas como perdedoras ou capazes de renunciarem ao instinto
(Sontag, 1984: 64). Interessante que ela assinala o aumento significativo, a partir da
dcada de setenta do sculo passado, das teorias emocionais que anunciaram e,
sobretudo, popularizaram a relao entre o cncer e os sentimentos dolorosos. Assertiva
e irnica, ela bastante crtica quanto ao funcionamento dos discursos que justificam as
causas emocionais. Sontag menciona certas investigaes em que algumas centenas
de doentes, dois ou trs quintos declaram ter estado deprimidos ou insatisfeitos com
suas vidas, ter sofrido com a perda (pela morte, rejeio ou separao) de um parente,
amante, cnjuge ou amigo ntimo. E continua, afirmando que parece provvel que, de
algumas centenas de pessoas que no tm cncer, a maioria tambm declara ter tido
emoes depressivas e traumas: a isso se chama condio humana (Idem, Ibidem: 66).
Irnica, a afirmao de Sontag problematiza a relao entre as experincias patolgicas
e suas causas emocionais.
A atribuio de causas emocionais s doenas sugere uma espcie de
incompreenso da realidade fsica da doena, seja ela qual for. Uma enfermidade fsica
torna-se de certa maneira menos real mas, em compensao, mais interessante na
medida em que pode ser considerada uma doena mental (Idem, Ibidem: 72). Mais
interessante e menos real: a doena passa ento a significar outra coisa, a ser outra coisa
que no a doena produto da vontade, do carter, da paixo desvairada, dos
33
sentimentos e instintos reprimidos, enfim, a ser outra coisa. Isto se desdobra. Em
primeiro lugar, quando a causa da doena tem uma explicao emocional, o doente
passa a ser responsvel pode-se dizer culpado pela sua afeco. Em segundo lugar,
quando as causas da doena so escamoteadas, em favor de uma compreenso
psicolgica pode-se dizer psicologizante , ela tende a ser sobrecarregada de
significaes. Em outras palavras, a doena passa a adjetivar: Diz-se que isto ou
aquilo se parece com a doena, com o significado de que nojento ou feio. E ser esse
movimento que Sontag identifica ao mostrar como a doena se torna metfora
inmeros sentidos negativos so projetados em uma doena e ela (assim enriquecida
de significados) projetada no mundo (Idem, Ibidem: 76). Projeo que ela observa,
sobretudo, na retrica do planejamento habitacional a cidade, seus fluxos, seu
crescimento e na retrica da filosofia poltica.
Em relao retrica urbana, Sontag localiza um movimento de rejeio da
cidade que, num primeiro momento, afirma ser a cidade o espao causador das
doenas. Da, sobretudo, as sugestes de viagens para locais de melhor clima o sul, as
montanhas, o deserto, as ilhas como forma de tratamento da tuberculose. Uma espcie
de exlio teraputico experimentado, entre outros, por Keats, que se mudou para
Roma. Chopin, que escolheu passar uma temporada nas ilhas mediterrnicas. D.H.
Lawrence, que se exilou em vrios lugares do mundo. E Robert Louis Stevenson, que
tentou o Pacfico e sobre isso afirmou: Por uma curiosa ironia, os lugares para onde
somos mandados quando a sade nos abandona so, muitas vezes, singularmente belos
(Stevenson apud Sontag, 1984: 45)
14
. Exlio encenado de forma irnica em A
14
A experincia de ser banido da cidade, em busca da cura da tuberculose, nesses lugares singularmente
belos, acompanhada de outra experincia, menos agradvel. Diz Stevenson, o mundo para o
tuberculoso no tem mais encantos. Katherine Mansfield, outra que muitas vezes foi exilada escreve
sobre sentir-se fora do lugar: A porta estranha fecha-se atrs do estranho (Sontag, 1984: 45).
34
montanha mgica depois de uma visita de trs semanas ao seu primo, Hans Castorp
diagnosticado com uma tuberculose e passa sete anos no sanatrio.
Mas a projeo de significados negativos da doena no mundo identificada, de
forma mais radical, na associao direta cidade = doena, ampliando o tema da
rejeio da cidade. Associao que, nas palavras de Sontag, faz com que a cidade, ela
prpria, seja vista como um cncer um lugar que cresce de modo anormal e artificial,
um lugar de paixes extravagantes, devoradoras e sufocantes (Sontag, 1984: 93). A
cidade uma doena em Iluses perdidas de Balzac, quando ele descreve Lucien depois
de um encontro literrio: E em vez de ser tomado de horror diante do espetculo
daquele cncer no prprio corao de Paris, ele se intoxicou com o prazer de estar num
meio intelectualmente brilhante (Balzac apud Sontag, 1984: 93). A cidade uma
doena em The living city, onde Frank Lloyd Wright, ao comparar a cidade antiga com a
moderna, e afirmando que a primeira no era maligna, diz o seguinte: Olhar o corte
transversal do mapa de uma grande cidade como olhar a seco de um tumor fibroso
(Wright apud Sontag, idem: ibidem). Ao comparar a leitura do mapa de uma grande
cidade com o gesto de secionar um tumor fibroso, Lloyd Wright inscreve esta
afirmao em um projeto arquitetnico moderno, preocupado com as idias de ordem,
clareza, luminosidade, exatido e, em certo sentido, com uma noo de arquitetura
identificada como um empreendimento de sade.
Em relao retrica da filosofia poltica, h como afirma Sontag uma
crescente tendncia a chamar de doena qualquer situao que se quer reprovar
(Sontag, 1984: 94). Da uma srie de afirmaes que, a partir da preocupao da poltica
com a idia de ordem, compreende a desordem civil como doena. Num primeiro
momento, a metfora da doena foi usada na filosofia poltica para reforar o apelo
reao racional idias como previso, tolerncia e razo usadas, numa analogia
35
mdica, para prevenir uma desordem (civil) mais grave, fatal inclusive (Sontag, 1984:
98). J num segundo momento, com as revolues modernas, a doena passa a definir a
estagnao, ou a paralisia, de certos sistemas governamentais. Em Quatrevingt-treize,
de Hugo, o revolucionrio Gauvin, condenado guilhotina, perto da execuo chega a
dizer que a civilizao estava nas garras da praga, cabendo revoluo a rdua tarefa
de varrer a doena! (Hugo apud Sontag, 1984: 101). E completa, de modo assertivo:
Diante da terrvel infeco, eu compreendo a fria dos ventos. Por fim, Sontag
ressalta a inclinao dos movimentos totalitrios para usar a metfora da doena. A
comunidade judia europia era, com freqncia, associada sfilis e ao cncer pelos
nazistas em discursos sobre o problema judeu, na dcada de trinta do sculo
passado, foi afirmado que para tratar um cncer deve-se extirpar muito do tecido sadio
em torno dele (Sontag, 1984: 102-3). A descrio de um fenmeno como um cncer
e a srie de metforas que a acompanham pode funcionar de forma a incitar a
violncia e, assim, reforar a compreenso da doena como uma experincia,
necessariamente, fatal.
A doena como metfora um livro atravessado, de certa forma, por uma
inflexo exortativa a doena no uma maldio, um castigo, uma vergonha, a
doena no necessariamente uma condenao morte (Sontag, 2007: 88). Isto, no
impede, porm, que as reflexes de Sontag guardem uma inflexo irnica, que desarma
a possvel tragicidade que a doena poderia imprimir s reflexes. A doena como
metfora escrito como uma histria crtica das representaes (equivocadas) da
experincia da doena, uma espcie de coleo de lugares-comuns. Coleo em que a
prpria Sontag figuraria: E uma vez eu escrevi, no auge do desespero com a nossa
interveno no Vietn, que a rao branca o cncer da histria humana (Idem,
ibidem: 105). A preocupao de Sontag mostrar, portanto, a ideologia se apresentando
36
como algo natural e, em relao doena, como essa naturalidade tem conseqncias
desastrosas para o paciente. Uma semana aps a morte de Barthes, Sontag escreveu
Relembrando Barthes, depois includo em Sob o signo de saturno, onde, entre outras
coisas, ressalta aquilo que chama mais ateno no pensamento do francs, a luta contra
o inimigo tradicional aquilo que Flaubert chamava de idias recebidas, mais tarde
conhecido como mentalidade burguesa, o que os marxistas estigmatizaram como falsa
conscincia e os discpulos de Sartre como m f, e Barthes chamaria de doxa (opinio
corrente) (Idem, 1986: 127-8). A filiao do pensamento de Sontag ao de Barthes,
atravessada por uma espcie de fidelidade
15
, desdobra-se noutra filiao, a da crtica que
Flaubert faz do lugar-comum das idias feitas ou recebidas no romance
Bouvard e Pcuchet. Melhor seria afirmar que a escritura de A doena como metfora
se aproxima, em certo sentido, da forma como Flaubert figura a a crtica s idias
recebidas, ou seja, atravs da solicitao da lgica enciclopdica.
Borges foi um dos primeiros a chamar ateno para Bouvard e Pcuchet,
romance publicado em 1881, um ano aps a morte de Flaubert. Romance que
desconcertou seus contemporneos, que por eles foi incompreendido uma aberrao
estranha, na expresso Paul Valry, que resume grande parte de sua recepo. A
histria do livro enganosamente simples, segundo Borges. Dois copistas tornam-se
muito amigos. Um deles ganha uma herana e isso permite que eles abandonem
emprego, se mudem para o campo e estudem muitas disciplinas agronomia,
jardinagem, fabricao de conservas, anatomia, arqueologia, histria, mnemnica,
literatura, hidroterapia, espiritismo, ginstica, pedagogia, veterinria, filosofia e
religio (Borges, 2001: 279). Ao fim de vinte ou trinta anos, fracassam em cada uma
delas, encomendam uma carteira escolar dupla e voltam a copiar, como faziam antes.
15
No ensaio Relembrando Barthes, Sontag lembra que no ltimo encontro que teve com Barthes, ele,
carinhosamente, a saudou assim: Ah, Susan, Toujours fidle. E Sontag a confirma: Eu era, e sou
fiel (Sontag, 1986: 132).
37
Flaubert planejou Bouvard e Pcuchet em dois volumes, mas a obra ficou inconclusa.
Das aventuras dos dois amigos, narrada no primeiro livro, faltou o capitulo final. Alm
do esboo desse captulo, as edies do romance trazem o Dicionrio das idias feitas,
que a parte mais ordenada dos manuscritos, e uma pequena amostragem das citaes
recolhidas por Flaubert, que mais tarde ficou conhecida como Sottisier ambos, o
dicionrio e o lbum das citaes, fariam parte do segundo livro. H inmeras
referncias ao Dicionrio das idias feitas e a um prefcio, que seria um livro inteiro.
Pela correspondncia de Flaubert, deduz-se que o prefcio-livro seja Bouvard e
Pcuchet os copistas, depois do fracasso nas disciplinas, voltam a copiar e organizam
o dicionrio e o lbum das citaes de autores famosos e annimos. Este e aquele,
escritos pelos dois amigos, compem o segundo volume, todo ele atravessado pela
tolice, presentes nos verbetes e nas frases do Sottisier. Borges v no destino dos copistas
uma referncia irnica ao prprio destino de Flaubert, que encheu mais de duas mil
folhas, cerca de oito manuscritos, com citaes de tolices e ainda centenas de verbetes
para o dicionrio. H alguns aspectos importantes em cena.
Bouvard e Pcuchet pode ter sido considerado uma aberrao por causa de sua
forma. Ezra Pound, em ensaio pioneiro, afirmou que o livro continua o pensamento e a
arte flaubertianos, mas no continua essa tradio do romance ou do conto. E conclui,
dizendo que Bouvard e Pcuchet a inaugurao de uma forma nova, uma forma que
no teve precedente (Pound apud Campos, 1989: 14). Borges assinalou que o homem
que com Madame Bovary forjou o romance realista foi tambm o primeiro a romper
com ele (Borges, 2001: 283). Augusto de Campos, no ensaio O Flaubert que faz falta,
diz que o livro j desconcerta pela neutralidade da linguagem, sem qualquer brilho
aparente, pelo anti-herosmo dos personagens, e pela reiterao dos movimentos. A
leitura do dicionrio desconcerta ainda mais, pois seqestra em definitivo a ao e os
38
personagens e nos pe em contacto direto com o tema da imbecilidade (que
ambiguamente confunde leitor, autor e personagens, fictcios colecionadores de
verbetes) (Campos, 1989: 18). Alguns verbetes: BIBLIOTECA No deixar de ter
uma em casa, em espacial se se vive no campo. ARTE Leva ao hospital. Para que
serve, se pode ser substituda pela mecnica, que faz melhor e mais depressa?
CRCULO Deve-se sempre fazer parte de um crculo. DOENTE Para fazer subir o
moral de um doente rir do seu mal e negar os seus sofrimentos. EVIDNCIA Cega,
quando no salta aos olhos. IMBECIS Os que no pensam como ns.
INCAPACIDADE Sempre notria. Quanto mais incapaz, mais ambicioso. MEDICINA
Rir-se dela quando se est de sade. PRAZER Palavra obscena. SADE A
demasiada sade causa de doenas. (Flaubert, 1974). Desconcertante tambm a
leitura do Sottisier, um texto entre aspas, uma coleo das pedras de toque da tolice
humana. Uma srie de tolices conceituais, literrias, cientficas, da imprensa, entre
tantas outras tolices, ad infinitum (Campos, 1989: 19).
Bouvard e Pcuchet um romance que, ao romper com uma tradio forjada
pelo prprio Flaubert, torna-se uma aberrao solicitar o dicionrio e o tolicionrio
documental enciclopdico (na expresso de Augusto) coloca em cena a noo de
abertura. Um livro aberto, mais do que inacabado, inacabvel, e a todo momento
adicionado, coletivamente, de novos captulos (Idem, ibidem: 22). Bouvard e Pcuchet
desconcerta porque aquilo que, a princpio, seria uma compilao completa ou parcial
das unidades lxicas de uma lngua, um conjunto de informaes sobre temas e/ou
ramos do conhecimento
16
, no funciona como um espao de certeza e sabedoria, ao
contrrio, a obra de Flaubert no conclui nada, uma vez que, segundo ele, querer
concluir a pior das tolices. Flaubert reconhece, assim, que a tolice a idiotice ou a
16
Dicionrio Houaiss da Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001.
39
estupidez uma experincia comum a todos, que ela formidvel e universal. Da
mesma maneira que se identificou com Ema Bovary, ele se identificou com os dois
copistas: a tolice deles a minha. Em ensaio que escreveu sobre o livro, Leyla Perrone-
Moiss afirma que Bouvard e Pcuchet somos ns mesmos, esto em ns, em maior ou
menor grau, esto em todos os seres falantes, e ameaam particularmente aqueles que
tm pretenses intelectuais (Perrone-Moiss, 2000: 61). A abertura a possibilidade de
acrscimo de novos captulos e verbetes uma maneira irnica de afirmar a
participao do falante (do leitor) nesse inventrio da tolice.
Flaubert, com Bouvard e Pcuchet, faz a crtica das tolices da linguagem, porm
no se isenta dela, colocando-se de fora. Diz ele: A tolice no est de um lado e a
inteligncia de outro. como o vicio e a virtude. Esperto quem os distingue. A
originalidade do livro no est apenas em conjugar a opo enciclopdica com a
questo da tolice, mas tambm em manter a igual distncia do manual (resumo do que
se considera verdadeiro) e do panfleto (exposio do que se denuncia) (Dord-Crousl,
2007: 23). A escritura de Bouvard e Pcuchet no visa, portanto, resolver (ou concluir)
o problema da tolice e isso porque a ironia que Flaubert chama de simpatia uma
presena eqitativa para tudo e para todos (Idem, ibidem: 25). Considerar o livro um
compndio contra a falsa cincia e a estupidez, como se fosse um livro didtico,
livrando a cara de alguns uma tolice. A experincia esperada depois da leitura do
livro que as pessoas no ousassem mais falar com medo de dizer instintivamente
uma das frases que l se encontram, de acordo com Flaubert a mesma que
assombra o romancista: a tolice delas a minha.
Augusto j havia assinalado que o grau zero da escrita de Flaubert levou ao
procedimento da colagem e ao gesto anrquico de Duchamp de abandonar a pintura
retiniana e se apropriar dos ready-made experincia plstica que, ironicamente, vai
40
incorporar outra idiotice da linguagem, o trocadilho. Filiao que Augusto percebe,
atravs das humoradas intervenes do acaso, na escritura e na msica de Cage, numa
espcie de retirada do autor, assim como Flaubert ao copiar as citaes para o Sottisier.
A prosa-sem-estria de Gertrude Stein outra que, confessadamente, influenciada
pelo francs: Tudo o que fiz foi influenciado por Flaubert e Czanne. A escritura no
representativa, a linguagem redundante e o presente contnuo so qualidades que a
aproximaram do autor de Bouvard e Pcuchet (Campos, 1989: 21). Por um lado, se a
falta de garantia da linguagem, colocada pelo romance ao abandonar um tipo de
representao, influenciou certa modernidade artstica, por outro, a crtica ao lugar-
comum foi retomada, entre outros, pelas reflexes de Roland Barthes, que em sua
perseguio ao esteretipo, leva adiante o procedimento de Flaubert:
Na linguagem, o que lhe parecia insuportvel era a repetio, o cogulo do
lugar-comum, a necrose do esteretipo: a ideologia apresentando-se como
natureza. Como Flaubert, Barthes sentia que a obsesso pela tolice tinha algo de
tolo. Tambm como Flaubert, ele sabia que ningum est isento da tolice,
porque ela inerente linguagem como instituio, como repetio. E, ao
mesmo tempo, via nessa fragilidade da inteligncia um aspecto amvel,
enternecedor, uma delicadeza involuntria oposta arrogncia do saber
imperturbvel, este sim, absolutamente tolo (Perrone-Moiss, 2000: 65).
A repetio e arrogncia so as duas rubricas que, segundo Barthes, delineiam a
lngua a autoridade da assero e o gregarismo da repetio. As duas se juntam no
falante: no me contento com repetir o que foi dito, com alojar-me confortavelmente
na servido dos signos: digo, afirmo, assento o que repito (Barthes, 2005: 14-5, grifos
meus). A semiologia de Barthes pretende, ento, descrever como uma sociedade produz
esteretipos, cmulos de artifcio, que ela consome em seguida como sentidos inatos,
em outras palavras, cmulos da natureza (Idem, ibidem: 33). A escritura de Barthes
41
tenta deslocar no interior mesmo dessa lgica doente o cogulo, a necrose os
sentidos inatos, considerados normais (lembre-se que norma uma das qualidades que,
usualmente, define a sade). Esse movimento que vai da desmistificao, passando
pela semiologia, at a solicitao do corpo do autor seduz, de certa forma, o
pensamento de Susan Sontag. A doena como metfora se inscreve ento nesse
paradigma crtico, na tentativa de desarmar a doxa, mostrar como ela funciona e sua
insero na linguagem Sontag escreve uma espcie de mitologias da experincia da
doena e, como Barthes e Flaubert, no est isenta da participar nela.
E no participa apenas de forma a se incluir no inventrio das idias feitas,
mas tambm porque um corpo doente um corpo com cncer que escreve o livro.
Flaubert dizia que Bouvard e Pcuchet desenvolveram uma faculdade lamentvel, a
de ver a estupidez. Perrone-Moiss lembra que Barthes afirmava ter desenvolvido
no uma faculdade, mas uma doena: Eu vejo a linguagem (Perrone-Moiss, 2000:
65). Sontag desenvolve um olhar direcionado, um tipo de olhar enftico a etimologia
grega de nfase (mphasis, es), outra tolice diria Flaubert, significa a ao de aparecer
em, reflexo. Esse aparecer em ser, portanto, a maneira dela participar, ironicamente,
na escritura, dizendo que a tolice dos copistas a sua tambm.
No h verbetes em A doena como metfora, apenas textos entre aspas
Sontag inventaria uma srie de usos metafricos da doena, descrevendo os
esteretipos de carter nacional. No h verbetes em A doena como metfora, mas os
textos entre aspas, levemente ajustados, figurariam em um apndice do livro. Alguns
exemplos: CNCER Um inimigo satnico. CANCEROSO Um perdedor na batalha
da vida, uma no-pessoa. CIDADE Um cncer. DESERTO Lugar recomendado aos
tuberculosos. DOENA Instrumento da ira divina; o amor transformado; uma forma
de auto-expresso. INVASO Tcnica teraputica. MONTANHA cf. deserto.
42
MORRER S morrer aquele que deseja morrer. PAIXO Sentimento responsvel
pelo cncer e pela tuberculose. POETA Algum que pese menos de noventa e nove
libras. PROSADOR Algum que pese mais de noventa e nove libras.
QUIMIOTERAPIA Guerra qumica. ROBERT KOCH Ao descobrir o bacilo
causador da tuberculose, Koch ps fim ao romantismo. ROMNTICO Pessoa
interessante. SADE No romantismo, era considerada banal e at vulgar.
TUBERCULOSE Torna o corpo transparente, espiritualiza a vida (Sontag, 1984).
Ao inventariar uma srie de afirmaes sobre a experincia da doena, Sontag
mostra a insero delas na lngua, melhor dizendo, mostra como certa compreenso da
doena considerada natural compreenso que, sobretudo, associa doena e morte e
que se desdobra no emprego daquela como experincia que passa a adjetivar as coisas.
A doena figuraria, assim, em um lxico de uso negativo e teria como sinnimos
morte, alterao, desvio, mal-estar, dissonncia, rumor, anormalidade,
desordem, entre outros. H, ento, um fechamento semntico que, atravs da
repetio (assento o que repito), acaba se impondo como natural pode-se mesmo
dizer que tais sentidos se dicionarizam. A doena como metfora procura esvaziar esses
significados, abal-los Sontag sugere um movimento de abertura com a noo de
dupla cidadania: pensar a doena como um estado limiar entre a morte e a vida. Essa
solicitao uma tentativa de definir a experincia a partir mesmo da possibilidade de
ampliao de seus significados, enfim, uma forma de deslocar (segundo Barthes,
transportar-se para onde no se esperado) tal lugar-comum.
1.3. Csar Aira e o Diario de la hepatitis
No escribir. Mi receta mgica.
43
Csar Aira
Diario de la hepatitis no um dirio sobre a hepatite. Diario de la hepatits no
narra a febre, as nuseas, o mal-estar, as dores no corpo, a falta de apetite e o desnimo
sintomticas da hepatite. No narra o repouso, a dieta, o uso de analgsicos, nem
qualquer outra experincia teraputica. Este dirio escrito ao longo de fevereiro de
1992 em forma de dirio no satisfaz a curiosidade que os dirios, geralmente,
despertam sobre a vida (sobre a doena, melhor dizendo) do autor. A palavra hepatite
no aparece sequer uma nica vez nas pginas do livro. Diario de la hepatitis no
escrito como uma fora-mais expresso que, segundo Barthes, define a curiosidade
que atravessa um leitor de dirio: de um escritor que me interessa, posso gostar de
conhecer a intimidade, a distribuio cotidiana do seu tempo, dos seus gestos, dos seus
humores, dos seus escrpulos (Barthes, 2004: 447). De um escritor que me interessa,
posso querer saber como a doena o afetou, saber como experimentou os sintomas e
como foi tratado. Enfim, saber detalhes da experincia patolgica, transformar a pessoa
do autor, morbidamente, em objeto de desejo (a expresso de Barthes). Mas Aira
no escreve seu dirio como uma fora-mais, na verdade, ele parece no querer escrever
mais nada. A abertura do Diario de la hepatitis anuncia esta vontade:
Si me encontrara desheco por la desgracia, destruido, impotente, en la ltima
miseria, fsica ou mental, o las dos juntas, por ejemplo aislado y condenado em
la alta montaa, hundido em la nieve, em avanzado estado de congelamiento,
tras uma cada de cientos de metros rebotando em filos de hielos y rocas, com
las dos piernas arrancadas, o las costillas aplastadas y rotas y todas as sus
pontas perforndome los pulmones; o en el fondo de una zanja o um callejn,
despus de um tiroteo, desangrndome en um siniestro amanecer que para mi
ser el ltimo; o em um pabelln para deshauciados em un hospital, perdiendo
hora a hora mis ltimas funciones em medio de atroces dolores; o abandonado a
44
los avatares de la mendicidad y el alcoholismo en la calle; o con la grangrena
subindome por uma pierna; o en el processo espantoso de um espasmo de la
glotis; o directamente loco, haziendo mis necessidades dentro de la camisa de
fuerza, imbcil, oprobioso, perdido... lo ms problable sera que, aun teniendo
una lapicera y um cuaderno a mano, no escribiera. Nada, ni una lnea, ni una
palabra. No escrebiria, definitivamente. Pero no por no poder hacerlo, no por
las circunstancias, sino por el mismo motivo por el que no escribo ahora:
porque no tengo ganas, porque estoy cansado, aburrido, harto; porque no veo de
qu podra servir (Aira, 1993: 7-8)
17
.
A enumerao sinistra. Aira se imagina soterrado pela neve, com as pernas
arrancadas, os pulmes perfurados, no meio-fio baleado, perdendo as funes do corpo
num hospital, alcolatra e mendigo perambulando pelas ruas, com uma gangrena em
estado avanado e completamente louco numa camisa de fora. Uma enumerao
sinistra que termina com uma frase que, de certa forma, atravessada pela ironia: ,
sim, bem provvel que algum beira da morte e estar beira da morte so as
circunstncias listadas mesmo com lpis e caderno nas mos no escreva Nada, nem
uma linha, nem uma palavra. No escreveria, definitivamente. A passagem parece
ironizar a pergunta que Rilke faz ao jovem poeta (morreria, se lhe fosse vedado
escrever
18
) e, sobretudo, a importncia, no sentido de seriedade, que ela encerra. A
pergunta de Aira seria: escreveria, se estivesse morrendo? Na verdade, ela quase uma
afirmao: no h como escrever, nem porque escrever, se voc estiver morrendo. Mas
a questo abertura do dirio morrer e escrever desdobra-se.
Aira justifica a no-vontade de escrever, afirmando que ela nada tem a ver com
as circunstncias, mas por uma srie de motivos parecidos entre si: porque no tenho
17
Citarei o Diario de la hepatitis em espanhol.
18
A passagem completa da primeira carta que Rilke escreveu ao jovem poeta: Procure entrar em si
mesmo. Investigue o motivo que o manda escrever; examine se estende suas razes pelos recantos mais
profundos da sua alma; confesse a si mesmo: morreria, se lhe fosse vedado escrever? Isto acima de tudo:
pergunte a si mesmo na hora mais tranqila da sua noite: Sou mesmo forado a escrever? Escave dentro
de si uma resposta profunda. Se for afirmativa, se puder contestar quela pergunta severa por um forte e
simples sou, ento construa a sua vida de acordo com esta necessidade (Rilke, 2010: 23).
45
mpeto, porque estou cansado, aborrecido, farto. Motivos que, segundo ele, so os
mesmos que o levam a no escrever agora. Aira, entretanto, escreve agora escreve
para dizer que no vai escrever mais. E Diario de la hepetitis cheio de passagens que
dizem quase a mesma coisa: No escribir. Mi receta mgica. No volver a escribir. As
de simple. Es perfecta, definitiva. La llave que me abre todas las puertas. Es universal,
pero solo para mi; no pretendo imponerla, ni mucho menos (Aira, 1993: 30). A receita
mgica parar de escrever, no escrever nunca mais uma receita escrita. Da, uma
espcie de paradoxo do Dirio de la hepatitis ao ensaiar a sada da cena, Aira faz
outra cena. Nada de novo para uma modernidade artstica que, ao postular uma relao
mais complexa e, de certa forma, bem mais trgica entre arte e conscincia, tendeu,
entre outras coisas, ao abandono e ao silncio.
Em A esttica do silncio, um dos ensaios de A vontade radical, Susan Sontag
afirma: A cena converteu-se para uma sala vazia (Sontag, 1987: 13). Uma srie de
abandonos alguns figurados, outros no definiu os procedimentos de certos artistas
em relao a este impasse. A sala ficou vazia muitas vezes
19
. Sala que Marcel Duchamp
deixou vazia pelo xadrez e pela vida: Gosto mais de viver, respirar, do que trabalhar.
E completa, na famosa entrevista a Pierre Cabanne, dizendo que cada respirao uma
obra de arte que no est inscrita em nenhum lugar, que no nem visual, nem cerebral
(Cabanne, 2002: 125). Abandono que outra cena, uma vez que Duchamp preparava
em segredo, durante vinte anos, sua ltima obra, Etant donns: 1. la chute d eau, 2. le
gaz d clairage. Por um lado, a vontade de abandonar a sala parece sugerir que a arte
no serve para nada, no tem qualquer utilidade. assim que Aira justifica parar de
escrever: porque no veo de qu podra servir. Diz Sontag que cada um deles, ao
abandonar a sala, viu suas realizaes, sejam elas quais forem, como fteis,
19
No h como esquecer o abandono mais radical, o de Rimbaud, que deixou a sala vazia a fim de fazer
dinheiro no continente africano. Sobre isto, conferir, entre outros: NICHOLL, Charles. Rimbaud na
frica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007.
46
insignificantes. (Sontag, 1987: 13). Por outro, e mais importante, deixar a sala vazia
sugere que as realizaes artsticas chegaram a um impasse que, em certo sentido,
estimulou o rompimento com alguns procedimentos estticos. Assumir essa postura
buscar uma outra maneira de compreender a experincia artstica.
Figurado, o abandono esse silncio ressoante ou eloqente, na expresso de
Sontag vai determinar uma forma mais errtica de representao. Figuraes
indicadas por uma srie de noes e propostas como a de margem livre de Breton, que
seria a tentativa de preencher o espao marginal da arte, deixando em branco o espao
central de uso. Outra noo a de arte anmica, ou privativa, como vai sugerir o
Cinema anmico de Duchamp, sua nica realizao cinematogrfica filme com pouco
mais de seis minutos que, empregando o mecanismo ilusrio dos rotoreliefs (os famosos
discos com espirais) e uma srie de trocadilhos como la moelle de l pe e la poelle
de laime, provoca uma srie de iluses pticas no espectador, sugerindo uma forma
diferente de percepo. Busca-se, ento, uma arte no-retiniana
20
, que no depende,
exclusivamente, do sentido da viso, mas que a ele somasse maneiras outras de
compreender o mundo. Duchamp avalia isto assim: Desde Courbet, acredita-se que a
pintura endereada retina; este foi o erro de todo o mundo. Antes, a pintura tinha
outras funes, podia ser religiosa, filosfica, moral (Cabanne, 2002: 73). Prximo de
Duchamp, no que diz respeito experincia perceptiva, est a noo de pintura
empobrecida de Beckett, autenticamente infrutfera, incapaz de qualquer imagem, seja
ela qual for (Beckett apud Sontag, 1987: 20). Interessante tambm a proposta de
John Cage de incorporao do acaso: procedimento utilizado na polmica Music of
changes, pea criada a partir dos hexagramas do I Ching, e na escritura quase diarista do
20
Sobre isto, conferir: Uma janela para alguma outra coisa. In: Cabanne, Pierre, Marcel Duchamp: o
engenheiro do tempo perdido. So Paulo: Perspectiva, 2002, p. 45-84.
47
livro De segunda a um ano ambas atravessadas pelo silncio, que, no caso desse
ltimo, figurado atravs dos espaos em branco.
Essas figuraes da experincia do abandono ou do silncio rompem com
uma forma de representao estabelecida a partir da perspectiva, no caso da pintura, e
de certa noo de linearidade causal (comeo, meio e fim), no caso do cinema e da
literatura. E apesar do tom quase iconoclasta (ou fim de mundo), bastante freqente em
algumas das propostas, a ironia a maior fora delas. Aquilo, ento, que expresso
como uma rude desesperana, ou como uma perversa viso do apocalipse, no
perde sua importncia por ser dita como uma seqncia de afirmaes jocosas. Ao
contrrio, uma vez que, como afirma Sontag, o silncio talvez permanea como uma
noo vivel para a arte e o conhecimento modernos somente se empregado com uma
ironia considervel, quase sistemtica (Sontag, 1987: 39, grifos meus). A ironia ,
assim, uma espcie de contrapeso capaz de desestabilizar as idias de fim e, portanto, de
recomeo, que algumas das propostas parecem solicitar.
Diario de la hepatitis inscreve-se em tal cena, anunciando que a sala vai ficar
vazia. E faz isto de forma radical: Nada, nem uma linha, nem uma palavra. No
escreveria, definitivamente. Porm Aira escreve. Melhor, precisa escrever para dizer
que no vai escrever. Mais interessante que a anotao que abre o dirio, feita na
primeira tera-feira de fevereiro de 1992, um elogio da imaginao, da escritura: Qu
sentimiento de error interminable... Es el resultado obvio de la situacin. En el estado
febril de esta tarde, en la angustia, trataba de dormir dando vueltas em la cama.... Com
febre, Aira demora a dormir, mas acaba conseguindo: De pronto not que haba
dormido, quiz muy pouco, unos segundos. O una hora. Imposible decidirlo, y adems
no tena la menor importancia. Lo nico cierto era que ya estaba despierto outra vez.
48
Acordado e lembrando do sonho: Saba que haba dormido porque recordaba el sueo:
yo ou alguien desde mi ponto de vista tomaba un helado, creo que de limn por lo
blanco, y en un corpsculo de la crema, en una gota que saltaba, haba hombrecitos....
Com febre, Aira sonha e imagina, apesar de ficar envergonhado, las divertidas o
peligrosas aventuras de los hombrecitos em el helado... (Aira, 1993: 11-12).
Imaginar algo que destoa da vontade de no-escrever e do abandono solicitado
na abertura do dirio. Imaginar e, possivelmente, escrever as aventuras, divertidas ou
perigosas, dos hombrecitos que habitavam o sorvete parece ter pouco a ver com a frase
Nada, nem uma linha, nem uma palavra. Elogiar a imaginao e, ao mesmo tempo,
afirmar o no-escrever no so experincias contraditrias, mas podem sugerir uma
certa radicalidade, caso no articuladas compreenso que Aira tem da escritura.
Pequeno manual de procedimentos abre com um ensaio chamado O a-ban-do-
no, que comea assim: No princpio est a renncia. A referncia ao evangelho de So
Joo e, portanto, ao tom messinico que atravessa o livro bblico sugere, a princpio,
o anncio de uma boa nova, de algo que est por vir. A renncia um acontecimento
importante, uma vez que dela, afirma Aira, nasce tudo o que podemos amar em nosso
ofcio. E sem a renncia, continua ele, nos veremos reduzidos ao velho, ao superado,
s misrias do tempo, cegueira do hbito, s promessas melanclicas da decadncia
(Aira, 2007: 7). Mas a renncia este a-ban-do-no no um mero cessar. Ao
contrrio, a escritura e qualquer outra forma de pensamento (a pintura, a filosofia, a
crtica) se fundam mesmo na busca do abandono escrever buscar, constantemente,
uma maneira de abandonar o escrever: Tudo deve ser inventado, inclusive a renncia a
seguir inventando. Sobretudo a renncia (Idem, ibidem: 8). Abandonar , portanto,
estabelecer uma relao de enfrentamento com o presente. Aira, no Diario de la
hepatitis, explica assim porque no vai mais escrever: No tanto porque me espante el
49
trabajo. Al contrario, lo que me espanta es el vaco de no tenerlo. Es por la maldicin
del proyecto. E continua, dizendo que No puedo escribir sino com um proyecto, y el
proyecto se pone en el futuro, aniquilando el presente, borrndolo. Es un sacrificio de la
vida, en cuotas. Es difcil escapar del proyecto (Idem, 1993: 23-4). Abandonar no
cair no vazio do no-trabalho que o projeto coloca, uma maneira de escapar desta
maldio que rasura o presente, enfim, que projeta a escritura para o futuro.
Em A nova escritura, outro ensaio de Pequeno manual de procedimentos, a
noo de projeto retorna. Ao criticar a profissionalizao dos artistas uma espcie
de perfeio insupervel dentro das premissas de cada arte
21
, Aira aponta duas
alternativas, igualmente melanclicas ou continuar escrevendo, pintando, em
cenrios atualizados ou tentar, heroicamente, dar um ou dois passos. A segunda
alternativa se apresenta como um beco sem sada: Flaubert, Proust e Joyce, por
exemplo, levaram anos escrevendo uma nica obra, num trabalho inumano, que invadiu
suas vidas. Mas Aira sugere uma terceira alternativa, a vanguarda. No a recuperao da
vanguarda histria, mas de seu gesto entusiasmado. Na explicao dele: fincar o p
num campo j autnomo e validado socialmente, nele inventando novas prticas
(Idem, ibidem: 11-12). Aquilo que, porm, mais interessa a Aira a noo de
procedimento, a vanguarda como agenciadora de procedimentos:
Se a arte tornou-se uma mera produo de obras a cargo daqueles que sabiam e
podiam produzi-las, as vanguardas intervieram para reativar o processo, a partir
de suas razes, sendo que o modo de fazer isso foi repor o processo ali onde se
havia entronizado o resultado. Essa inteno, em si mesma, arrasta os outros
pontos: que possa ser feita por todos, que se desvincule das restries
psicolgicas e, para dizer tudo de uma vez, que a obra seja o procedimento
para se fazer obras, sem a obra. Ou com a obra, mas s como um apndice
21
Embora Aira comente o romance profissional entre outros, o de Balzac, Dickens e Tolstoi , a idia
da profissionalizao estendida a outras artes.
50
documental que sirva apenas para deduzir o processo do qual saiu (Idem,
ibidem: 14, grifos meus).
A mera produo de obras, resultado da profissionalizao uma srie de obras
feitas a partir de procedimentos de uma perfeio insupervel uma experincia
que coloca em risco a historicidade da arte, uma vez que encerra o histrico ao
contedo no h, assim, o enfrentamento do presente, mas a repetio de um
enfrentamento passado. A vanguarda, ao agenciar os procedimentos, reativa o
processo. Na verdade, pode-se afirmar que o procedimento ready-made,
construtivismo, acaso, indeterminao, cut-up, dodecafonismo, escrita automtica,
abandono, entre outros o processo em funcionamento. Agenciar um procedimento
a possibilidade de escapar do projeto e do adiamento que ele capaz colocar a obra no
futuro, borrando o presente e, ao mesmo tempo, de escapar da repetio melanclica
do passado. E o procedimento, ao desvincular a obra das restries psicolgicas,
permite que a obra possa ser feita por todos. H uma referncia conhecida frase de
Lautramont (A poesia deve ser feita por todos) e uma leitura interessante de Aira a
de que o artista deva ser um homem qualquer, livre de toda e qualquer noo de
talento, estilo, misso, trabalho e outras torturas mais (Idem, ibidem, 12). Ao agenciar
um procedimento, o artista esquiva-se dos procedimentos tradicionais e da alternativa,
um tanto herica, de dar um ou dois passos como fizeram Flaubert, Proust e Joyce
e recoloca o processo inventivo no lugar da produo de obras.
Diario de la hepatitis no um dirio sobre a hepatite. No um dirio escrito
como uma fora-mais no desperta interesse sobre o autor, uma vez que no h quase
nada sobre o autor e, portanto, quase nada sobre a experincia da doena. Diario de la
hepatitis o meio-caminho entre a reflexo sobre a escritura e a escritura um dirio
51
feito para ocupar o estreito espao que separa escritura e obra
22
. Um espao que
Barthes, no ensaio Deliberao, chama de lbum, uma coleo de folhas no apenas
permutveis (isso ainda no seria nada), mas principalmente suprimveis ao infinito
(Barthes, 2004: 459). Um espao que ele, no mesmo ensaio, define como limbo do
texto, com uma forma inconstituda, inevoluda e imatura (Idem, ibidem: 461).
Dirio de la hepatis uma escritura ambivalente: visita o espao ficcional e o da
reflexo, sem ocupar nenhum deles, mas o estreito espao que os separa limbo do
texto, um tipo ento de escritura limiar. Por um lado, a obra de Aira ensaia o abandono
da escritura na escritura, fazendo, de certa forma, uma cena e, por outro, elogia a
imaginao, numa cena crtica como no h espao para a narrao da pessoa (do
heptico), o dirio escrito por um fazedor de cena que reflete sobre sua composio.
Mas esse fazedor de cena um doente que escreve um dirio da hepatite, no
um dirio do abandono. Imagina-se que Aira, naquele fevereiro de 1992, estivesse
mesmo com hepatite h inclusive, na ltima pgina do livro, uma ilustrao de Aira
deitado numa cama, de pijama, com uma mquina de escrever no colo, digitando a
ltima frase do dirio: un ovillo em el po. Fin e que, doente, tenha escrito Diario de
la hepatitis. Porm a hepatite no est a (a febre aparece uma vez e a epilepsia, que
parece nada ter a ver com a inflamao no fgado, outra). Pode-se imaginar que Aira
solicite a hepatite para representar um projeto artstico doente, j que o abandono e o
silncio so quase to frteis e viveis quando se podia imaginar em uma poca
doente (Sontag, 1987: 19). Um projeto que, segundo Aira, nos reduz ao velho, ao
superado, cegueira do hbito, s promessas melanclicas da decadncia (Aira, 2007:
7). A hepatite, ento, seria a representao disso. Sabe-se que a hepatite a inflamao
22
A citao de Barthes, em resenha sobre o livro Le journal intime de Alain Girard. A passagem da
citao: (....) feito para ocupar o estreito espao que separa escritura e obra, nem por isso deixou de
constituir-se rapidamente, sob a presso da histria e da sociedade, em gnero plenamente literrio: o
paradoxo do dirio ntimo precisamente o de ser um gnero (Barthes, 2004: 161).
52
do fgado e que esse rgo, por sua funo reguladora, responsvel pelo controle
metablico, pela coordenao fisiolgica: receber e armazenar nutrientes e a partir deles
produzir substncias como protenas e lipoprotenas, neutralizar de substncias txicas,
entre outras funes importantes a alterao do metabolismo causa, entre outras
coisas, a febre, o mal-estar, a falta de apetite e o desnimo.
Imaginar que a hepatite represente uma compreenso artstica que necessita ser
abandonada, porque doente, usar a doena para qualificar, de forma negativa, as
coisas um significado projetado na doena e ela assim projetada no mundo.
Imaginar isso compreender o abandono como um empreendimento de sade, como
uma medida teraputica. Sontag, ao lembrar do elogio de Mandelstam a Pasternak,
ilustra isso: Ler os versos de Pasternak como limpar a garganta, fortifica a respirao,
encher os pulmes; tal poesia deve ser boa para a sade, uma cura para a tuberculose
(Sontag, 1984: 95). Assim, escolher o abandono seria a possibilidade de regular, outra
vez, o metabolismo do corpo e eliminar o desnimo o abandono deve ser bom para a
sade. Em outras palavras, pensar o abandono como um gesto de sade seria, portanto,
pens-lo como uma insero curativa capaz de animar dar nimo um cenrio
artstico considerado ento doente.
Martin Jay, no ensaio El modernismo y el abandono de la forma, afirma que a
histria do modernismo foi escrita, na maioria das vezes, como el triunfo de la forma
sobre el contenido, la apoteosis de la autorreferencialidad sobre la representacin o
expresin de algo externo a la obra misma (Jay, 2003: 273). Isso acontecia ora
elegendo a forma como principal qualidade da obra, ora desaprovando-a essa
modernidade artstica pareceu s vezes coincidir com a diferenciao entre forma e
contedo, transformando-a em critrio exclusivo de significao e valor. Jay, no mesmo
ensaio, apresenta cinco sentidos diferentes que a noo de forma teve na esttica e,
53
sobretudo, da repercusso que esses sentidos tiveram na histria da modernidade. No
primeiro deles, a forma significou proporo, harmonia e equilbrio entre as partes que
compem um objeto qualquer a boa forma da arquitetura de Le Corbusier, com
seu elogio da medida e desdm pelo ornamento. Forma tem um segundo significado
que diz respeito quilo que se oferece aos sentidos em oposio ao contedo
transmitido: a harmonia, no sentido de acento musical, de certa poesia seria um
exemplo. A forma significou ainda o contorno ou a silhueta de um objeto em oposio
ao seu peso, a sua textura e a sua cor com a imposio das linhas e das figuras
autnomas, Malevitch e Mondrian revelam esse significado. Numa quarta significao,
a forma foi sinnimo daquilo que Plato chamou Idia e Aristteles entelquia a
essncia da alma, o estado realizado de um ser: Kandinsky evocou com sua pintura
abstrata um essencialismo religioso e certas noes metafsicas. Por fim, a forma
significou a capacidade da mente de impor uma estrutura ao mundo das sensaes a
obra ordenaria o caos do mundo exterior e/ou interior, dando-lhes uma forma.
As noes relacionadas com a sade aparecem em quase todas as concepes de
forma: diretamente equilbrio, harmonia, ordem ou no a boa forma da
arquitetura a condio do bem-estar, da ordem que no existe nas casas que arrunam
nossa sade. Esse projeto formalista no deixa de se apresentar ou de sugerir sua
ligao com a experincia da sade, numa espcie de compreenso assptica da arte.
Pensar ento que Aira elege a hepatite como representao de uma poca doente e,
portanto, de uma arte doente fili-lo, de algum modo, a esse projeto moderno
formalista. Mas a esttica do abandono e os procedimentos que Aira agencia em
sua escritura no buscam equilbrio, ordem, harmonia ou boa forma. No que a
escritura dele procure, ao agenciar certos procedimentos, um impulso radicalmente
antiformalista: contra uma noo de assepsia, uma de spsis a experincia da doena
54
destruiria assim a harmonia formalista. Mais interessante pensar que Aira solicite a
hepatite como fora capaz de desestabilizar um cenrio assptico demais, um cenrio
em que a profissionalizao dos artistas possibilitou uma perfeio insupervel a
experincia da doena parece chegar e perturbar uma ordem que at ento se
apresentava de maneira segura, com uma sade considervel.
No Diario de la hepatitis, Aira escreve que en la prosa todo es parntesis e
continua, afirmando que La prosa es el mecanismo de los parntesis. Sua definio de
escrever interessante: Escribir es entrar em el reino encantado de las adivinanzas.
Adivinanzas. Parntesis (Aira, 2007: 34). Um parntese o acrscimo de uma
informao no-essencial, uma digresso, um tempo pedido numa conversa. Mas a
prosa como um mecanismo de los parntesis suspenso de uma linearidade, o
acrscimo de uma informao que desvia e surpreende o pensamento, criando um mal-
entendido, que para Aira a entrada para a escritura. Diz ele em outro ensaio do
Pequeno manual de procedimentos: Porque entender pode ser uma condenao. E no
entender, a porta que se abre (Idem, 2007a: 40). Pensar que tudo na prosa
parntesis ento a possibilidade de escapar da redundncia da forma-romance que
tranqiliza os acontecimentos, dando-lhes uma ordem e assim propor uma srie de
adivinanzas, que tornam as histrias uma experincia cheia de sobressaltos.
Parece no haver, quando a prosa um mecanismo de los parntesis, a
preocupao com a verossimilhana das experincias Aira figura um acontecimento
bastante inverossmil para depois desdobrar a fico at tornar aquilo tremendamente
verossmil, e depois mais uma volta no parafuso faz a coisa ficar inverossmil
(Azevedo, 2007: 6). Escrever entre parntesis indeterminar situaes, espaos e
personagens descrevendo-os a partir de qualidades ou aes contrrias e/ou afirmando
uma coisa e, logo em seguida, dizendo outra. Em As noites de Flores, ao explicar os
55
argumentos tangenciais usados por um personagem-artista, na defesa de artistas
jovens considerados verdadeiros farsantes por outra personagem-artista, o narrador
afirma que mesmo que a qualidade intrnseca das obras pudesse deixar a desejar, eles
criavam, em sua inteno geral, um estmulo para a vida e para a criao. A passagem
que poderia figurar no Diario de la hepetitis, ou em algum ensaio de Aira, encena um
parntesis: Na verdade, estava mentindo. Ele gostava de arte contempornea porque
gostava (Aira, 2007: 172). A tautologia gostar por gostar no invalida o argumento
do personagem-artista, mas suspende aquilo que tinha sido afirmado. Escrever entre
parntesis , portanto, inocular uma srie de agentes capazes de provocar uma espcie
curto-circuito na forma, se importando, assim, em repor o processo ao invs do
resultado, entronizar o procedimento ao invs do projeto, enfim, escrever entre
parntesis uma maneira de enfrentar o presente.
A escritura entre parntesis como estratgia discursiva parece fazer referncia,
em certo sentido, a um impulso antiformalista proposto por Georges Bataille na sua
enrgica defesa do informe. Bataille publicou um verbete chamado Informe no stimo
nmero da revista Documents (dezembro de 1929): Um dicionrio comearia a partir
do momento em que no desse mais o sentido mas as tarefas das palavras. Assim,
informe no apenas um adjetivo tendo tal ou tal sentido mas um termo que serve para
desclassificar, exigindo geralmente que cada coisa tenha sua forma (Bataille, 2007:
81). Ao ressaltar o final aberto dos dicionrios a tarefa das palavras , Bataille
lembra que o informe no seria a simples negao da forma ou sua substituio pela
no-forma e que, assim, no pode ser identificado como a simples defesa do contedo
ou do tema o informe opera dentro da forma, e no de fora dela. Uma noo que
pretende desestabilizar provocar um curto-circuito nas noes de equilbrio, ordem,
harmonia e boa-forma e, sobretudo, a idia de redingote matemtico que foi,
56
segundo Bataille, um dos objetivos da filosofia: Seria preciso, com efeito, para que os
homens acadmicos ficassem contentes que o universo tomasse forma. A filosofia
inteira no tem outra meta: trata-se de dar um redingote ao que , um redingote
matemtico (Idem, ibidem). Muito simples seria conceber o informe versus a forma,
porque, como afirma Rosalind Krauss, este versus cumpre invariavelmente as funes
da forma: criar sistemas binrios, dividir o mundo em belas pares dicotmicos (Krauss,
1997: 179). H, ento, um procedimento ou uma estratgia discursiva que atua
logicamente contra si mesma, mas legal, uma vez que segue as regras do jogo.
H uma srie de passagens do Diario de la hepetitis que Aira parece querer dar
um redingote a um monte de acontecimentos e percebe, de maneira irnica, como isso
no possvel. Aira ilustra tal gesto recorrendo imagem do pensamento. Em uma
sexta-feira, ele diz isto: Se me ocurre una nueva aplicacin del continuo: la negacin
del pensamiento... En el extremo de esa negacin hay una afirmacin por la que el
pensamiento vuelve a formarse (Aira, 2007: 31). Aira no figura um versus, porque
no nega que exista o pensamento, mas que exista um pensamento contnuo a vontade
de imaginar a existncia do contnuo pra interrompida no gesto mesmo de pensar
(o contnuo). Interessante o seguimento da passagem: No s como he podido hacerme
este pasatiempo contradictorio de buscar ejemplos de continuo, siendo que los
ejemplos son discontinuos y el continuo no puede tener ejemplos. Esse passatempo
contraditrio encontra transformaciones, que solo pueden aprehenderse em forma de
ejemplos si queremos seguir pensando (Idem, ibidem).
Em outra sexta, Aira confirma a falta de continuidade no sentido de no-
interrompido ao afirmar isto: La ondulacin de la realidade. No, no est bien as.
Debe decirse: la ondulacin. La realidade es adjetivo (Idem, ibidem: 32). A ondulao
faz lembrar outra imagem recorrente no Diario de la hepatitis, as nuvens, que aparecem
57
pela primeira vez no sbado seguinte ao comentrio da ondulacin de la realidade,
como se elas fossem uma ilustrao desse movimento. Aira observa as nuvens:
Despus de una eternidade de nubes en una direccin... Se me haba natural verlas
correr de derecha a izquierda... esa direccin era la forma misma de las nubes.... E
continua observando-as: Hoy al amanecer las veo deslizarse al revs. Vuelven. Voy a
ver todas las nubes que vi. Eso me hace pensar... que no les prest una atencin
uniforme... (Idem, ibidem). As nuvens mudam de direo e isso segundo Aira seria
como se elas mudassem de forma. Mas as nuvens so as mesmas, s que al revs.
Rosalind Krauss afirma que, na defesa do informe, trata-se de criar uma espcie de
contra-jogo, de tal natureza que, dentro do sistema, seja legal um jogo que ela
identifica com a figura do relgio que, a cada segundo, marca a inverso de seus
prprios elementos (Krauss, 1997: 179). Um jogo que poderia tambm ser identificado
com as nuvens al revs. A hepatite ser ento reivindicada por Aira como uma
experincia capaz de provocar um curto-circuito em certa compreenso da arte como
empreendimento saudvel normal, regular, equilibrado e harmnico e, portanto, na
profissionalizao que ela acaba tornando possvel. E isso acontece com a preocupao
de no transformar a experincia da doena em um novo paradigma para a compreenso
da arte, em outras palavras, de no criar mais uma vez sistemas binrios.
58
CAPTULO DOIS: CENAS
59
2.1. Leituras, cenas
Antes de definir cena, foi preciso imaginar uma maneira um procedimento
capaz de articular as experincias da doena e da escritura. Isto, porm, no ocorreu sem
a compreenso necessria do corpus as obras da doena como espao de encenao
e no como justificativa de concepes etiolgicas ou teraputicas e at mesmo de
perspectivas mdicas. A afirmao bvia um corpus especfico exige um
procedimento de leitura especfico. Ressalta-se, portanto, o estar doente antes da doena
em si a doena como um estado. Em outras palavras, apesar de reconhecer as
especificidades de cada patologia, interessantes so as relaes que se desdobram delas
a noo de estado (como algo transitrio, que se articula a outras experincias) que
atravessa as leituras do corpus. Mas foi a partir mesmo da problematizao de um
procedimento de leitura a escritura como exemplo e justificativa de algo que precisa
ser verificado que foi imaginado uma melhor forma de compreender as encenaes da
experincia da doena na literatura.
Franois Laplantine, no interessante Antropologia da doena, afirma que as
representaes da experincia patolgica so construdas a partir da relao que
provm do confronto entre dois campos de conhecimento e de significado, isto , a
partir do encontro que acontece entre o discurso mdico (uma retrica cientfica) e o
discurso do doente (um corpo) (Laplantine, 2004: 13). Este ser definido, usualmente,
pela presena de componentes irracionais de angstia e de esperana e de sentimentos
afins, que so experimentados de dentro. Aquele, ao contrrio, ser caracterizado pela
objetivao da doena atravs de diagnsticos, prognsticos e da teraputica, num
60
discurso que tenta obliterar a espontaneidade do discurso dos doentes (Idem, Ibidem:
14). A objetividade do discurso mdico resultado da dissociao progressiva entre a
doena e o doente que, segundo Canguilhem, a medicina promoveu, ensinando a
caracterizar o doente pela doena, mais do que a identificar uma doena segundo o feixe
de sintomas espontaneamente apresentados pelo doente (Canguilhem, 2005: 24, grifo
meu). A perspectiva de Laplantine importante porque reivindica a presena do doente
nas representaes da experincia patolgica, da uma compreenso que no ir
considerar apenas o discurso da medicina. Estas representaes, portanto, articulam a
doena-sujeito (enunciada na primeira pessoa) doena-objeto (enunciada a partir
de um afastamento), que capaz de transformar as ressonncias subjetivas em noes
cientficas. Da, entre outras coisas, a evidente contaminao que h entre os discursos:
mostrar como o suposto afastamento da cincia ser atravessado por elementos
subjetivos e como a enunciao do doente ser marcada pela objetividade mdica.
A introduo da enunciao subjetiva ir servir para justificar a escolha da
literatura um corpus de obras da doena como uma das formas de representar tal
experincia. Para Laplantine, a literatura interessante porque desenvolve um interesse
especial pelo detalhe do detalhe, pelo microscpico. Interessante, tambm, pelo
rigor da descrio das afeces patolgicas, com uma preciso que impressiona,
segundo ele, tanto a antropologia quanto a medicina. Por fim, como a verdadeira
contribuio do texto literrio medicina, Laplantine sublinha os pontos de vista de
observao a auto-observao (se o prprio escritor estiver doente), enunciada na
primeira pessoa e a observao de outrem (feita por no-doentes e mdicos),
enunciada na segunda e na terceira pessoa (Laplantine: 2004: 24). Entre as duas, o
antroplogo destaca as que foram escritas na primeira pessoa, j que nelas a doena
61
experimentada de forma direta. Estas constituem a obra dos escritores-doentes
Kafka, Katherine Mansfield, Gide e Camus so alguns deles.
Laplantine sabe que a literatura no ir reproduzir as idias mdicas de uma
poca nas descries. A importncia da literatura, diz ele, reside precisamente no fato
de no ser a mera reproduo de idias mdicas de uma dada poca. E continua,
afirmando que a literatura no a retomada (redundante), sob forma de romance, do
que dito, pensando e executado sob forma mdica (ou seja, biomdica) (Idem,
ibidem: 25). Embora seja consciente da no-redundncia, a obra dos escritores-doentes
servir para ele como exemplo e/ou justificativa de um modelo etiolgico-teraputico,
em outras palavras, a literatura ser fonte de acesso doena
23
. Um modelo no o
conjunto das idias mdicas de uma poca, ele uma construo terica, que no pode
ser considerado com um fato. Um modelo construdo a partir de palavras-chave e de
idias-fora (as expresses so de Laplantine) que pontuaram e organizaram todos os
discursos e textos que serviram de fonte para a antropologia da doena: histrias da
medicina, depoimentos de mdicos e doentes, literatura mdica em geral e a literatura.
Enfim, possvel dizer que um modelo, sendo metacultural e abrangente, se aproxima
bastante das perspectivas mdicas (biomdicas) que atravessam uma poca.
H, no caso dos modelos etiolgicos, a construo de dois modelos principais
o relacional e o ontolgico. Aquele modelo acredita que as doenas so causadas por
agentes externos que invadem o corpo elas so acidentes provocados pela presena,
indesejvel, de elementos estranhos ao corpo, que sofre uma espcie de ataque.
Laplantine localiza as representaes nas obras, listando-as: a doena um no-eu,
um ser annimo ou uma coisa. J o modelo ontolgico, ao contrrio, acredita que
as doenas so disfunes do organismo, alteraes que acontecem ou por excesso ou
23
No segundo captulo, Laplantine lista as fontes de sua pesquisa: I. A histria da medicina no ocidente,
II. Entrevistas com os doentes, III. Entrevistas com os mdicos, IV. A literatura mdica destinada ao
grande pblico e V. O acesso doena atravs do texto literrio (p. 21-31).
62
por falta. Nas representaes deste modelo, a doena herana, smbolo e, nas
palavras de Proust, ela uma emanao do prprio sujeito. A lista do antroplogo
interessante, mas desprovida de articulao ele localiza, com preciso, as
representaes daqueles modelos, porm no se preocupa em desdobrar o
funcionamento delas na escritura, uma vez que no investiga como so figuradas, nem
quais sentidos que possa vir a assumir. Esta perspectiva ser capaz de identificar a
doena como no-eu na passagem de Kafka: Minha cabea e meu pulmes conspiram
contra mim, sem que eu saiba (Laplantine, 2004: 53). Mas caberia perguntar se a
mesma passagem no seria, tambm, a justificativa de uma concepo relacional a
doena uma disfuno: pulmes e cabea funcionando de maneira descompensada.
Perde-se um tempo na identificao de modelos ou de qualquer outra concepo
biomdica e a anlise das imagens e de seus desdobramentos no acontece.
A antropologia compreende o corpus de uma forma que no afim
compreenso literria sua especificidade responsvel pela maneira de perceber este
corpus como documento, fonte de acesso e no como experincia que interfere de
inmeras formas na escritura. Este movimento parece excluir outras possibilidades de
enunciao. Ao reivindicar as pessoas do discurso e no problematiz-las de maneira
adequada, a anlise de Laplantine mostra-se incompleta. Qual a idia de enunciao a
configurada? Uma resposta possvel seria imaginar que se a primeira pessoa a pessoa
dos que escrevem a doena porque esto, realmente, doentes, a escritura da patologia
seria compreendida como autobiogrfica. Da a necessidade de identificar sujeito e
autor. Da, sobretudo, a necessidade de verificar buscar provas e elementos que
identifiquem quem fala na escritura com aquele que assina um nome prprio. Melhor,
de examinar a veracidade das informaes patolgicas localizadas na obra e as
confrontaria com a biografia do autor. Para evitar essa compreenso, seria necessrio
63
um afastamento, entre outras coisas, da vontade de classificar os pontos de vista de
observao da doena em auto-observao (enunciado pelos escritores-doentes) e a
observao de outrem (enunciada pelos no-doentes). No seria aceitvel um texto que
escrito por algum doente fosse, num tipo de afastamento, enunciado na terceira pessoa?
E que escritores no-doentes escrevessem a experincia na primeira pessoa?
Uma leitura que busca a identificao entre a voz da escritura e a biografia do
autor simplifica a presena de elementos biogrficos na obra, quando h elementos
biogrficos, e acredita que aquela precisa ser verificada. Isto lembra a condio
necessria para a existncia do que Lejeune chamou de pacto autobiogrfico a
identificao que acontece, atravs de um contrato de leitura, entre autor, narrador e
personagem. Esta noo, radical e simplista, de identidade revista por ele em ensaios
mais recentes. A idia do contrato de leitura sugere regras explcitas, fixas e
reconhecidas de comum acordo pelos autores e leitores, no que, enfim, se revela
insuficiente. A reviso foi sugerida, entre outras coisas, pela noo de espao
autobiogrfico no mais um contrato definido pela verificao de identidade, uma
vez que ele quase nunca cumprido: preciso admitir que possam coexistir leituras
diferentes do mesmo texto, interpretaes diferentes do mesmo contrato (Lejeune,
2008: 57). No espao autobiogrfico, ao contrrio do que acontece no pacto, a
semelhana ser importante, porque ela tornar possvel a suspeita da presena de
aspectos referentes biografia do autor, percebidos como fantasmas reveladores de um
indivduo. A tentativa de definir a identidade falha, uma vez que h apenas fragmentos,
pontos de contato, lacunas qualquer aspecto referente biografia no ir, portanto,
permitir identificaes entre quem enuncia e quem assina a enunciao.
64
Foi a partir mesmo da noo de espao autobiogrfico que uma outra leitura se
faz possvel uma que exige, de alguma forma, a presena do autor e que se transforma,
nas palavras de Leonor Arfuch, no livro El espacio biogrfico, numa dimenso de
leitura de um fenmeno de uma poca. Fenmeno este que se manifesta no interesse
pelas formas biogrficas cannicas, pelos exerccios de ego-histria e pelo gosto por
dirios de filsofos, poetas, cientistas e intelectuais. Interesse que se manifesta,
sobretudo, ao exigir o nome prprio, o rosto, o corpo, a vivncia, a anedota, numa
atitude que indica uma compulso de realidade, uma plenitude da presena (Arfuch,
2002: 51). Compulso e plenitude, que no caso da experincia da doena, como um dos
elementos biogrficos presente nas obras, parece acentuar uma curiosidade mrbida,
que no por menos exige a verificao daquilo que foi enunciado a obra se
configuraria, ento, como um segundo diagnstico.
Era preciso, ento, afastar-se de uma perspectiva que, justificada politicamente,
lembrava a todo tempo a presena de um rosto, um nome, um corpo, uma vivncia e
uma anedota. Da, ao imaginar uma maneira de no compreender a obra como um
segundo diagnstico, a idia de cena. Em primeiro lugar, ela apareceu enviesada, a
partir das leituras que Leonor Arfuch, depois de ampliar a noo de espao
autobiogrfico naquele livro, fez do biogrfico. Ao analisar algumas formas capazes de
rasurar as escritas biogrficas (de rasurar a pretenso de coerncia e identidade delas),
Arfuch lembra as textualidades dispersas, fragmentrias que atravessam Roland
Barthes por Roland Barthes de Roland Barthes. Anotaes, fotografias de famlia com
pequenos textos, fac-smiles, incidentes, listas, comentrios, impresses, esboos
tericos, tudo enunciado atravs da disjuno entre a primeira e a terceira pessoa
(narrado por um outro, pelo ele), capaz de desenhar uma espcie de auto-retrato
alusivo, maneira de uma personagem de romance, desdizendo uma noo radical de
65
identidade (Arfuch, 2005: 265). A afirmao de Arfuch remete primeira pgina do
livro de Barthes, onde a frase destacada aparece manuscrita: Tudo isto deve ser
considerado como dito por uma personagem de romance. A frase j estabelece outra
relao com o leitor, um pacto diferente de leitura, seria melhor dizer, uma sugesto
diferente sei que a minha leitura ser atravessada pela aluso, como se cada fragmento
fosse o comeo de narrativa, e as narrativas escritas a preparao de um romance:
Gostando de encontrar, de escrever comeos, ele tende a multiplicar esse
prazer: eis porque escreve fragmentos: tantos fragmentos, tantos comeos,
tantos prazeres (mas ele no gosta dos fins: o risco da clusula retrica grande
demais: receio de no saber resistir ltima palavra, ltima rplica) (Barthes,
2003: 109).
H um personagem que escreve sobre uma pessoa: Roland Barthes escrito por
Roland Barthes? Poder-se-ia, assim como Barthes, a partir de uma passagem de Balzac,
no ensaio A morte do autor, perguntar se quem fala a o personagem, o indivduo ou o
autor Roland Barthes. E sair de cena, ao responder que a escritura promove um
desligamento, a voz perde a sua origem, o autor entra na sua prpria morte, a escritura
comea (Barthes, 2004: 58). Isolada, a passagem radical. Mas ela traz uma crtica
vontade de explicao que acompanha certas leituras, a vontade de buscar explicao
da obra do lado de quem a produziu, como se, atravs da alegoria mais ou menos
transparente da fico, fosse sempre afinal a voz de uma s e mesma pessoa, o autor, a
revelar sua confisso (Idem, ibidem). E, ao mesmo tempo, a compreenso de que a
escritura um espao de dimenses mltiplas, um tecido de citaes, oriundos dos
mil focos da cultura (Idem, ibidem: 62). A morte do autor , portanto, uma espcie de
abertura s vozes que freqentam a cena da escuta: como saber quem fala na escritura
se aquelas a atravessam? Pode-se, neste sentido, dizer que o autor uma espcie de
66
personagem que fala/encena estas vozes. No um personagem apenas, mas como afirma
Barthes, em fragmento de Roland Barthes por Roland Barthes, retomando a frase que
abre o livro: Tudo isto deve ser considerado como dito por uma personagem de
romance ou melhor, por vrias (Idem, 2003: 136). Muitas vozes, vrios personagens
a cena se configura: entre o eu e inmeros eles, numa narrao alusiva das
experincias, composta apenas de comeos, sem a ltima palavra.
Em segundo lugar, a idia de cena aparece no mesmo livro, no fragmento
chamado Anfibologias. Nele, Barthes afirma que cada vez que encontra uma palavra
dupla deseja que ela conserve seus dois sentidos, como se um deles piscasse o olho
para o outro, e como se o sentido da palavra estivesse nessa piscadela. A escolha da
ao de piscar j sugere uma encenao: um rpido fechar e abrir de olhos que,
atravessado pelo desejo, faz com que um sentido flerte com o outro. Qualquer palavra-
dupla significar duas coisas diferentes ao mesmo tempo, semanticamente
desfrutadas uma delas atravs da outra (Idem, ibidem: 86). E uma dessas palavras
listadas por ele cena, de teatro ou escndalo domstico no escndalo h algo da
cena de teatro e vice-versa, enfim, h na cena um movimento entre interior (a
intimidade) e exterior (a dimenso pblica). Esta dimenso aparece, tambm, na
etimologia da palavra: do latim scna, ae, que significa cena, arte dramtica, arte ou
profisso de cmico e do grego skne, s, que tem as seguintes acepes: barraca,
cabana, tenda ou qualquer construo leve para servir de abrigo
24
. Uma cena ,
portanto, a mise-en-scne de algo que deveria, por seu carter escandaloso (sem decoro,
indecente e s vezes bizarro), permanecer escondido.
A disjuno entre as pessoas do discurso, a noo de personagem e das vozes
que atravessam a escritura, presentes na idia de cena, funcionaram como
24
Dicionrio Houaiss da Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001.
67
procedimentos na minha leitura das figuraes de experincias biogrficas da doena.
Enfim, funcionaram como um desvio da plenitude da presena e da vontade de
explicao a obra como segundo diagnstico que, em certo sentido, definem o
fenmeno autobiogrfico. Da, a compreenso da figurao das experincias biogrficas
de forma diferente, num desvio de leituras pactuais e a observao das narrativas de
autores no-doentes as no-biogrficas como cenas, as situaes que remetiam
encenao da doena eram as mesmas: algum que vive uma experincia limite, na
expectativa angustiante de estar por um fio, porque habita os ltimos lugares (os
espaos da doena), consciente quase sempre da fragilidade da vida. Enfim, ser a partir
delas que o autor ir ficcionalizar a experincia da doena, sempre de forma que isto
fique bem evidente h um aviso dizendo que se est diante de um personagem, de um
cenrio, lembrando ento que assisto a um espetculo, a uma encenao.
Interessante na leitura do corpus da doena a identificao dos procedimentos
ficcionais, ou melhor, a identificao de um procedimento, que reivindicado por cada
autor de maneira especfica. Um procedimento que, paradoxalmente, faz questo de
ressaltar que se est diante de um procedimento, que, enfim, mostra seu funcionamento:
assume a mscara literria, mas ao mesmo tempo a aponta com o dedo
25
. Apontar a
mscara evidenciar a dramatizao da experincia: avisar ao leitor, no s atravs de
indicaes diretas, mas, sobretudo, por meio de outras estratgias, agora indiretas. Alm
de narrar experincias, narra-se um processo no que, assim, a presena deste anule a
figurao daquelas, porm aquilo que deveria estar escondido, que sob hiptese alguma
seria mostrado, faz a partir da parte da mise-en-scne. Isto se observa em relao ao
personagem que se assume como personagem, apontando a mscara e ao espao
que passa a ser um elemento autnomo, quase outro personagem. E se reflete, portanto,
25
Esta afirmao, que Roland Barthes fez em ensaio sobre Zazie no metr, livro do francs Raymond
Queneau, interessante, pois, de certa forma, define este procedimento (Barthes, 2009: 188).
68
em relao participao do leitor, que no ser mais envolvido, no sentido de se iludir,
mas ser um espectador, percorrendo a escritura ao invs de tentar conform-la a
alguma experincia. Isto provoca um estranhamento, uma vez que no se est mais
diante de uma narrativa que se apresenta como um continuum, onde as aes so
conseqncias das aes anteriores, numa forma de figurao que deseja um
envolvimento total do espectador.
Peter Szondi, ao comentar os efeitos de distanciamento em Brecht, lembra de
uma passagem do Pequeno organon, em que se prope que os gritos dos jornaleiros no
auditrio interrompam a ao e a comentem: Como o pblico no deve ser convidado a
se lanar no enredo como em um rio, deixando-se levar indefinidamente pra l e pra c,
os diversos acontecimentos devem ser amarrados de sorte que sejam evidentes os ns.
E continua, dizendo que os acontecimentos no devem se seguir imperceptivelmente,
mas permitir que o espectador se intrometa neles com seu juzo (Brecht apud Szondi,
2003: 138, grifos meus). Intrometer-se nos acontecimentos, segui-los de maneira
perceptvel desconfiar, em certo sentido, daquilo que est sendo narrado, enfim,
reconhecer uma cena, participar dela.
Roland Barthes, em ensaio sobre a obra de Brecht, sublinha um procedimento
definido por ele como prtica do abalo, que consiste em quebrar a continuidade da
trama das palavras e afastar a representao sem anul-la. Interromper a ao com os
gritos dos jornaleiros praticar um abalo, evidenciar os ns que amarram os
acontecimentos, marc-los de alguma forma. Interessante, na leitura de Barthes, a
imagem do alfinete japons solicitada para explicar o abalo aquele um alfinete de
costureira, cuja cabea munida de um guizo minsculo de maneira que no se possa
esquec-lo na roupa terminada. Brecht espalha, ento, os alfinetes pela pea de
roupa, de teatro porque assim possvel ouvir/ver onde cada acontecimento foi
69
costurado o abalo uma re-produo, no uma imitao, mas uma produo
despegada, deslocada: que faz barulho (Barthes, 2004: 271). Fazer barulho como
fazem os jornaleiros, exigindo, portanto, que os espectadores os leitores participem
da cena, se intrometendo nela.
H ento dois protagonistas: autor e leitor. A compreenso da cena requer,
portanto, a compreenso de cada um deles da forma como se apresentam at naquilo
que se desdobram. Uma definio bsica de autor diz que ele a pessoa que produz ou
compe obra literria, artstica ou cientfica. Em outras acepes, mais prximas da
etimologia da palavra, o autor um indivduo responsvel pela inveno de algo, ele
aquele que origina, que causa algo, agente
26
. Pode-se, a partir da, compreender o
autor como algum que inventa algo histrias, personagens e cenrios e que,
sobretudo, inventa algum para narrar as coisas inventadas por ele. No possvel,
entretanto, esquecer que o autor um indivduo, uma pessoa algum cercado e
envolvido, historicamente, por outros discursos.
Slvio Mattoni, no ensaio Teatro, desenvolve a partir da noo de cena lrica, a
tenso entre autor e a voz que fala na escritura. Nas palavras de Mattoni, este embate
definiria a poesia, que por muito tempo foi adequao ou combate de um frente ao
outro, um que sai de uma poca e outro que entra ou deseja entrar nela pela mesma
porta, e na entrada (umbral) se cumprimentam (Mattoni, 2003: 200). A assinatura do
poema seria resultado, ento, do amvel cumprimento que acontece entre autor e
aquele algum inventado por ele. Porm Mattoni acredita que, desde sempre, seria
possvel haver dois dentro do poema, numa aproximao da obra dramtica. Da
solicitar o coro e compreender assim um poema lrico-dramtico ao invs de pensar
minha relao com os outros, tentar colocar em cena os outros em si, entre si e eu entre
26
Dicionrio Houaiss da Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001.
70
eles (Idem, ibidem: 201). E, portanto, uma conscincia maior do duplo jogo do eu, da
tenso entre autor e personagem e, sobretudo, das vozes que atravessam a escritura.
Mattoni, entretanto, acredita que tal compreenso redundante, uma vez que no
se chega a nenhuma parte, apenas uma volta dada no cenrio: outra vez o que se
apresenta o coro aquelas vozes que falam na escritura e algum que escreve estas
falas. E outra coisa: personagens e personae falam com o mesmo estilo, pois no h
como fazer desaparecer a marca do imitador. A situao agora se configura de maneira
diferente: o coro (poca, tempo, biografias, bibliotecas, experincias) est dentro e o
eu, aquele que sempre havia falado de si mesmo e de suas paisagens, seus desejos e
raptos, cavalheiro glorioso do verso mondico, se retirou quase no atua, se cansou,
enfim, escreve nos ltimos sculos, de forma obsedante, sua despedida da cena (Idem,
ibidem: 201). Pensar assim a noo de autor mais interessante. Por um lado, porque
esta compreenso exige, a todo tempo, elementos dramticos, melhor dizendo,
considera a escritura como um espao que , freqentemente, atravessado por eles e
isto sem quase nunca exigir as noes genricas de modo essencial (antes de se
interessar por elas, pensa-se em um escrito qualquer). Por outro lado, quando se diz
que h uma despedida acontecendo (algum que se retira, pois est cansado de atuar),
no se imagina a reivindicao da morte do autor (uma expulso dele da cena), uma vez
que existe algum ainda falando, encenando sua sada, enfim, h um personagem a
despedida, ao contrrio, uma espcie de abertura para outras vozes.
As reflexes de Giorgio Agamben, no ensaio que escreveu a partir das
consideraes de Michel Foucault sobre o autor
27
, interessam, porque esto prximas
dessa perspectiva. Agamben recorda uma passagem da obra de Beckett que Foucault
reivindica para desenvolver a questo: Que importa quem fala, disse algum, que
27
Agamben se refere, sobretudo, conferncia O que um autor? pronunciada em 22 de fevereiro de
1969 na Sociedade Francesa de Filosofia e publicada no mesmo ano no boletim desta sociedade.
71
importa quem fala. Solicitar Beckett sugere uma compreenso da escritura no como
expresso do sujeito, mas como abertura de um espao em que o sujeito que escreve
no pra de desaparecer, e assim afirmar a contradio que a passagem encerra:
algum que, por muito annimo e desprovido de rosto que se mantenha, proferiu o
enunciado, em outras palavras, o mesmo gesto, que rejeita qualquer importncia da
identidade o autor, afirma, contudo, a sua irredutvel necessidade (Agamben, 2006:
84). A noo de autor compreendida a partir de um paradigma da presena-
ausncia, de algum que encena uma despedida, sendo possvel, ento, falar numa
espcie de morte encenar o papel de morto no jogo da escrita, segundo Foucault, e
na explicao de Agamben: O autor no est morto, mas, erigir-se em autor, significa
ocupar o lugar de um morto. Existe um sujeito-autor e, contudo, ele s se manifesta
atravs dos vestgios de sua ausncia (Idem, ibidem: 88). Da, as duas questes que
perpassam o ensaio como uma ausncia pode ser singular e o que significa, para uma
pessoa, ocupar o lugar de um morto. Ao respond-las, Agamben coloca em cena uma
outra noo, importante para o entendimento da dinmica presena-ausncia do autor, a
de gesto: aquilo que se mantm inexpresso em todos os actos de expresso. Assim, o
autor est presente no texto apenas num gesto que torna possvel a expresso na
medida exacta em que existe nela um vazio central (Idem, ibidem: 91). Um gesto um
movimento corporal, uma expresso singular, um aceno aes afins dramatizao.
Atravs do gesto, as experincias so postas em jogo (joues). Por um lado,
isto est relacionado a um significado teatral a frase, pela acepo de jouer, poderia
ser reescrita: as experincias foram encenadas, recitadas. Por outro, quando isso
acontece, o agente, aquele que pe em jogo a vida, permanece voluntariamente na
sombra a cena ser, ento, montada pelo gesto de algum que no permanece na
obra, que se despede com um aceno no limiar dela, se apresentando como uma
72
ausncia-singular (Agamben, 2006, 93). Isto lembra as afirmaes de Peter Szondi
sobre a no-presena do dramaturgo no drama moderno: Ele no fala, ele institui a
conversao. O drama no escrito, mas posto (Szondi, 2003: 30). Instituir a
conversao, no escrever as falas, mas coloc-las em jogo so gestos, maneiras que o
autor encontrou para ocupar o lugar de um morto, como se deste lugar pudesse
interromper os acontecimentos atravs de um pequeno aceno e depois retom-los. Da,
como gesto, o autor se transforma no ilegvel que torna possvel a leitura, o vazio
lendrio de que provm a escrita e o discurso (Agamben, 2006: 97). Ocupar este lugar,
colocar em jogo as experincias, afirmar-se como abertura, como um espao que, ao
permanecer vazio, torna possvel um outro gesto, o da leitura.
Qualquer leitura provoca pensamentos, uma vez que ela, paradoxalmente,
comea quando se acaba de ler, e sentimentos, que remetem a instantes particulares.
Como afirma Agamben: Por definio, um sentimento, um pensamento exigem um
sujeito que os pense e que os dirige, enfim, uma pessoa que comece a leitura (Idem,
ibidem: 98). A afirmao, um tanto bvia, se desdobra o leitor ocupar na escritura
exatamente o lugar vazio que o autor a tinha deixado, que ele repetir o mesmo gesto
inexpressivo, atravs do qual o autor tinha dado testemunhos da sua ausncia na obra.
Leitor e autor se colocam em jogo na escritura e dela, juntos, se retiram. Este no
seno a testemunha, o garante da prpria falta na obra em que foi jogado. J aquele
no pode seno voltar a soletrar esse testemunho, no pode seno, por seu turno, fazer-
se garante do prprio inesgotvel jogo de faltar (Idem, ibidem: 99). Uma cena ser,
ento, configurada como gesto atravs de uma garantia, pode-se dizer atravs de um
pacto em que ambos ocupam um espao limiar. Uma cena se mostra como cena: pelo
autor que ocupa o lugar de um morto, encenando, interminavelmente, sua despedida,
deixando vestgios de sua presena colocando alfinetes ao longo da pea e pelo
73
leitor que, ao perceber isto, recolhe os vestgios, atualizando a reivindicao do autor. E,
por fim, a cena acontece em um espao que lembrando da noo de palavra dupla de
Barthes e de suas razes grega e latina se apresenta como um limiar, um espao em
que dentro (a intimidade) e fora (a dimenso pblica) so tensionados, em que o autor e
leitor se encontram. E este movimento, ao desdobrar-se em abertura e fechamento,
figura outro movimento, aquele que acontece entre vida e morte.
2.2. Sebastio Uchoa Leite e a descoberta da doena
Sebastio Uchoa leite impossibilita, a partir de um jogo de vozes, qualquer idia
de identificao em sua escritura possvel afirmar que ambigidades, incertezas e
imprecises a atravessem de maneira significativa, confundindo as referncias e
deslocando a leitura para um espao fantasmtico, do provvel e no para um espao
seguro de certezas e possveis verificaes. H um poema chamado Metassombro, do
livro Antilogia, que significativo na compreenso desse procedimento:
eu no sou eu
nem o meu reflexo
especulo-me na meia sombra
que a meta da claridade
distoro-me de intermdio
estou fora de foco
atrs da minha voz
perdi todo discurso
minha lngua ofdica
minha figura a elipse
(Leite, 1988, p. 132).
74
Este poema faz parte de uma srie de poemas que ele escreveu sobre vampiros, e
est publicado em Antilogia, que logo nas primeiras pginas tem estampado a fotografia
do ator Bela Lugosi no filme Drcula. As duas informaes so importantes. Em
primeiro lugar, Antilogia foi publicado no final dos anos setenta, depois de um silncio
de quase duas dcadas e assinala uma mudana radical na maneira de compreender a
figurao da subjetividade nem mais metafsica, como nos seus primeiros livros, nem
tampouco biogrfica, como a poesia marginal, contempornea da publicao de
Antilogia
28
. Em segundo lugar, a contradio encerrada no ttulo e, tambm, na epgrafe,
retirada de um poema de Corbire, que serve de abertura ao livro
29
. Definida como
mistura adltera de tudo, no ser possvel esperar nem clareza, nem exatido de
Antilogia um sistema no-homogneo criado, e as reivindicaes de coerncia no
iro funcionar, como se, lembrando de uma definio de doena, alguma coisa estivesse
a para alterar ou adulterar um funcionamento normal ou saudvel. Depois de
Antilogia, a escritura figura esse procedimento h sempre algo dentro da prpria
estrutura capaz de adulterar um funcionamento normal.
Em relao aos vampiros, pode-se afirmar que Sebastio toma emprestada a voz
deles e tambm de criminosos e outsiders
30
. Emprest-las j introduz uma
problematizao no que diz respeito figurao da subjetividade. Mas ele ainda
empresta a voz de detetives e agentes da lei, aproximando assim figuras, a princpio,
antitticas, que encenam uma interessante troca de lugares, sugerindo um processo em
permanente conflito. Quanto aos vampiros recorrer a eles ser um gesto bastante
sugestivo, porque sua sobrevivncia depende, perversamente, da vida de outrem
28
Sobre tais relaes, conferir o ensaio Seis poetas e alguns comentrios. In: Sssekind, Flora. Papis
colados. Rio de Janeiro, UFRJ, 1998.
29
Mistura adltera de tudo / Cru , porque esteve sempre frito / Vitorioso, fracassado. Essa traduo
de Marcos Siscar (Siscar, 1996: 52-57).
30
Para uma leitura mais detalhada do assunto, conferir: Apresentao. In: Dassie, Franklin Alves.
Sebastio Uchoa Leite. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2010, [p. 9-47].
75
estabelece-se, assim, um movimento entre dentro e fora (eu e outro), que desloca a
noo de interioridade e, portanto, a de transparncia. Mas esta uma relao
problemtica, uma vez que os vampiros no conseguem morder suas vtimas hesitam,
ficam indecisos, tm medo, quando deveriam assustar. As cenas so cmicas e mostram
que a relao dentro-fora definida pela incompletude morder, tomando posse do
outro, no ser uma ao possvel, chega-se apenas perto, avizinhando-se dele.
Interessante que os vampiros no tm a imagem refletida no espelho, no sendo,
portanto, identificveis: a escolha significativa, porque essa experincia fantasmtica
no ser identificado com clareza definir muita das vozes dessa escritura.
Metassombro faz uma referncia ao poema, sem ttulo e bastante conhecido,
do portugus Mrio de S-Carneiro. Metassombro pode ser lido como uma reescritura
que Sebastio fez dele ou uma verso adulterada. A verso original do poema: Eu no
sou eu nem sou o outro, / Sou qualquer coisa de intermdio / Pilar da ponte de tdio /
Que vai de mim para o Outro (S-Carneiro, 1993: 74). Definido, de forma paradoxal,
atravs de uma expresso indefinida e tambm como ponte, lugar de passagem, no
h como tentar uma identificao. A mesma experincia se d em relao ao que fala
em Metassombro. Ele no tem reflexo: consegue apenas especular-se na meia
sombra. Parece complicado especular-se estudar com ateno, pesquisar, investigar
num espao de penumbra, se a especulao precisaria de luz e, portanto, seria mais afim
clareza e exatido. Pode-se afirmar que quem a fala tem apenas uma idia vaga
sobre si mesmo e uma idia bastante vaga, pois sua imagem distorcida, revelado
num espao que est entre, da talvez o estar fora de foco.
A leitura do poema sugere que a perda de foco de definio esteja relaciona
com a voz: estou fora de foco / atrs de minha voz. E isso torna a identificao ainda
mais complicada a falta de nitidez poderia resultar do gesto de se esconder atrs da
76
minha voz. Da, numa leitura possvel, a relao do esconder-se com a perda de todo
discurso, que no significa um elogio do silncio, da mudez. E, por fim, se a minha
figura a elipse, imagina-se que termos do enunciado foram suprimidos mas se, em
casos normais, os termos so facilmente identificados, aqui, ao contrrio, num espao
de indeterminao, ser mais um elemento capaz de confundir. Interessante que a
figurao desse espao e a perda de referncias a configurada resultado de um uso
bastante irnico da primeira pessoa um eu que no eu, e que faz questo de no se
definir e dos possessivos, que estabelecem, em alguns casos, um tipo estranho de
posse. A quantidade de referncias que, ao invs de referenciar, no referencia faz
com que seja complicado responder, com absoluta certeza, quem fala a: sabe-se,
fazendo referncia ao ltimo verso, que ele uma figura, uma imagem nada ntida.
Em uma entrevista, concedida dois anos antes de sua morte, em resposta a
presena de dados biogrficos nos poemas, mais especificamente sobre a presena da
doena, Sebastio Uchoa Leite lembra-se de duas cirurgias menores e duas cirurgias
cardacas graves. Na resposta, ele no faz referncia descoberta da doena, aos
exames, espera em consultrios, s internaes, aos remdios e recuperao. Enfim,
ele no se refere aos procedimentos etiolgicos, rotina desgastante experimentada pelo
doente a doena relacionada a um procedimento teraputico radical, a cirurgia.
Porm, na mesma resposta, Sebastio afirma que, sem dvida, os poemas falam de
problemas meus de sade, alguns menores, mas outros graves, como os problemas
respiratrios
31
. A curiosidade biogrfica ser, em certo sentido, amenizada aquilo
que ele no menciona na entrevista encenado nos poemas que falam da doena,
poemas que atravessam seus quatro ltimos livros.
31
Ser isso? In: Sebastio Uchoa Leite conversa com Fabrcio Marques. In: Suplemento Literrio,
Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, n. 75, p. 7-20, Belo Horizonte, set. 2001.
77
A doena aparece pela primeira em A uma incgnita, numa parte com dez
poemas chamada Animal mquina. Nela, o corpo anda mal e perde o equilbrio
(Acordo no taco / Atnito / Com a queda / A marca no queixo / (Resvalado em quina: /
Um jab), afirma em Uma queda), as viagens so perdidas (No alto de Praga / Nem
viu a casa de Kafka, confessa em O turista inconfessvel) e o sujeito acaba no
hospital de novo. Em Animal mquina, portanto, a doena descoberta: o que estava
em silncio uma incgnita apresenta-se a partir de agora com mais potncia. Insnia
respiratria encena tal descoberta: Antes nunca / Ouvira o invisvel poema / Do
respirar: no / Ouvia nada / S o silncio dos rgos / Mas o segredo da vida / Era isso /
Quando ningum / Se lembra do corpo. Alm da referncia a um verso de Rilke
(Respirar: invisvel poema), que adquire um sentido particular para ele, h no
poema uma concepo de sade relacionada ao silncio. Est em jogo em A uma
incgnita a encenao de uma experincia que faz o sujeito lembrar-se do corpo,
perceb-lo a partir de um funcionamento que se pode dizer rumoroso.
Publicados depois de A uma incgnita, A fico vida, A espreita e A regra
secreta so livros em que a doena j no um acontecimento entre outros ela uma
presena incmoda, encenada agora em seu desenvolvimento e no mais em seu estgio
inicial. Da a narrao da experincia patolgica ser a narrao de internaes e da
expectativa da morte (a passagem para o outro lado). Em A fico vida h um doente
entre a vida e a morte logo no poema de abertura do livro A fico morte e na
internao da srie Incertezas um doente que est sempre por um ou por vrios fios,
todo em fios, como afirma em Certa luz. A doena atravessa A espreita, mas de
forma um pouco diferente. Ao mesmo tempo em que h uma quase-recuperao o
doente ensaia pequenos passeios pelo Recife e Rio de Janeiro, com um olhar prximo
ao olhar convalescente do homem da multido de Poe h uma interiorizao e a
78
conseqente diminuio na capacidade de interveno no meio muitas so as cenas
em que o doente est numa cama, auto-especulando-se, numa atitude de espreita
experincia que figurada atravs da sada de seu prprio corpo (vejo-me / como se
estivesse fora de mim mesmo). Em A regra secreta, a auto-especulao e a
proximidade da morte so encenadas nos poemas da srie Memria das sensaes
numa escritura que, ao reivindicar a vertigem, reflete sobre a vida como um filme de
breve durao, em que tudo se esvai sem sentido e na srie Dentro e fora da UTI,
que narra outra internao, agora mais radical do que a figurada em Incertezas.
possvel acompanhar o desenvolvimento da doena, notando sua evoluo
livro a livro, desde as quedas e desmaios at a proximidade da morte, passando pela
interiorizao que tal experincia ir provocar. Esta leitura, que acompanharia a doena
atravs da publicao dos livros, seria justificada pelo desenvolvimento temporal e,
portanto, espacial (numa espcie de avano pela geografia corporal do sujeito) que a
define h mesmo algum que, de livro a livro, a experincia patolgica se torna visvel
(do invisvel poema / Do respirar). Porm esta leitura, ao preocupar-se com a
identificao dos estgios patolgicos conduzida, entre outras coisas, pela idia de
verificao ignora os procedimentos a utilizados e, sobretudo, no compreende que a
incorporao de elementos biogrficos, nos poemas que falam da doena, ser a todo
instante rasurada e/ou dissimulada, numa tentativa
32
de torn-la menos visvel (outra vez
o verso de Rilke), mas nunca com o desejo de apag-la da cena.
Pode-se dizer que a voz do doente que a fala um desdobramento das reflexes
sobre a figurao da subjetividade que as vozes dos vampiros e detetives encenavam.
Elas so praticamente abandonas, mas no o procedimento. H, no caso do emprstimo
32
Esta tentativa de restituir a invisibilidade do funcionamento dos rgos, melhor dizendo, a tentativa
de torn-lo outra vez silencioso pode, em certo sentido, ser um das agncias da literatura. Segundo Gilles
Deleuze, no ensaio A literatura e a vida, aquela aparece, ento, como um empreendimento de sade:
no que o escritor tenha forosamente uma sade de ferro, mas, continua Deleuze, ele goza de uma
frgil sade irresistvel (Deleuze, 1997: 14-15, grifos meus).
79
das vozes, uma espcie de teatro de bonecos h algum no comando que no faz
questo nenhuma de esconder os fios, como se dissesse: est-se mesmo diante de uma
encenao. Isto se aproxima muito do que Luiz Costa Lima chamou de regime de
palco desnudado i.e., de ator que declara sua condio e, atravs deste artifcio, admite
a expresso de estados doutro modo interditos (Lima, 1999: 175). H sempre
elementos que sugerem, de uma forma ou de outra, que uma encenao est
acontecendo. Um dos poemas da srie Incertezas chamado Antipotica de Houdini:
Atado pelos pulsos na cama
Arranco os fios noite?
Mal acordo
E sou o Arranca-Fios!
Estude os ns
Tudo desatvel
Pela ateno paciente
Sou Houdini, o mgico
Mas jamais afundaria nas guas
Acorrentando numa pedra
(Leite, 1993: 19).
Harry Houdini o nome artstico de um dos mais famosos mgicos, performer e
ilusionistas dos Estados Unidos. Entre as vrias profisses que teve, destaca-se a de
ferreiro, uma vez que foi assim que aprendeu seus truques mais fantsticos. Ele era
famoso por se libertar de algemas, correntes e cadeados dentro de caixas ou tanques,
com ou sem gua. Houdini conseguia ficar muito tempo sem respirar, habilidade que o
ajudava no truque de submerso em gua da sua incrvel resistncia torcica. Mas,
curiosamente, foi depois de uma apresentao deste tipo que ele, golpeado no trax por
um boxeador, morreu as pancadas romperam seu apndice e Houdini, depois de uma
semana em um hospital de Detroit, acabou no resistindo. Internado num quarto de
80
hospital, atado pelos pulsos a uma cama, o doente do poema se diz um arranca-fios
ele talvez aproxime essa experincia quela de estar numa caixa, ou num tanque,
acorrentado, algemado e cheio de cadeados, como o performer ficava. H a criao de
uma cena estar doente e arrancar os fios dormindo, ser Houdini, o mgico. H, ao
mesmo tempo, a recusa num tom bastante irnico de afundar nas guas com uma
pedra presa no corpo. Enfim, h a recusa do truque que o caracterizou e tornou o mgico
famoso mundialmente, uma vez que o doente parece estar consciente dos limites que a
experincia da doena capaz de impor
33
.
Em Investigar-se, poema de A uma incgnita, ele tambm se identifica com
outro personagem, agora um detetive. Este poema parece narrar a volta ao hospital,
possivelmente uma segunda internao (Animal mquina, parte onde Investigar-se
est includo, a encenao da descoberta da doena idas e vindas so, portanto,
normais) Da, ele dizer o seguinte: De volta ao local / No a vtima / Mas o Dick Tracy
de si mesmo / E dos signos qumicos / Com o radar caracol / De dvida metdica.
Munido de uma aparelhagem bizarra, o doente algum que se investiga, e a doena,
assim, uma experincia que ir possibilitar um conhecimento: ele tentar descobrir
algo nomear a doena, buscar sua causa e at mesmo imaginar um tratamento possvel
atravs de uma observao, de um exame. Acontece, porm, que diagnsticos e
prognsticos so sustentados por uma sucesso de pesquisas clnicas e experimentais,
de exames de laboratrio, no decorrer dos quais os doentes foram tratados no como os
sujeitos de sua doena, mas como objetos (Canguilhem, 2005: 24). Uma investigao
mdica sustenta-se ento na recusa da apresentao espontnea dos sintomas feita
pelo doente, ou seja, na dissociao entre doena e paciente. Mas a investigao
solicitada no poema configura um tipo de dissociao, quando utiliza a forma
33
Georges Canguilhem, num dos ensaios de Escritos sobre a medicina, afirma que, ao contrrio do estado
de sade, o estado patolgico a reduo da latitude inicial de interveno no meio, ou seja, a
afirmao de um limite imposto (Canguilhem, 2005: 65).
81
pronominal si para definir uma ao que, a princpio, seria reflexiva, a ao de
investigar-se. Esta no pode ser comparada s exigncias mdicas (lembre-se que ele s
tem um radar caracol), porm ser a partir disso que um afastamento ser figurado,
como se o doente tivesse a chance de sair do corpo e assim poder examin-lo com mais
cuidado desviar-se do corpo e criar um espao de dramatizao.
Com a experincia da doena, as referncias ao ver-me na poesia de Sebastio
tornam-se muito recorrentes. Este doente v-se fotado em fotografias antigas, e espanta-
se com a ao do tempo, num dos poemas da srie Memria das sensaes, do livro A
regra secreta. E, na mesma srie, ele v-se em p/b na fita do circuito interno de
segurana de um banco, espanta-se tambm e afirma: no sou mais o sujeito da ao,
mas agora o objeto de observao sendo analisado. E depois diz: eu no eu nem sou o
outro, sou e no sou, mas sou (Leite, 2002: 20). Apesar de afirmar que no mais o
sujeito da ao, ele mesmo quem faz a anlise do objeto, que, na verdade, ele
prprio. Enfim, ele no apenas o espectador de si mesmo, uma vez que quem observa
julga e examina, participa ativamente da experincia. Investigar-se , portanto, afim ao
observar-se do poema, e ser tambm prximo do espreitar, presente em muitos dos
poemas de A espreita. Um outro assim bastante significativo:
(quando acordo no entressono vejo-me
como se estivesse fora de mim mesmo
uma espcie de susto:
ali estou eu
parado como se fosse um outro
contratado para cometer um crime
quero voltar para dentro do sono
dentro do subsolo da mente
onde me jogo
e me dissolvo
e me abandono)
82
(Idem, 2000: 64)
No h mgicos nem detetives, mas ele prprio, como se fosse outra pessoa,
prestes a cometer um assassinato, ou melhor, um auto-assassinato. Mais uma vez ele sai
do corpo, se v fora de mim mesmo entre dentro e fora, a experincia de espreitar-se
cria um espao indeterminado, o do entressono. Situao possvel porque na ao de
espreitar convivem as idias de explicao espreitar observar com ateno e de
ocultao espreitar observar s escondidas. Interessante que todas as aes que se
relacionam, de uma forma ou de outra, com a vontade de auto-reflexo so tentativas
frustradas: ser Houdini esbarra nas limitaes do corpo-doente; a investigao do
detetive-doente feita com uma aparelhagem bizarra, um radar caracol de dvida
metdica e espreitar uma experincia que assim como especular aproxima duas
aes contraditrias, explicar e ocultar. Enfim, a doena possibilita um movimento de
auto-reflexo, mas um movimento quase sempre interrompido, como se o pensamento
levasse uma espcie de susto intermitente como o aparecimento em si da doena. A
fico morte, que abre o livro A fico vida, uma poema que parece solicitar todos os
outros, como se fosse escrito depois deles ou que parece ter motivado aqueles, como se
fosse escrito primeiro. A fico morte um texto atravessado por sustos, olhares
reflexivos, uma sada do corpo, uma platia e um personagem:
Penso em meu pequeno fim
Ouvirei zumbidos?
Sugado pela zona de vcuo?
Ou zero-corpo
Polidimensional
Subindo ao teto
Espiando-me de cima
Os outros em torno
83
Vozes mentalmente exaladas
Dizem ouvir-se um trinado
Muito alto
Sem zumbidos
Mas a adeus
Morro de susto outra vez
Dentro da morte
(Leite, 1993: 11)
Em um quarto de hospital, o doente faz uma srie de perguntas especula se
ouvir zumbidos, se seu corpo ser sugado ou zerado, desmaterializado. Assim, ele sobe
ao teto, espia-se de cima, v os que zelaram por ele e escuta vozes que, entre outras
coisas, dizem que no h zumbidos, mas um trinado, quando a passagem se completa.
Por um lado, quase todo poema se parece com relatos de pessoas que escaparam da
morte, porm toda atmosfera desfeita no fim do poema, quando o doente acorda
assustado. Fim este que todo construdo a partir de trocadilhos: o adeus no ser
vida, mas morte e morre-se de susto apenas uma vez, e Dentro da morte. A ironia,
que atravessa os ltimos versos, faz com que uma possvel inflexo confessional seja
neutralizada. Interessante, e recorrente, a reversibilidade da experincia do olhar a
encenada doente, ele sai do corpo, v-se morrendo, torna-se observador da prpria
morte, assiste a uma cena da qual ele faz parte. Esta experincia figura um afastamento
uma atitude de espreita que se repete em A espreita e A regra secreta, em situaes
relacionadas diretamente morte. Afastamento que, quase sempre, figurado a partir de
uma disjuno, que pode ser entre a primeira e a terceira pessoa, na transformao do
doente em personagem, na sada do corpo, enfim, na criao de uma cena.
2.3. Gonalo M. Tavares e a percepo do corpo
84
A escritura de Gonalo M. Tavares tampouco ir permitir identificaes simples,
uma vez que figura um espao da probabilidade e de incertezas. Um poema chamado
palavras, actos, publicado no livro 1, apresenta de maneira singular um procedimento
enunciativo recorrente. palavras, actos est includo numa seo chamada
Autobiografia uma srie de doze poemas em que ele narra certos acontecimentos,
coisas que aprendeu, lembra de outras que no gostava. Imagina-se, enfim, que os
poemas narrem sua vida, numa espcie de autobiografia. Mas palavras, actos
suspende esta hiptese e sugere outra leitura mais interessante:
A ironia ensina a sabotar uma frase
Como se faz a um motor de automvel:
Se retirares uma pea a mquina no anda, se mexeres
No verbo ou numa letra do substantivo
A frase trgica se torna divertida,
E a divertida, trgica.
Este quase instinto de rasteirar as frases protegeu-me,
Desde novo, daquilo que ainda hoje receio: transformar
A linguagem num Deus que salve, e cada frase num anjo
Portador da verdade. Tirar seriedade ao acto da escrita
Aprendi-o na infncia, tirar seriedade aos actos da vida
Comecei a aprender apenas depois de sair dela, e espero
Envelhecer aperfeioando esta desiluso.
(Tavares, 2005: 163).
As acepes de sabotar so parecidas quase todas elas afirmam que sabotar
provocar algum dano, interromper ou retardar, de maneira criminosa e oculta, o
funcionamento de alguma instalao, que pode ser uma ferrovia, uma fbrica ou um
quartel-general sabotar desestabilizar, portanto, um processo disciplinar e
normativo. Gonalo sabota uma frase, que estruturada segundo uma norma, e a
sabotagem faz-se atravs da ironia uma ao que mexe no verbo ou numa letra do
85
substantivo, flexionando-os, portanto, e transformando a frase em seu contrrio,
adulterando-a. A ironia dobra a frase, dando rasteiras nela, e isso faz com que nem a
linguagem se torne um deus salvador, nem a frase anunciadora da verdade. A
desmistificao da linguagem-frase, em clara referncia ao novo testamento, a
confirmao de sua capacidade de fazer apenas aluso s coisas a linguagem aqui, ao
contrrio da anunciao crist, no ir se transformar nas coisas. No h como acreditar,
ter f numa autobiografia que recuse a verdade como dar f ento a algum que
rasteira as frases que escreve. A linguagem e a frase como portadoras da salvao e da
verdade recusam o espao que h entre as coisas e os nomes das coisas, e Gonalo
escreve sua autobiografia reivindicando esse lugar.
Pedro Eiras, no livro que escreveu sobre Gonalo, A moral do vento, ao
comentar um poema de Investigaes Novalis (que termina afirmando que Deus recusa
o intervalo), lembra de uma afirmao de Espinosa por no mentir, Deus no pode
criar fico. Assim algumas coisas ficam vedadas a Ele. Pedro as lista: o intervalo, a
fico, a quimera, a mentira, o sonho. Da, portanto, uma srie de outras coisas tambm
no-permitidas: a literatura, a anedota, a ironia, o sub-reptcio, o inconsciente, o lapso, o
gaguejo, o truque de magia, o arrependimento (Eiras, 2006: 73). Pedro lembra, a partir
de Deleuze, a importncia do intervalo, uma vez que no interessam as categorias nem
as definies, mas as zonas indecisas e palavras, actos parece se inscrever nelas. A
referncia dele o ensaio A literatura e a vida, publicado em Crtica e clnica, onde
Deleuze reflete sobre o que escrever. E a primeira afirmao dele interessante:
Escrever no certamente impor uma forma (de expresso) a uma matria vivida. Isto
porque escrever um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e
que extravasa qualquer matria vivvel ou vivida (Deleuze, 2006:11). No parece haver
em Gonalo nenhuma imposio, porque a matria vivida sabotada atravs da
86
inverso que a ironia provoca lembre-se do seu instinto de dar rasteiras nas frases.
H a configurao de algo inacabado, de uma escritura que devm, que no atinge uma
forma (identificao, imitao, Mimese), mas que encontra a zona de vizinhana, de
indiscernibilidade ou de indiferenciao (Idem, ibidem). Em outro poema de
Autobiografia, chamado o mapa, ele explica por que resolveu escrever:
Por que optei por escrever? No sei. Ou talvez saiba:
Entre a possibilidade de acertar muito, existente
Na matemtica, e a possibilidade de errar muito,
Que existe na escrita (errar de errncia, de caminhar
Mais ou menos sem meta) optei instintivamente
Pela segunda. Escrevo porque perdi o mapa.
(Tavares, 2005, 161).
A errncia uma forma de devir, uma caminhada sem mapa e, portanto, sem
nenhuma meta, mas ela tambm uma forma de desvio e afastamento. Desviar hesitar
(No sei. Ou talvez saiba), desviar no acertar, perder o mapa e, assim, o destino
de uma viagem. Desviar , sobretudo, valorizar o processo antes do resultado uma
autobiografia escrita a partir da errncia e do intervalo problematizar uma noo, usual,
de autobiografia, melhor dizendo, ela ir propor uma forma diferente de autobiografia,
incorporando as ambiguidades e incertezas do percurso. Forma esta que funciona
melhor, paradoxalmente, a partir de um afastamento lembro que, no poema palavras,
actos, ele aprende a tirar a seriedade dos atos da vida saindo dela, e que emprestar
vozes ser tambm um tipo de afastamento. A literatura parece ser um caminho para a
sada da vida. Deleuze, naquele mesmo ensaio, afirma que a literatura s comea
quando nasce em ns uma terceira pessoa que nos destitui do poder de dizer Eu
87
(Deleuze, 2006:13). A afirmao no significa, porm, o elogio da terceira pessoa em
detrimento da primeira, mas a solicitao de um deslocamento a destituio do poder
de dizer Eu ser feita a partir mesmo de um uso da primeira pessoa, sabotada e/ou
adulterada, num devir-outro da escritura.
As referncias doena na escritura de Gonalo so muitas Livro da dana,
Investigaes. Novalis, O homem tonto ou mulher e 1 so atravessados pela
experincia da doena. Em todos eles, pode-se mesmo afirmar que ela um
acontecimento importante. Gonalo no um escritor-doente at onde se sabe, ele
no sofre de nenhuma patologia crnica, no internado com frequncia, enfim, no
experimentou a doena. A doena na obra de Gonalo seria a doena-objeto da
antropologia escrita com a suposta objetividade clnica da terceira pessoa. Isto, porm,
no acontece: para ele, escrever a doena reivindicar um pertencimento e criar um
espao de reflexo. A parte treze, do livro O homem ou tonto ou mulher, sugere isso:
Tenho doenas no corpo de fora e no corpo de dentro.
Quando cuspo para o cho passo as doenas
de dentro para fora.
Quando for muito velho o meu corpo e o exterior vo ser
quase a mesma coisa.
Quando morrer, eu e o corpo de fora vamos ter
a mesma doena.
Isto pelo menos o que eu penso enquanto estou deste lado.
Morrer ter a mesma doena que o planeta inteiro.
(Tavares, 2005: 28).
Jean-Luc Nancy, em 58 indcios sobre o corpo, pensaria esse corpo estranho
que tem uma parte de dentro e outra de fora assim: Um corpo uma diferena. E
88
continuaria, afirmando que um corpo tambm difere de si (Nancy, 2006: 18). Esse
corpo parece ser formado a partir da relao tensa entre interior e exterior, a partir
daquilo que difere as doenas de dentro e as de fora. No h objetividade clnica, ao
contrrio, o corpo essa diferena entre os lados diferena que , de certa forma, uma
potncia de vida, uma vez que o corpo morre, quando os dois lados no diferem mais.
Enquanto est deste lado, com as doenas de dentro e de fora, o corpo estimulado a
pensar a experincia da doena provoca uma espcie de reflexo, um conhecimento do
seu lugar em relao ao mundo. Outro poema de 1 afirma, de maneira um pouco radical,
isso: A ltima gerao dos filsofos: os doentes. Com a doena, e com as alteraes
que ela provoca, ele passa a ter uma percepo maior do prprio corpo, situao que a
fisiologia chama de propriocepo. Experincia que acaba exigindo uma forma auto-
reflexo di-me a cabea, reconheo-a como minha.
A relao entre corpo e pensamento recorrente na escritura de Gonalo
34
. No
Livro da dana, por exemplo, quando ele diz: Percepo sensao FILOSOFIA e dor no
estmago. Noo concepo pensamento e dor na Fenda dos Filhos, na fenda dos
restos (Tavares, 2008: 59). Pedro Eiras, ao comentar outra passagem deste livro de
Gonalo, passagem que tambm articula filosofia e corpo, afirmou: A filosofia no
uma questo espiritual, nem sequer uma avaria da linguagem. A filosofia um modo de
estar dos corpos (Eiras, 2006: 41). Nesta perspectiva, pode-se dizer, ainda segundo ele,
que o corpo um lugar pronto para o acontecimento do pensamento (Idem, ibidem).
Pronto, ento, para reconhecer que a partir da relao com o mundo com o outro
que uma subjetividade figurada. Um dos fragmentos de Investigaes. Novalis diz:
Se acabou o que no sou Eu, acabou o Eu, pois acabou o movimento (Tavares, 2002:
30). Pronto, tambm, para reconhecer que no os corpos no trocam de lugar o lado de
34
Em O senhor Henri, livro da srie O bairro, l-se o seguinte: se todos os homens tivessem uma boa
condio fsica no haveria um nico filsofo (Tavares, 2003: 15-16).
89
dentro no se transforma no lado de fora, nem o contrrio acontece o meu corpo e o
exterior sero quase a mesma coisa, e no a mesma coisa.
A distncia a diferena entre os espaos observada, ainda, no que diz
respeito idia de propriedade, o meu corpo afirmado pelo doente. Pedro Eiras
comenta que dividido entre ser eu e uma coisa minha, o sujeito distanciou-se vrias
casas de si, mas j nem mais possvel dizer qual destas duas metades o sujeito
(Eiras, 2006: 50). Assim, fica mesmo impossvel identificar o que meu, uma vez que
entre meu e corpo h um desvio, uma diferena. Para ser prprio, diz Jean-Luc
Nancy, o corpo deve ser estranho, e assim encontrar-se apropriado (Nancy, 2006: 21).
E, noutro fragmento, depois de questionar a idia de meu corpo, segundo ele uma
assero muda, que implica certa distncia, chega a afirmar: Na verdade, meu corpo
indica uma possesso, no uma propriedade. Quer dizer, uma apropriao sem
legitimao (Idem, ibidem: 23). A apropriao um termo jurdico que significa
ocupar um espao que estava abandonado a posse de algo sem nenhuma
legitimao, ou seja, um gesto incapaz de produzir efeitos de direito. Esta idia
interessante, uma vez que permite compreender como o corpo se torna estranho de si
mesmo e, desta forma, se apropria. A doena, neste sentido, poderia ser o estado que ,
ao mesmo tempo, ntimo e estranho estado que, solicitando um olhar de fora que se
desdobra numa reflexo dentro, provoca um apropriar-se sem qualquer legitimao.
As reflexes de Nancy sobre a idia de apropriao se aproximam das de Michel
Collot sobre a noo de sujeito lrico fora de si a tentativa de desalojar a
subjetividade tanto da pura interioridade, que caracterizou o pensamento romntico,
quanto da desapario do sujeito, que definiu de certa forma a compreenso moderna.
Para ele, desde Plato o sujeito lrico no se possui, na medida em que ele possudo
por uma instncia ao mesmo tempo a mais ntima de si e radicalmente estrangeira
90
(Collot, 2004: 166). Collot afirma que a idia de possesso far sempre referncia ao
gesto de um outro, seja ele qual for: Fazendo a experincia de seu pertencimento ao
outro, o sujeito lrico cessa de pertencer a si. Longe de ser o sujeito soberano da palavra,
ele se encontra sujeito a ela e a tudo que o inspira (Idem, ibidem). Encontrar-se sujeito,
suscetvel ao do outro uma forma de apropriar-se, permitindo que meu corpo se
torne estranho. Uma noo de alteridade , portanto, figurada no mais proprietrio
legtimo do seu corpo, o sujeito se abre e tal abertura ao mundo e ao outro o torna um
estranho por dentro por fora (Idem, ibidem: 167). Em primeiro lugar, quando
estranho por fora compreende-se que a abertura o comeo de uma reflexo, nunca o
elogio radical do lado de fora ao cuspir as doenas de dentro para fora, o sujeito-
doente estabelece uma relao entre os espaos. Em segundo lugar, quando estranho
por dentro compreende-se que a reflexo, no sentido de plena e inteira conscincia
de si mesmo, no ser possvel a voz do poema de Gonalo suspeita daquilo que
havia afirmado antes: Isto pelo menos o que eu penso quando estou deste lado.
A noo de sujeito lrico fora de si e a idia de apropriar-se sem legitimao
sugerem que a figurao da subjetividade um processo inacabado, sempre por fazer-
se, e a escritura um espao de pensamento. Mas de tipo diferente de pensamento,
como afirma o primeiro fragmento de O homem ou tonto ou mulher: Um livro
uma mquina que pensa por mim / e uma mquina barata. / Mas eu no quero que
pensem por mim sempre / da mesma maneira. Pensar da mesma maneira no deixa
de ser uma forma de pensamento que legitima uma identidade e que, portanto, pode
dizer meu corpo. Mas quem a fala parece saber que a escritura no busca
explicaes, uma vez que ela figura uma cena: Algum me disse que um livro de
poesia diferente. / uma mquina muito mais rpida. / A cada vez que passa, passa de
outra maneira. / Deve ter ps estranhos (Tavares, 2005: 7-8). Em outro fragmento,
91
agora de Investigaes. Novalis, Gonalo define a poesia assim: Est sempre a
comear; / A inaugurar, a fundar, a inventar, a descobrir. / outro rgo do corpo, a
Poesia, no detectado por tecnologias nem por manuais anatmicos (Idem, 2002: 87).
Quando passam de maneira distinta a cada vez que passam, essa mquina ou esse rgo
no-detectado, que sempre est a comear alguma coisa, sugere que a escritura um
espao de encenao e, portanto, de conhecimento de uma experincia que no ,
necessariamente, biogrfica o espao de um fazedor de cenas.
A experincia da doena encenada a reivindicao de um pertencimento. No
ltimo poema de O homem ou tonto ou mulher, isso evidente: Todas as doenas
pertencem a toda a gente. / Todos os sofrimentos pertencem a toda a gente. / Todas as
mortes pertencem um pouco a toda a gente (Idem, 2005: 92). Ao comentar este poema,
Pedro Eiras se pergunta o que fazem os textos finais, aqueles que inauguram outra
linguagem, no instante em que o livro vai terminar. E apresenta, em forma de pergunta,
duas possibilidades: Regresso a um ltimo humanismo, introspeco e desnudamento,
converso? Ou, pelo contrrio, nova ironia, suprema auto-relatizao do texto?. No h
como responder, segundo Eiras, porm ele sugere um caminho ao dizer que para ser
legvel, o ltimo texto impossibilita a legibilidade de toda e qualquer palavra anterior
(Eiras, 2006: 203). A afirmao paradoxal: o ltimo poema, para se tornar legvel,
rasura aquilo que foi escrito antes. Rasura, talvez, quando solicita outra leitura de toda
e qualquer palavra anterior e confirma que a escritura passa diferente a cada vez que
passa, uma vez que uma mquina que est sempre a comear. Enfim, o ltimo poema
rasura um desfecho possvel, a determinao nica de um final preciso e certeiro. Faz
enfim outra cena, ironicamente apresentando a ironia como procedimento.
92
CAPTULO TRS: CENRIOS
93
3.1. Espaos e direes privilegiadas
As imagens reivindicadas por Sontag para a compreenso da experincia
patolgica lado, cidadania, dupla cidadania, reino, cidado e pas no remetem ao
espao como extenses fsicas e abstratas (entre outras coisas, uma idia de espao
como meio homogneo), mas a uma topologia, uma espcie de geografia que, por estar
diretamente ligada figurao das identidades, ser marcada por outras relaes.
Algum que se identifica como cidado de um pas, ou de um reino, no se identifica
apenas por habitar um espao limitado por fronteiras: a identificao definida por
inmeras relaes (e todas mediadas pela lngua) que permitem a ele afirmar uma
cidadania. No se percebe o espao apenas como uma extenso determinada por meio
de instrumentos, enfim, como uma extenso precisa: no h como determinar relaes,
ou seja, aquilo que me atravessa quando atravesso um espao qualquer uma rua no
ser um espao fsico e geomtrico somente, mas este mesmo espao investido de
sentimentos, lembranas, enfim, investido de uma srie de relaes e afetos. Ao solicitar
a dupla cidadania, na tentativa de compreenso da experincia patolgica, Sontag
apresenta uma viso dialetizada do espao. Em primeiro lugar, porque diretamente
relacionada identidade e, portanto, aos processos de subjetivao. Da desdobrada, em
segundo lugar, porque a dupla cidadania sugere uma compreenso dos espaos
diretamente articulada ao corpo, sua presena na configurao dos espaos.
As reflexes de Maurice Merleau-Ponty sobre o espao so interessantes. A
partir da crtica da importncia da perspectiva no ensinamento clssico da pintura e da
valorizao de procedimentos da arte moderna (identificados, sobretudo, na obra de
94
Czanne), Merleau-Ponty apresenta uma forma de compreender a percepo do espao.
A perspectiva ao se esforar para encontrar um denominador comum a todas as
percepes, atribuindo a cada objeto no o tamanho, as cores e o aspecto que apresenta
quando o pintor o fixa, mas um tamanho e um aspecto convencionais oferece uma
viso analtica do mundo. Mundo este que representado atravs de um olhar fixado
na linha do horizonte num certo ponto de fuga para o qual se orientam a partir de ento
todas as linhas da paisagem que vo do pintor ao horizonte, como se a pintura fosse
uma espcie de relatrio. Porm, segundo Merleau-Ponty, no assim que o mundo se
apresenta a ns no contato com ele que nos fornecido pela percepo (Merleau-
Ponty, 2004: 13). Da, a valorizao dos artistas que, a partir de Czanne, tentaram
recuperar e representar o prprio nascimento da paisagem diante de nossos olhos,
porque queriam aproximar-se do estilo propriamente dito da experincia perceptiva,
recusando as leis da perspectiva (Idem, ibidem).
Assim, o espao no ser mais representado a partir de uma viso analtica
sem corpo, sem situao espacial, pura inteligncia mas a partir de uma viso livre,
figurando uma representao atravessada pelos afetos de um corpo que a se faz
presente (Idem, ibidem: 14-15). Segundo Merleau-Ponty, contribuio da pintura aos
regimes da percepo seguem-se as reflexes da filosofia e, sobretudo, da psicologia,
que atentam ao fato de que nossas relaes com o espao no so as de um puro sujeito
desencarnado com um objeto longnquo, mas as de um habitante do espao com seu
meio familiar (Idem, ibidem: 16). Da, uma forma de percepo em que a idia de
espao homogneo d lugar idia de um espao heterogneo, com direes
privilegiadas, que tm relao com nossas particularidades corporais e com nossa
situao de seres jogados no mundo (Idem, ibidem: 16-17). A percepo se configura,
portanto, a partir da tenso entre as particularidades corporais e a geometria, que ser
95
investida de outras relaes: esta experincia, ao exigir as direes privilegiadas do
corpo, se apresenta como uma maneira de representar qualquer espao como conjunto.
Anne Cauquelin, nas reflexes de A inveno da paisagem, afirma que ela, como
espao representado, a concretizao do vnculo entre os diferentes elementos e
valores de uma cultura, ligao que oferece um agenciamento, um ordenamento e, por
fim, uma ordem percepo do mundo (Cauquelin, 2007: 14). Cauquelin ressalta,
ento, a presena de agenciadores na experincia perceptiva, os inmeros elementos e
valores culturais que so exigidos quando qualquer espao percebido: atravesso uma
rua e sou atravessado por sentimentos, lembranas e por outras ruas ruas da pintura,
da literatura, do cinema. Mas isto nem sempre consciente. Para ela, preciso estar
atento educao permanente dos modos de ver e de sentir, na inteno de revelar a
constituio desse tecido uniforme, de grande solidez e certeza, que chamado
realidade ou natureza (Idem, ibidem: 14-15). Em outras palavras, Cauquelin solicita
que as imagens participantes da configurao deste tecido uniforme sejam desdobradas,
que seus fios sejam destramados. Isso sugere uma experincia perceptiva crtica, uma
compreenso do espao capaz de localizar e identificar elementos e valores que o
configuram experincia que a arte sempre fez questo de afirmar.
Ao narrar um sonho de sua me o sonho particular de uma casa e, sobretudo,
ao imaginar esta casa, Cauquelin mostra como outros aspectos participaram, de forma
decisiva, na figurao desta imagem. Outros espaos, como baas e praias. Outras
cidades: Edificaes se emparelham na luz eltrica. Uma cultura completamente
literria com nomes variados. Certa pintura impressionista, como o jardim de Claude
Monet, de Renoir e tambm um gosto declarado por Czanne. E, ainda, uma hora
para isto acontecer, cinco horas da tarde, o instante em que podamos ter prazer, ler,
sonhar, atividades proibidas nas primeiras horas do dia (Idem, ibidem: 20-24).
96
Representar, ou imaginar, um espao um gesto que se faz sempre a partir de um ponto
ou de muitos deles. Ao destramar os fios daquele tecido que se apresenta de maneira
uniforme, Cauquelin mostra como a experincia do olhar a projeo de um gosto
fabricado ou a marca de certa cultura (Idem, ibidem: 24). Enfim, ela a convergncia
em um nico ponto a casa imaginada, a paisagem representada de muitos outros
pontos, o ordenamento das vises livres e direes privilegiadas, nas expresses de
Merleau-Ponty, que caracterizam a percepo espacial.
Em Gonalo, a vontade de problematizar a noo clssica de espao e a idia de
preciso que a atravessa, presente de forma mais potente no seu Livro da dana atravs
da exigncia da imagem do bailarino. Em Metodologia, l-se o seguinte: Tornar o
cho louco. Parece que tornar o cho louco desestabilizar aquilo que, usualmente,
serve de apoio ou base para as coisas antes de ter os ps no cho, marca de sanidade,
ele motiva um abalo. Esse abalo ser a possibilidade configurar o espao de outra
forma, porque, como afirma em Salvao, danar durar o Espao, / salv-lo. /
Libertar o Espao da Monotonia (Tavares, 2008: 41). Mas a ao de durar, de libert-
lo da monotonia, no ser a chance de destru-lo por completo a dana obra de um
corpo que se movimenta sobre um espao. Jos Gil, no seu livro sobre o corpo e a
dana, Movimento total, afirma que o no-peso do bailarino no uma no-gravitao
ou ausncia de todas a ligao terra. E completa, dizendo que esta ligao faz parte
da possibilidade de transformar o espao que o bailarino tem: Trata-se de tirar o peso
do corpo conservando ao mesmo tempo a sua ligao terra, porque bailarino algum
poderia executar movimentos em situao de no-gravidade (Gil, 2005: 18-19).
Recomendao til, outro poema do livro, confirma que no h nenhum desejo de abolir
o espao: O espao tem de ser sob os ps como o objecto frgil nas mos do bbado:
devemos temer por ele, pela sade de suas FORMAS (Tavares, 2008: 121). Entre a
97
metodologia e a recomendao, o espao ser configurado pela vontade de abal-lo e,
simultaneamente, pela manuteno de sua sade ele parece se formar a partir da
tenso entre foras que parecem contrrias, abalar e manter. Esta manuteno no a
certeza de pisar em um espao seguro h, a qualquer momento, a possibilidade da
queda, uma vez que o equilbrio a parece uma condio atravessada pela fragilidade. A
dana, assim, consiste em construir um mximo de instabilidade, segundo Jos Gil, a
fim de poder reconstruir um sistema de equilbrio infinitamente delicado (Gil, 2005:
22). A dana ser, na verdade, a possibilidade de levar o corpo a construir outro
equilbrio, de abandonar a postura natural (dos ps no cho), fazendo-se cena.
Em primeiro lugar, a solicitao da figura do bailarino importante porque,
atravs da dana, um espao paradoxal
35
configurado: distinto do espao objetivo da
geometria, mas no separado totalmente dele um espao, portanto, que no recusa a
objetividade, investindo-o de outras foras e afetos. Pode-se dizer que, assim, no h
uma identificao do espao como meio homogneo: olhar uma rua no ser uma
experincia, rigorosamente, ordenadora, porque, alm da geometria, outros elementos
configuram tal experincia. Em segundo lugar, destaca-se a artificialidade da relao
que o bailarino mantm com o espao: seu equilbrio delicado no equivale postura
normal de equilbrio isto confirma a idia do espao como uma figurao e, portanto,
de sua no-naturalidade, destramando os fios de uma possvel uniformidade.
Museu, ainda do Livro da dana, apresenta outra recomendao: Destruio
do lugar comum no lugar do corpo. A partir do corpo, que possibilita uma experincia
do espao no-homognea, investindo-o de afetos, agenciando-o, o lugar comum
abalado. Esta recomendao encenada em 1, que um livro atravessado por imagens
de cidades, ruas, cafs, janelas e hospitais. Interessante a maneira como os lugares so
35
A expresso espao paradoxal utilizada por Jos Gil no ensaio O corpo paradoxal. In: Movimento
total: o corpo e a dana. So Paulo: Iluminuras, 2005.
98
figurados e, sobretudo, como esse processo ir questionar um tipo de figurao lugar
comum. Uma rua encena isto: Entro na Rua Frank OHara, / Helicpteros
conseguem voar mais baixo / Que o cheiro das flores: / O rudo das hlices no
ultrapassa o metro e meio (Tavares, 2005: 88). As noes de alto, baixo e de som, que
se referem, direta ou indiretamente, ao espao so apresentadas de modo no-usual. H
uma aeronave que voa muito baixo e um rudo produzido por ela que, curiosamente, no
ultrapassa o metro e meio. A rua no uma rua muito comum: Um homem gordo
move-se porque adormeceu: sonha. Gonalo reivindica o poeta norte-americano, um
modo de ver surrealista e, neste sentido, a ruas dos surrealistas e ainda, de forma
enviesada, alguns versos de Maiakovski: Helicpteros inimigos acabaram de atacar a
minha / Coleco de flautas. H referncias ao poema A flauta-vrtebra e tambm
flauta dos esgotos, de que fala o russo no poema Algum dia voc poderia?. Poema
que abre com uma espcie de potica da percepo: Manchei o mapa quotidiano /
jogando-lhe a tinta de um frasco (Maiakovski, 2003: 63). Perceber a rua, tentar
descrev-la, uma experincia que ir ento conjugar as direes privilegiadas do
corpo para lembrar de Merleau-Ponty e a educao permanente dos modos de ver e
sentir para lembrar Cauquelin. Uma histria do livro O senhor Calvino, chamada A
janela, encena esta experincia do olhar como procedimento perceptivo:
Uma das janelas de Calvino, a com a melhor vista para a rua, era tapada por
duas cortinas que, no meio, quando se juntavam, podiam ser abotoadas. Uma
das cortinas, a do lado direito, tinha botes e a outra, as respectivas casas.
Calvino, para espreitar por essa janela, tinha primeiro de desabotoar os sete
botes, um a um. Depois sim, afastava com as mos as cortinas e podia olhar,
observar o mundo. No fim, depois de ver, puxava as cortinas para a frente da
janela, e fechava cada um dos botes. Era uma janela de desabotoar.
99
Quando de manh abria a janela, desabotoando, com lentido, os botes, sentia
nos gestos a intensidade ertica de quem despe, com delicadeza, mas tambm
com ansiedade, a camisa da amada.
Olhava depois da janela de uma outra forma. Como se o mundo no fosse uma
coisa disponvel a qualquer momento, mas sim algo que exigia dele, e dos seus
dedos, um conjunto de gestos minuciosos.
Daquela janela o mundo no era igual.
(Tavares, 2007, p. 19).
Em primeiro lugar, a vista de Calvino (a melhor delas) era para a rua ao v-la,
uma srie de imagens de ruas, algumas observadas tambm de janelas, intervm na
formao da imagem ruas na literatura, na pintura, no cinema e na fotografia. Imagens
que so reivindicadas quando o senhor Calvino observa a rua, imagens que foram
reivindicadas por Gonalo. Em segundo lugar, e muito interessante, so as estranhas
cortinas que tapam a janela. Estranhas porque so abotoadas: aquilo que parece uma
simples bizarrice uma cortina dupla, que abotoa ser, na verdade, um aspecto
importante na encenao da experincia do olhar como procedimento. Importante, uma
vez que para olhar um esforo ser necessrio, esforo listado no segundo pargrafo da
histria: ele desabotoa, um a um, os sete botes, depois afasta as cortinas, s ento
capaz de observar o mundo e, por fim, fechar outra vez as cortinas.
Esforo este que, em certo sentido, remete ao desdobrar exigido por Anne
Cauquelin: o espao (a realidade, a natureza), apesar de parecer um tecido uniforme,
uma construo do visvel desabotoar, abrir e fechar as cortinas so aes que
reconhecem a experincia do olhar como construo. Isto fica evidente quando abrir a
janela (o desabotoar com lentido) ser um gesto comparado ao despir (com delicadeza
e ansiedade) a blusa da amada. E mais evidente, quando ele diz que o mundo no
uma coisa disponvel a qualquer momento, porque para observ-lo preciso todo um
conjunto de gestos minuciosos. A rua (o mundo, a paisagem urbana) no ser,
100
portanto, figurada nem como espetculo nem como explicao: pode-se afirmar que ela
uma coisa que se d a ver por partes, nunca de forma completa cada vez que Calvino
olha pela janela novos elementos entram em cena.
Esta histria coloca, ainda, outro tema fundamental na experincia do olhar e na
figurao do espao: os espaos/lugares de observao. Calvino est numa sala, ou num
quarto, olhando para rua atravs de uma janela. E muitos so os
desdobramentos/significados disso. Por um lado, um duplo movimento ressaltado,
uma vez que as janelas encenam a tenso entre abertura e fechamento Elas enquadram o
espao, e isto exigir um recuo, um distanciamento na hora de olhar no se v tudo,
mas apenas aquilo que est no campo de viso. Porque enquadrar, diz Cauquelin,
inspira a ordem, d a regra dos primeiros planos e dos planos de fundo. Ela afirma,
tambm, que as bordas das janelas so orientadas de baixo para cima e da direita para a
esquerda olha-se, de certo modo, para quilo que as janelas abrem, porm isto s
possvel, paradoxalmente, porque elas fecham um campo de viso (Cauquelin, 2007:
136). No incorreto afirmar que observar o mundo um gesto que exige, pelo
desabotoar/abotoar das cortinas, um esforo e, ao mesmo tempo, um limite, que ser
indispensvel na figurao do espao. Limitar ser uma das condies necessrias para
que isto acontea: espaos so vistos, ento, por causa do movimento de abrir e fechar
como no lembrar assim do abrir e fechar das plpebras?
Por outro, as janelas solicitam uma compreenso diferente dos lugares de
observao, no a partir de um entendimento dicotmico pensar os espaos como
dentro ou fora, aqui ou l, perto ou longe , mas a partir da imagem do limiar. E as
janelas, como as portas, so limiares: nem dentro nem fora, mas lugares de passagem
espaos, ao mesmo tempo, da abertura e de fechamento, sendo, portanto, um motivo
ambivalente. Qualquer limiar, seja ele uma janela ou uma porta, ser capaz de
101
desestabilizar a distncia o lado de fora, o l (enfim, a realidade) no estar to
afastado do observador (que est aqui, ou que est dentro), j que o olhar a
reivindicado funciona mesmo como um limiar. Da janela, aquele que olha traz para
perto de si aquilo que estaria afastado trazer para perto, entretanto, no significa dizer
que os lugares so trocados, uma vez que o lado de fora no se transforma no lado de
dentro, nem o lado de dentro se transforma no lado de fora. Alm de impor um limite,
necessrio para a figurao do espao, as janelas so limiares.
3.2. Quartos, escritrios
Algo acontece, e partir do momento em que comea a acontecer,
jamais coisa alguma poder voltar a ser a mesma.
Paul Auster
A epgrafe abre um poema em prosa de Paul Auster chamado Espaos em
branco. H um tom mstico que lembra um aspecto da compreenso zen-budista da
realidade, o kensho, aquele primeiro vislumbre, mais breve e menos profundo que o
satori. Espaos em branco no um poema mstico, mas um poema sobre escrever:
Permaneo no quarto onde escrevo isto. Ponho um p frente do outro. Ponho
uma palavra frente da outra, e por cada passo que dou junto outra palavra,
como se cada palavra por dizer um outro espao houvesse que percorrer, uma
distncia a preencher pelo meu corpo enquanto se move atravs deste espao
(Auster, 2002: 101-2)
Escrever uma viagem atravs do espao, como se rumo a muitas cidades,
como se atravs de desertos, como se at a borda de algum oceano imaginrio (Idem,
ibidem). Aquilo que acontece e que depois que comea a acontecer transforma, de certa
102
forma, aquele algo a escritura. E tambm quem escreve, uma vez que a
compreenso de Auster sobre o gesto de escrever a de um deslocamento um p
frente do outro, uma palavra frente da outra, a cada palavra colocada, um passo
dado. A relao entre escrever e deslocar-se aponta para a relao entre figurao da
experincia da subjetividade e o espao que atravessa a obra de Auster. Viagens no
scriptorium coloca essa relao em jogo uma idia de deslocamento num scriptorium,
recinto que nos mosteiros medievais era o local onde se copiavam os livros. Porm
Blank, o protagonista dessas viagens, no est num mosteiro, est num quarto a
abertura do romance uma descrio minuciosa do espao, das relaes que Blank
estabelece com ele, alm de uma descrio do personagem (Auster, 2007):
O velho est sentado na beira da cama estreita, mos espalmadas sobre os
joelhos, cabea baixa, olhando fixo para o cho (p. 7).
H uma srie de objetos no quarto, e na superfcie de cada um deles foi grudada
uma tira de esparadrapo, com uma s palavra escrita em letras de frma. Na
mesa-de-cabeceira, por exemplo, a palavra MESA. Na luminria, a apalavra
LUMINRIA. Mesmo na parede, que no um objeto no sentido estrito da
palavra, h uma tira de esparadrapo em que se l PAREDE (p. 7-8).
Ele usa um pijama de algodo listrado de amarelo e azul, e seus ps esto
calados com chinelos pretos de couro. No sabe ao certo onde est. No quarto,
sem dvida. Mas em que prdio fica o quarto? Numa casa? Num hospital? Num
presdio? No lembra h quanto tempo est a nem a natureza das circunstncias
que o precipitaram sua remoo para esse lugar (p. 8).
H uma janela no quarto, mas a persiana est fechada, e, at onde ele lembra,
ainda no olhou l para fora. Tampouco olhou para a porta com sua maaneta
branca de loua. Vive trancado ou livre como bem entender? (p. 8).
Blank finalmente se levanta da cama, fica imvel por uns instantes para se
equilibrar, depois arrasta os ps at a escrivaninha no outro extremo do quarto.
103
Sente-se cansado, como se tivesse acabado de acordar de algumas horas
irrequietas e insuficientes de sono, e, enquanto as solas dos chinelos raspam
nas tbuas nuas do assoalho, lhe vem mente o rudo de uma lixa (p. 9, grifos
meus).
Blank se deixa cair numa cadeira junto escrivaninha. uma cadeira
extremamente confortvel, ele conclui, forrada com couro macio na cor
marrom, equipada com descanso para os braos capaz de acomodar cotovelos e
antebraos, sem falar num mecanismo invisvel de molas que lhe permite
balanar-se para frente e para trs, que justamente o que ele comea a fazer
(p. 9).
Depois se debrua para examinar o monte de papis e fotografias empilhadas
em ordem no tampo de mogno. Pega primeiro as fotos, trs dzias de retratos de
vinte por vinte em cinco em preto-e-branco de homens e mulheres de idades e
raas variadas (p. 9-10).
H quatro pilhas [de papis] ao todo, cada uma com cerca de quinze
centmetros de altura. Sem que haja um motivo especfico para fazer isso, pega
a pgina da pilha mais esquerda (p. 10).
Blank pega a pgina seguinte da pilha e descobre que se trata de alguma espcie
de manuscrito datilografado (p. 11).
Blank um velho, com certeza no jovem, mas a palavra velho um termo
elstico, deve ter entre sessenta e cem anos (Auster, 2007: 9). Ele est num quarto com
janela e porta, mobiliado com uma cama, uma mesa, uma escrivaninha localizada no
outro extremo do quarto , e uma cadeira. H ainda um banheiro e um armrio. No
sabe em que prdio fica esse quarto, nem o motivo de sua internao nele um clima
kafkaniano atravessa a narrativa, no s pela no-conscincia do motivo de estar a, mas
tambm pela maneira como desperta de algumas horas irrequietas de sono, numa
referncia ao personagem-inseto de A metamorfose. Quando levanta da cama, Blank
efetua uma srie de aes interessantes: fica imvel na tentativa de equilibrar-se, arrasta
104
os ps, senta-se cansado e associa o barulho das solas dos chinelos raspando no cho
ao rudo de uma lixa. Essas aes confirmam a dificuldade que o personagem tem
para se deslocar de um extremo a outro do quarto caminhar se transforma ento num
suplcio, que o faz, no fim do percurso, cair numa cadeira junto escrivaninha. H a
diminuio na capacidade de ir-e-vir, uma reduo da latitude inicial de interveno no
meio, que segundo Canguilhem uma das formas de compreender a experincia da
doena (Canguilhem, 2005: 65). Incapaz de realizar todas suas capacidades, Blank no
compe com o ambiente que o circunda uma relao normal qualquer deslocamento
no quarto um acontecimento, pode-se dizer uma viagem. A interiorizao faz parte da
relao que existe entre espao e subjetividade encenada na obra de Auster um passo,
uma letra: um corpo que se move, alguma coisa que comea a acontecer.
Em Mapa voltil: o imaginrio espacial, Luis Alberto Brando j assinalava
essa relao na escritura de Auster a partir de uma passagem de A trilogia de Nova
York: Perguntou-se como seria o mapa formado por todos os passos que dera na vida e
qual palavra haveria de compor (Auster apud Brando, 2005: 36). A vida do
personagem experincia que esboa em uma continuidade temporal compreendida
em funo de um parmetro espacial: a vida so os passos que ele d. E espao,
alm de ser uma dimenso fsica, pensando como representao, um mapa que
forma uma palavra. A solicitao de Auster est inserida numa tendncia de repensar
e rearticular as noes de tempo e espao a literatura, assim, sugere uma
problematizao do entendimento do espao como algo carregado de sentido, um
sentido que simultaneamente condicionado pelo espao e dele condicionador
(Brando: 2005: 35). Assim, o espao um lugar investido de outras relaes e prticas,
atravessado por representaes do espao e compreendido no apenas a partir de viso
analtica, mas tambm atravs dos espaos de representao. A percepo do espao
105
a percepo das direes privilegiadas, uma forma de experincia que tem relao
com nossas particularidades corporais e com nossa situao de seres jogados no
mundo (Merleau-Ponty, 2004: 13). A compreenso do espao no se reduz assim s
noes de espao fsico e geomtrico, a ela soma-se um corpo que preenche uma
distncia enquanto se move atravs desse espao (Auster, 2002: 101-2).
Ao mesmo tempo em que identifica a encenao disso na escritura de Auster,
Brando identifica duas formas de experimentar os espaos a uma dos personagens
que se deslocam nas cidades, o espao urbano, que corresponderia a uma violenta
intensificao perceptiva, e uma de interiorizao, que seria uma espcie de percepo
diferente. Brando lembra o processo em que os personagens so reduzidos a estados
elementares, que os colocam face a face com a resistncia e as limitaes de seus
corpos (Brando, 2005: 55). Face a face como Blank, que se desloca, com bastante
dificuldade, pelo quarto: ele arrasta os ps, seus chinelos raspam o cho sua
capacidade de interveno no meio menor, da uma forma tateante e desequilibrada de
deslocamento. Uma simples ida ao banheiro e, mais especificamente, o simples gesto de
levantar a cala do pijama, que continua em volta do tornozelo, transforma-se numa
tarefa muito complicada para Blank:
Tanto se curvar como se agachar no so atividades com as quais esteja se
sentindo vontade nesse dia, mas, das duas, a que mais teme a de curvar, j
que tem conscincia do seu potencial para perder o equilbrio logo que baixar a
cabea, e receia, se de fato perder o equilbrio, cair e rachar o crnio nos
ladrilhos brancos e pretos (Auster, 2007: 22, grifos meus).
Interessante a a expresso potencial para perder o equilbrio, mostrando
como Blank tem conscincia dos limites do corpo, sabe que pode acordar no cho com
o crnio rachado. Mas a queda acontece, quando Blank testa esses limites numa
106
brincadeira de deslizar pelo cho de meias: Por sorte, no cai de cabea, mas, em todos
os outros aspectos, pode-se dizer que foi uma queda feia (Idem, ibidem: 61). A
limitao dos corpos forada pela experincia da doena manifesta-se no apenas em
relao perda de equilbrio e s quedas, possvel identific-la tambm nas inmeras
referncias ao cansao, que faz Blank procurar maneiras de evit-lo. Isso acontece
quando ele, sem querer, descobre que a cadeira arrumada junto escrivaninha
equipada com rodinhas: Pressiona os ps no cho, d um empurrozinho, e l vai ele
para trs, cobrindo uma distncia de cerca de um metro (Idem, ibidem, 31). Uma
cadeira equipada com rodinhas para algum que vive, constantemente, cansado uma
forma de conversar energias para um momento mais oportuno:
Considera essa uma descoberta importante, porque, por mais agradvel que seja
balanar-se para frente e para trs e girar, o fato de uma cadeira poder se mover
pelo quarto , potencialmente, de um grande valor teraputico para quando,
por exemplo, suas pernas estiverem se sentindo especialmente cansadas, ou
para quando ele for acometido por um novo acesso de tontura (Idem, ibidem,
grifos meus).
Interiorizar-se estreitar o meio de interveno uma maneira de proteger-se
e, ento, assumir assim um sofrimento menor e um cuidado maior com o corpo. Mas, ao
mesmo tempo, a interiorizao impe um limite, um cercear-se. Pode-se dizer que os
interiores so marcados por uma ambigidade, uma vez que esto associados a
proteo, preservao, mas, simultaneamente, a restrio, cerceamento daquilo que
contm (Brando, 2005: 56). Espaos ambguos no s porque conjugam as idias de
preservao e cerceamento, mas, sobretudo, porque h um movimento entre interior e
exterior que desestabiliza a noo da interioridade como um lugar fechado o lado de
fora interfere com frequncia no lado de dentro. Por um lado, isso acontece atravs da
107
presena de personagens e elementos da arquitetura do quarto. Em relao aos
personagens, Blank recebe telefonemas de alguns e, sobretudo, visitado por eles so
duas enfermeiras, um ex-policial, um mdico e um advogado, que o ajudam a
descobrir quem ele, que lugar esse e aquilo que faz a.
A primeira visita e talvez a mais importante de Anna, uma mulher mida,
de idade indeterminada, com cabelos grisalhos curtos, veste uma cala comprida azul-
marinho, uma blusa leve de algodo azul-clara (Auster, 2007: 17). Blank a reconhece
assim que ela entra no quarto j tinha visto sua fotografia na pilha que estava na tampa
escrivaninha. A entrada de Anna esclarece que o tratamento est dando certo e que
junto com a refeio um copo de suco de laranja, uma torrada com manteiga, dois
ovos pochs numa tigela branca e um bule de ch Earl Grey Blank precisa tomar trs
comprimidos (Idem, ibidem: 18). Comprimidos que ele reluta em tomar e que o fazem
por mais de uma vez perguntar que doena tem, mas Anna de forma gentil, e evasiva,
nega que ele esteja doente. Depois da higiene pessoal, Blank recorda que fez algo
terrvel a Anna, algo que ele no se lembra, mas algo terrvel... execrvel... que no
pode ser perdoado (Idem, ibidem: 24). A continuao da passagem um dilogo que
parece esclarecer o que Blank faz e o que fez de terrvel com ela:
No foi culpa sua. O senhor fez o que tinha que tinha de fazer, e eu no tenho
raiva.
Mas voc sofreu. Eu a fiz sofrer, no fiz?
Fez, muito. Quase no sobrevivi.
Que foi que eu fiz?
O senhor me mandou para um lugar perigoso, um lugar de desespero, um lugar
de destruio e morte.
Do que se tratava? De algum tipo de misso?
Suponho que se possa chamar assim.
(Idem, ibidem, 25)
108
A trama desvendada aos poucos com a entrada de cada um dos personagens
no quarto, melhor dizendo, cada um deles faz Blank lembrar de algum acontecimento,
nada agradvel, que ele os fez passar a idia de preservao que o interior reivindica
desestabilizada com esses fiapos narrativos trazidos pelos personagens. A
desestabilizao dos espaos interiores alguma coisa de fora que chega e perturba
certa tranqilidade de dentro um movimento recorrente no romance. E isso
acontece atravs da solicitao das imagens da janela e da porta. H no quarto uma
janela que Blank at tenta abrir, mas no consegue alm das venezianas fechadas,
dois pregos grandes, quase invisveis porque as cabeas esto pintadas esto
enterrados no caixilho. Da a seguinte concluso, bastante bvia: Algum, ou talvez
diversas pessoas, trancou, trancaram, Blank nesse quarto e o mantm, preso contra sua
prpria vontade (Idem, ibidem: 38). Acontece, porm, que o interior mais uma vez
invadido pelo lado de fora: Bem ao longe, muito alm do quarto, alm do prdio em
que est situado o quarto, Blank ouve de novo o grito abafado de uma ave (Idem,
ibidem: 48). Ser esta ave uma gaivota, ele descobre depois que o far imaginar em
que lugar est, enfim, imaginar que prdio esse: a janela fechada (pode-se dizer,
lacrada) funciona, ento, como um signo da abertura.
Alm da janela, h uma porta pela qual as visitas entram no quarto. Do comeo
ao final da narrativa, Blank no consegue descobrir se ela est ou no fechada. A dvida
inicial Vive trancado ou livre para ir e vir como bem entender? (Idem, ibidem: 8)
perdura at o final da histria, o eterno enigma da porta se est trancada pelo lado
de fora ou no (Idem, ibidem: 98). Blank sempre se esquece de perguntar a algum se a
porta est trancada pelo lado de fora ou no ou no presta ateno quando algum
entra e sai do quarto. Porm de se estranhar que ele trancado a no investigue a
questo da porta, mais fundamental do que saber se a janela estava ou no aberta. Blank
109
parece adiar esse conhecimento, mesmo quando a questo parece solucionada. Algum
bate na porta e ele compreende instantaneamente que este o momento pelo qual vem
esperando: o mistrio da porta est para ser enfim solucionado (Idem, ibidem: 85).
Uma enfermeira entra e at onde ele pode perceber no escutou barulho nenhum de
fechadura sendo aberta, e isso sugere que a porta estava destrancada desde o incio,
destrancada o tempo inteiro. Mas a dvida aparece: Ou pelo menos o que Blank
conclui, comeando a se regozijar com a idia de ser livre para ir e vir como bem
entender, mas no momento seguinte ele compreende que bastante provvel que as
coisas no sejam to simples assim (Idem, ibidem: 86). Blank parece o campons da
fbula Diante da lei de Kafka: atrado e, ao mesmo tempo, impedido diante de uma
porta que foi construda, exclusivamente, para ele um lugar aberto que o mantm
distncia. Blank est diante de um limiar, diante de uma experincia que encarnada
em seu prprio corpo. Da, talvez, ele diferir a abertura da porta e escolhe a proteo
que o quarto lhe oferece abrir a porta pode significar a passagem para o outro lado.
Est-se diante de um cenrio, compreendido como um conjunto de elementos
que se relacionam e como um espao que se anima atravs de percursos e itinerrios. A
abertura do romance j sinaliza isso um velho sentado na beirada da cama, cabisbaixo,
sendo observado: No faz idia de que h uma cmera instalada no teto, bem em cima
dele. Em silncio, o obturador clica de segundo em segundo, produzindo oitenta e seis
mil e quatrocentas fotos a cada revoluo da Terra (Idem, ibidem: 7). H tambm um
microfone instalado no quarto e qualquer som que Blank faa est sendo reproduzido e
preservado por um gravador digital de alta sensibilidade (Idem, ibidem: 12). Esse
aparato parece estar a colocado por Blank ser algum importante, um agente que
enviava outros agentes para misses: Quantas pessoas eu mandei em misso?
Centenas, senhor Blank. Mais do que eu seria capaz de contar, l-se noutro dilogo
110
(Idem, ibidem: 28). Essa hiptese dele ser um agente ou algo parecido reforada
pela leitura de um dos manuscritos, que parece ser um relatrio de um agente e de suas
misses. H, neste sentido, o emparelhamento de duas histrias, dois fios narrativos que
se misturam chega-se imaginar que Blank o autor da narrativa que l, mas depois
(por intermdio de um personagem) sabe-se que um certo Fanshawe o autor.
H a criao de um outro espao dentro do quarto, a inveno de um espao
alternativo, que segundo Luis Alberto Brando um dos procedimentos agenciados por
Auster. Inventar um outro espao afetar o real, explorar o que este tem de malevel,
ampliando as margens de sua mutabilidade (Brando, 2005: 63). Esse espao ficcional
acaba, portanto, problematizando a noo de interioridade ao propor outros percursos
a escritura a possibilidade de Blank sair do quarto e de alguma forma se ver naquilo
que est lendo, como se fosse um leitor. No s leitor, mas como se tomasse
conscincia, aos poucos, que ele um personagem e so muitas as indicaes disso ao
longo do romance: nessa histria, como o leitor j sabe, deste relato, o leitor h
de entender, entre outras. No s conscincia que personagem, mas autor-
personagem. Da a compreenso dos seres ilusrios marchando por sua cabea
durante toda a narrativa e um sentimento de culpa e, em certo sentido, de compaixo
pelos personagens que mandou para cada uma das misses. E ainda a compreenso das
acusaes que Blank sofre, acusaes de todos os tipos diz seu advogado e continua:
De indiferena criminosa a molestamento sexual. De conspirao para cometer fraudes
a homicdio por negligncia. De difamao de carter a homicdio (Auster, 2007: 116).
H ento um personagem que se observa como personagem-autor sai do corpo atravs
do espao ficcional inventado por Auster, numa espcie de teatro que encena a escritura
acontecendo, melhor dizendo sendo animada por um personagem-doente.
111
Ao terminar o primeiro manuscrito, Blank que em ingls significa o espao
vazio, a pgina em branco, o rosto inexpressivo descobre um segundo, mais longo, de
umas cento e quarenta pginas, chamado Viagens no scriptorium e escrito por N. R.
Fanshawe. Ele comea a ler e percebe que sua histria escrita: O velho est sentado
na beira da cama estreita, mos espalmadas sobre os joelhos, cabea baixa, olhando fixo
para o cho (Idem, ibidem: 121). Blank se irrita, joga o manuscrito longe e pergunta-se
quando isso vai acabar. A resposta no nada animadora: No vai acabar nunca.
Porque Blank um de ns agora, e, por mais que se debata, tentando entender sua sorte,
estar sempre no escuro (Idem, ibidem: 123). Blank estar para sempre no quarto,
perdendo o equilbrio, continuando o tratamento com a janela fechada e a porta
trancada, nunca morrer, nunca desaparecer (Idem, ibidem: 124).
3.3. Limiares, estar por um fio
Em relao aos espaos da doena, possvel afirmar que eles so percebidos
por algum que est sempre por um fio, da uma experincia perceptiva atravessada pela
expectativa, que diretamente relacionada figurao dos espaos como limiares.
Lembro que os limiares so extenses construdas da forma como Cauquelin apresentou
a figurao da paisagem atravessados por outros espaos, outras leituras, outras
imagens, enfim, por uma srie de elementos e valores capazes de ordenar a percepo.
A experincia faz parte da educao permanente dos modos de ver e de sentir uma
forma crtica de perceber a percepo, o reconhecimento da artificialidade daquilo que
se apresenta como natural. Esta educao, o modo crtico de ver ser, portanto, o
procedimento radicalizado na experincia artstica: reivindicado em relao ao fazer
seu modus faciendi, a conscincia do atravessamento de outras estncias no processo
112
figurativo e tambm em relao ao efeito que isto provoca no espectador. Como
ocorre com o aviso dos jornaleiros gritando na pea de Brecht, isso seria, ento, uma
pista estou diante de uma cena, percebo os ns que amarram os acontecimentos. Pista-
aviso que lembra, sobretudo, onde as cenas acontecem. E de forma semelhante, percebo
os ns do espao, sei que estou diante de um cenrio, melhor dizendo, estou nele. Mas
estar nele no uma experincia que exige um envolvimento total, ao contrrio, o
cenrio, nas palavras de Szondi, causa distanciamento na medida em que deixa de
simular uma localidade real e passa a ser um elemento autnomo do teatro que cita,
narra, prepara e recorda (Szondi, 2003: 138). Palco e ribalta, assim, perdem seu
carter absoluto representativo e a iluminao, instalada agora entre os espectadores,
um sinal evidente de que algo lhes vai ser mostrado (Idem, ibidem). Como os
acontecimentos no seguem uma lgica de linearidade, possvel recorrer, atravs de
uma tela, a projees de imagens de fotografias, de outras cenas , que, neste sentido,
figurariam uma espcie de segundo cenrio.
A etimologia de cenrio (do latim, scaenarium) remete ao lugar da cena e, a
partir da etimologia italiana (scenario), ao aparato cnico. Da as definies bsicas de
cenrio: ele o conjunto de elementos visuais (tais como teles, mveis, objetos,
adereos e efeitos de luz) que compem o espao onde se apresenta um espetculo e o
lugar em que decorre a ao ou parte da ao de pea, filme, telenovela, romance.
Cenrio, por extenso de sentido, tambm o lugar em que se desenrola algum fato,
palco
36
. A primeira definio, ao enfatizar o aparato cnico, parece separ-lo do lugar
onde acontece a representao, assim o conjunto de elementos que compe o espao
parece no ser compreendido como espao, parece ser outra coisa. Mais interessante
seria pensar o cenrio como um conjunto de elementos relacionados e como lugar que
36
Dicionrio Houaiss da Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001, p. 670.
113
se anima atravs de percursos e itinerrios. A segunda e terceira definies ressaltam a
noo de cenrio como lugar da representao, palco um espao construdo para
receber, no sentido de animar, as imagens. Da, e a partir de uma arquitetura
cenogrfica, imaginar o cenrio como um limiar entre os bastidores ambiente em que
se prepara a representao, espao da intimidade, do que deveria permanecer escondido
e a platia espao de recepo, lugar em que as imagens se tornam pblicas, enfim,
imaginar o cenrio como limiar entre dentro e fora. Um cenrio , portanto, o conjunto
de elementos relacionados que anima um acontecimento que deveria, por seu carter
escandaloso (sem decoro, indecente), permanecer escondido.
Pensar o cenrio como limiar se relaciona, diretamente, compreenso da
doena como experincia-limite, dela como uma dupla cidadania. Isso figurado
atravs, sobretudo, das imagens de janelas e portas, recorrentes nas representaes da
doena. Limiares descritos por Georges Didi-Huberman, a partir das reflexes sobre a
imagem da porta nos minimalistas norte-americanos e na obra de Kafka, como motivo
ambivalente: um lugar aberto diante de ns, mas para nos manter distncia e nos
desorientar ainda mais a deciso de atravess-lo ser a todo tempo diferida (Didi-
Huberman, 1998: 232). Isso porque um limiar uma figura da abertura mas da
abertura condicional, ameaa ou ameaadora, capaz de tudo dar ou de tudo tomar de
volta (Idem: 234). Esta experincia se apresenta, ento, atravs de um signo da
abertura uma porta ou uma janela que, paradoxalmente, estabelece alguma
distncia, um signo que est a e alm. Didi-Huberman ressalta a encenao deste
movimento na parbola Diante da lei, de Kafka:
Diante da lei est um porteiro. Um homem do campo chega a esse porteiro e
pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que agora no pode permitir-lhe a
114
entrada. O homem do campo reflete e depois pergunta se ento no pode entrar
mais tarde.
possvel diz o porteiro Mas agora no.
Uma vez que a porta da lei continua como sempre aberta e o porteiro se pe de
lado o homem se inclina para olhar o interior atravs da porta. Quando nota isso
o porteiro ri e diz:
Se o atrai tanto, tente entrar apesar da minha proibio. Mas veja bem: eu sou
poderoso. E sou apenas o ltimo dos porteiros. De sala para sala porm existem
porteiros cada um mais poderoso que o outro. Nem mesmo eu posso suportar a
simples viso do terceiro.
O homem do campo no esperara tais dificuldades: alei deve ser acessvel a
todos e a qualquer hora, pensa ele; agora, no entanto, ao examinar mais de perto
o porteiro, com seu casaco de pele, o grande nariz pontudo, a longa barba
trtara, rala e preta, ele decide que melhor aguardar at receber a permisso de
entrada. O porteiro lhe d um banquinho e deixa-o sentar-se ao lado da porta.
Ali fica sentado durante dias e anos. Ele faz muitas tentativas para ser admitido
e cansa o porteiro com seus pedidos s vezes o porteiro submete o homem a
pequenos interrogatrios, pergunta-lhe a respeito da sua terra natal e de muitas
outras coisas, mas so perguntas indiferentes, como as que os grandes senhores
fazem, e para concluir repete-lhe sempre que ainda no pode deix-lo entrar. O
homem que havia se equipado com muitas coisas para a viagem, emprega tudo,
por mais valioso que seja, para subornar o porteiro. Com efeito, este aceita
tudo, mas sempre dizendo:
Eu s aceito para voc no julgar que deixou de fazer alguma coisa.
Durante todos esses anos o homem observou o porteiro quase sem interrupo.
Esquece os outros porteiros e este primeiro parece-lhe o nico obstculo para a
entrada na lei. Nos primeiros anos amaldioa em voz alta e desconsiderada o
acaso infeliz; mais tarde, quando envelhece, apenas resmunga consigo mesmo.
Torna-se infantil e uma vez que, por estudar o porteiro anos a fio, ficou
conhecendo at as pulgas da sua gola de pele, pede a estas que o ajudem a faz-
lo mudar de opinio. Finalmente sua vista enfraquece e ele no sabe se de fato
est ficando mais escuro em torno ou se apenas os olhos o enganam. No
obstante reconhece agora no escuro um brilho que irrompe inextinguvel da
porta da lei. Mas j no tem mais muito tempo de vida. Antes de morrer, todas
as experincias daquele tempo convergem na sua cabea para uma pergunta que
at ento no havia feito ao porteiro. Faz-lhe um aceno para que se aproxime,
pois no pode mais endireitar o corpo enrijecido. O porteiro precisa curvar-se
115
profundamente at ele, j que a diferena de altura mudou muito em detrimento
do homem:
O que que voc ainda quer saber? pergunta o porteiro Voc insacivel.
Todos aspiram lei diz o homem Como se explica que em tantos anos
ningum alm de mim pediu para entrar?
O porteiro percebe que o homem j est no fim e para ainda alcanar sua
audio em declnio ele berra:
Aqui ningum mais podia ser admitido, pois esta entrada estava destinada s a
voc. Agora que vou embora e fecho-a.
(Kafka, 2003: 27-29).
A parbola Diante da lei est includa no nono captulo de O processo e na
coletnea Um mdico rural. Kafka que se declarou satisfeito com ela, atitude bastante
rara elaborou a histria de Josef K a partir da lenda do porteiro. Por ser atravessado
por um paradoxo, o texto poderia ser considerado o centro nervoso da histria e,
tambm, da fico kafkiana (Carone, 2009: 82-3). A importncia da parbola , em
relao obra de Kafka, ressaltada pela presena de obstculos que impedem os
personagens de alcanar seus objetivos, melhor dizendo, personagens que no sabem
como agir diante de obstculos, que permanecem atrados e, ao mesmo tempo,
impedidos diante de uma porta. Nas palavras de Didi-Huberman, a experincia de
inacessibilidade vivida pelo homem do campo indica uma situao de distncia, como
se a palavra lei devesse se completar com a palavra longe , no entanto, produzida pelo
signo mesmo da acessibilidade: uma porta sempre aberta. E ele completa, afirmando:
A distncia, percebe-se, j desdobrada, dialetizada (Didi-Huberman, 1998: 241-2).
No seria incorreto dizer que a parbola figura a experincia do espectador/leitor diante
das cenas que acontecem no espao limiar do palco/escritura. A prpria forma escolhida
sugere isto. Uma parbola transmite, atravs de uma argumentao, um tipo de
ensinamento ou preceito, enfim, uma moral da histria ao fim da leitura. Mas em
Kafka, essa moral suprimida ou enclausurada (Carone, 2009: 85). Cabe, ento, ao
116
espectador/leitor imagin-la uma srie de leituras possveis pode ser aberta atravs de
uma marca de fechamento, a moral enclausurada.
Quando convoca essa parbola, Didi-Huberman acredita que ela concerne
experincia do olhar e, portanto, a uma forma de animar os cenrios: diante da
imagem e ela o objeto do ver e do olhar todos esto diante de uma porta
aberta dentro da qual no se pode passar, no se pode entrar. Da, a compreenso da
imagem como limiar: estruturada como um diante-dentro: inacessvel e impondo sua
distncia, por prxima que seja pois a distncia de um contato suspenso, de uma
impossvel relao carne a carne (Didi-Huberman, 1998: 242-3). Por um lado, requer a
participao do sujeito na configurao do espao, a idia de um espao heterogneo,
com direes privilegiadas, relacionadas com as particularidades corporais. Por outro
lado, a necessidade de pens-lo como representao, uma vez que no basta dizer que o
espao constitui nosso mundo: cumpre dizer que ele s se torna acessvel pela
desmundanizao do mundo ambiente (Idem, ibidem: 246). Ao afirmar a
desmundanizao, Didi-Huberman pensa a percepo como uma experincia que exige
uma espcie de ordenamento, que seria agenciado pela geometria, mas que no resultar
em uma viso analtica do espao. Um cenrio, portanto, uma imagem, que se
apresenta, paradoxalmente, como uma abertura um convite capaz de estranhamente
nos manter afastado. Isto, porm, se desdobra de maneira radical: os cenrios se abrem
ao espectador/leitor e, ao mesmo tempo, se abrem neles, promovendo uma encarnao
da geometria: encarno os limiares, que se abrem em mim.
Em relao experincia patolgica, os espaos da doena so limiares que,
configurados a partir do movimento entre abertura e fechamento, encenam uma tenso
entre vida e morte. A dupla cidadania a doena como um acontecimento normal,
inscrito no estado de sade, que se desdobra na inscrio da morte na vida. Encarna
117
como Malone, personagem moribundo do romance Malone morre de Beckett, que,
dentre todas as coisas do quarto onde est internado, identifica-se com a janela que, de
alguma forma, parece ser meu umbigo (Beckett, 2004: 64). Um umbigo uma marca, a
cicatriz de uma ligao interrompida, mas este umbigo-janela ser algo que, apesar de
fechado, estabelece uma relao com o que est fora. Encarnar os espaos como Kafka
os encarnou, quando, numa das pginas de seus Dirios, diz:
Esta tarde, estando deitado e tendo algum girado rapidamente uma chave na
fechadura, tive no espao de um instante fechaduras por todo o corpo, como
num baile de fantasias; uma fechadura, ora aqui, ora ali, era aberta ou fechada a
breves intervalos (Kafka apud Didi-Huberman, 1998: 248).
Aberto e fechado, o corpo-porta de Kafka lembra o umbigo-janela de Malone e o
corpo, melhor dizendo, o trax do filsofo Jean-Luc Nancy. Ele, no livro El intruso, que
narra sua experincia como transplantado do corao, afirma que h uma abertura no
peito que no pode ser mais fechada, permanecendo sempre aberta. Porm, em cada
radiografia, o esterno (osso situado na parte vertebral do trax) aparece costurado
fechado com fios de ao retorcido, da o estranhamento de Jean-Luc, que afirma:
Estou aberto fechado (Nancy, 2006: 36). Aberto e fechado, o corpo ao encarnar os
espaos umbigo-janela, corpo-porta afirma-se a todo tempo como limiar, intermezzo
entre vida e morte, espao em que estas duas foras se enfrentam.
Didi-Huberman lembra que um limiar no s um espao a ser transposto, ele
um limiar interminvel um espao que estar sempre convidando e impedindo a
entrada. Quando os limiares so encarnados, isto acontece no como forma de descrever
a expectativa da morte causada pela doena, porm de encen-la interminavelmente:
haver sempre algum morrendo, mas a passagem para o outro lado no acontece. Esta
experincia Didi-Huberman chama de jogar com o fim: toda imagem dialtica conjuga
118
diante do limiar a suspenso frgil de uma inquietude com uma solidez cristalina,
uma espcie de imortalidade a manter-se assim, interminavelmente, diante do fim
(Didi-Huberman, 1998: 250). Kafka joga com o fim quando afirma que os trechos mais
bem sucedidos e convincentes de sua obra so aqueles em que h algum morrendo.
Algum que julga muito duro ter que morrer, que v nisso uma injustia ou um rigor
exercido contra ele, de modo que torna algo comovente para o leitor, pelo menos a meu
ver. A passagem final, atravessada pela ironia, resume a meditao geomtrica do
limiar interminvel, conjuga a suspenso frgil com a solidez cristalina: Mas para
mim, que julgo poder estar satisfeito em meu leito de morte, tais descries so
secretamente um jogo, pois me comprazo de morrer na pessoa do moribundo. E Kafka
continua, dizendo que explora de maneira bem calculada a ateno do leitor
concentrada na morte, e sou bem mais lcido do que ele, que, suponho, ir gemer em
seu leito de morte (Kafka apud Didi-Huberman, 1998: 251).
A doena diagnosticada e configura uma relao incerta do doente com o
espao que o cerca, que quase sempre definida por interrupes, da, as quedas,
desmaios e sobressaltos recorrentes. Essa relao desdobra-se na diminuio do meio
que circunda o doente. Como vimos, Georges Canguilhem afirma, num dos textos de
Escritos sobre medicina, que um organismo saudvel compe com o meio
circunvizinho, de maneira a poder realizar todas as suas capacidades. J o estado
patolgico ser definido, segundo Canguilhem, pela reduo da latitude inicial de
interveno no meio (Canguilhem, 2005: 65). Compor com o meio ser, ento, a
capacidade de ir-e-vir, de estar livre para circular em qualquer espao a falta de
capacidade de realizar estas aes ser, portanto, uma maneira de compreender a
doena. A uma incgnita o livro em que a experincia da doena aparece pela primeira
vez na poesia de Sebastio h neste volume um sujeito descobrindo-se doente,
119
perdendo o equilbrio do corpo e, sobretudo, diminuindo sua latitude inicial de
interveno no meio. Uma queda um dos poemas em que tal situao encenada,
em que o movimento interrompido:
Acordo no taco
Atnito
Com a queda
O sono irreflexo
Fora de lugar
A marca no queixo
(Resvalado em quina:
Um jab)
V-se no espelho
No fundo convexo
(Leite, 1991: 41).
Confuso e espantado com a queda, que acontece de repente, atordoado com a
pancada este jab bem dado , o sujeito se diz fora de lugar. A afirmao, por um
lado, estranha, porque a queda s pode ter acontecido num espao familiar, um quarto,
uma sala, enfim, em alguma dependncia da casa. Um poema da srie Memria das
sensaes, includo em A regra secreta, de subttulo vertigo 4, sugere uma resposta
para a idia de fora de lugar: A vertigem uma linguagem da margem ou uma forma
de no poder da linguagem do corpo. Esse poema, que imita graficamente uma queda,
dividindo as palavras, e que faz referncia ao filme Um corpo que cai de Hitchcock,
mostra a conscincia da incapacidade do corpo e, ao mesmo tempo, reivindica a
compreenso da vertigem como linguagem, que, em certo sentido, no deixa de ser a
doena figurada. A terceira parte de Memria das sensaes, vertigo 3, interessante
porque desenvolve essa compreenso da vertigem como linguagem:
120
a vertigem uma linguagem
cdigo indecifrado
ou forma de no-
identificar-se
perder todos os pontos de
referncia da margem
NO PODER
erguer-se
os sensores todos desligados
como um corpo morto
cai vertigo
(Leite, 2002: 14).
A possibilidade de perder todas as referncias espaciais, de no poder
identificar-se, explicaria o uso da expresso fora de lugar. E mais os sensores,
aquilo que de certa forma poderia ajud-lo na identificao, esto desligados. No h
como dizer ento, com tanta certeza, em que lugar se encontra. A reduo da capacidade
de interveno no meio, quando encenada, desdobra-se numa compreenso e, sobretudo,
numa figurao diferente do espao. Isso observado na escritura de Gonalo, num dos
poemas do Livro da Dana, outra vez a partir da figura do bailarino: a doena outro
movimento que di e normalmente deita atira o corpo CAMA. o doente deitado na
cama a gemer a coreografia do doente deitado na cama a gemer (Tavares, 2008: 87).
Atirar o corpo cama o movimento que acontece depois que ele atirado no cho o
corpo no compe nenhuma relao com o meio que o circunda deitado, ele est,
normalmente, em repouso. Estar deitado na cama, porm, ser a possibilidade de
compor uma coreografia, de problematizar uma noo do espao da doena que se
apresenta como confinamento e/ou como imposio de um limite. No h a recusa do
espao da cama, nem do quarto, como lugares que confirmam que a doena estreita a
121
relao do sujeito com o seu meio, mas ela ser investida de outras foras e
significaes, como a vertigem e a dana: o espao da doena, quando encenado, ser
ento um espao paradoxal distinto do espao objetivo da geometria, mas no
separado totalmente dele. Configur-lo assim experimentar situaes diferentes das
que so percebidas quando a doena aparece. Ser a possibilidade, sobretudo, de
encenar uma experincia do olhar que desestabilize aquela que, usualmente, se articula
com a formao dos espaos, como a que caracteriza os hospitais.
As reflexes de Michel Foucault sobre o nascimento do hospital mostram como
sua transformao em instrumento teraputico um acontecimento recente. Instituio
destinada assistncia dos pobres de assistncia, mas tambm de separao e
excluso
37
at fins do sculo dezoito, os hospitais se transformam em espao de cura,
em mquinas de curar, a partir da conscincia que seria preciso modificar seu
funcionamento, e isto ocorreu, sobretudo, atravs da medicalizao do hospital. Em que
consiste esta transformao? Foucault lembra, em primeiro lugar, da anulao dos
efeitos negativos do hospital, que se fundamenta, entre outras coisas, na pesquisa das
relaes entre fenmenos patolgicos e espaciais. Era necessrio, por um lado, escolher
um local para a instalao do hospital, que precisa ser ajustado ao esquadrinhamento
sanitrio da cidade, pois ser no interior da medicina do espao urbano que deve ser a
calculada a localizao do hospital. Por outro lado, era fundamental reorganizar seu
espao interno, de modo que seja um espao funcional, possibilitando que ele se torne
um meio de interveno sobre o doente, sendo fator e instrumento de cura e no um
meio de propagao de doenas (Foucault, 2007: 108-9). Em segundo lugar, Foucault
37
Foucault, neste ensaio, explica isto da seguinte maneira: O pobre como pobre tem necessidade de
assistncia e, como doente, portador de doena e de possvel contgio perigoso. Por estas razes, o
hospital deve estar presente para recolh-lo, quanto para proteger os outros do perigo que ele encarna. O
personagem ideal do hospital, at o sculo XVIII, no o doente que preciso curar, mas o pobre que
est morrendo. E continua, afirmando que Dizia-se corretamente, nesta poca, que o hospital era um
morredouro, um lugar onde morrer (Foucault, 2007: 101-2).
122
explica que a reorganizao do hospital foi possvel, essencialmente, a partir do uso da
disciplina a introduo dos mecanismos disciplinares possibilitou a medicalizao
dos espaos hospitalares.
A disciplina uma anlise do espao, uma forma de insero dos corpos em
espaos individualizados, que implica uma tecnologia de observao uma experincia
do olhar constante sobre os corpos e um registro contnuo. H, em relao aos
hospitais, uma srie de tcnicas de identificao: etiquetas amarradas nos punhos dos
doentes, fichas colocadas acima do leite com o nome e a doena do paciente, registros
que dizem respeito ao diagnstico e ao tipo de tratamento. Forma-se, assim, um campo
documental no interior do hospital, um catlogo exaustivo que, atravs das visitas
peridicas dos mdicos, no cessa de ser atualizado (Idem, ibidem: 110). A
disciplinarizao permitir, ento, melhores condies de tratamento e, ao mesmo
tempo, a acumulao de um saber: aquele campo documental ser fundamental na
observao de certas regularidades que, por sua vez, iro ajudar nos diagnsticos e nos
prognsticos. Mais importante, neste sentido, a transformao do hospital, atravs
desses procedimentos, em espao de confinamento um espao que, junto com outros,
definir a sociedade disciplinar, aquela em que o indivduo no cessa de passar de um
espao fechado a outro, cada um com suas leis famlia, escola, caserna, escola, s
vezes o hospital, eventualmente a priso so alguns destes espaos (Deleuze, 2007:
219). Disciplinar, um hospital exige, portanto, uma experincia do olhar reguladora,
capaz de esquadrinhar os corpos que esto inseridos a
38
. Experincia que no ser
encenada no poema que Gonalo escreveu sobre os hospitais, includo no livro 1, uma
tentativa de tornar possvel esta outra experincia:
38
Esse movimento pode ser observado na configurao de um novo campo documental, que ir
consistir na interrogao de bancos de dados de ordem semiolgica e etiolgica, por meio do
computador, e que a formulao de um diagnstico probabilista sustentada pela avaliao de
informaes estatsticas (Canguilhem, 2005: 28). A identificao do doente na sociedade disciplinas
feita atravs de uma assinatura e de uma matrcula substituda em parte pela linguagem da estatstica
123
Faz bem, de quando em quando, contactares com
o sofrimento dos outros.
Aprendes assim que, para alm do sol,
h outros astros. A noite, instrumentos exatos e fundos.
Um enfermeiro passa de calas brancas
transportando na maca um moribundo ou um morto.
As calas so quase transparentes e por baixo so visveis
as cuecas do enfermeiro,
com tiras verticais. Um pormenor.
Enfermeiro simptico, que sorri para quem se encontra
sentado a ver passar o moribundo ou o morto.
E ainda mais. Uma negra segurando
o filho de 20 anos que mal consegue andar.
O velho com tiques na sobrancelha, a barba branca,
assimtrica, feia; e uma rapariga que atravessa
o corredor com uma saia curta e dois seios grandes
frente. Apesar de tudo, disse um amigo
em conversa, mesmo num hospital o nmero de
pessoas excitadas deve ultrapassar o nmero de mortos.
E se isto no salva, em definitivo, a humanidade,
pelo menos ajuda-a temporariamente.
um corredor de hospital, o que no pressupe,
logo partida, nada de maravilhoso,
mas a vontade dos vivos ainda quem manda.
E tudo isto tambm sinal de que no estamos em guerra,
morremos no por bombas, mas por tropear
desastradamente nos hbitos ou na vida;
facto que, como toda a gente
sabe, no raro em nenhuma
profisso.
(Tavares, 2005: 146).
Mais correto seria afirmar que h um esquadrinhamento, uma vez que os
personagens do poema so identificados de certa forma, mas de outra natureza. Essa
identificao feita atravs da observao de pormenores a cala e a cueca do
124
enfermeiro; os tiques e a barba, feia e assimtrica, do velho; a saia, possivelmente curta,
e os seios fartos de uma rapariga que passa pelos corredores. Quem a observa presta
ateno em outros detalhes, no est preocupado com anlises etiolgicas, com leitura
dos sintomas, no pretende criar um campo documental aquilo que estaria investido
de objetividade atravessado, entre outras coisas, pelo erotismo, que estabelece uma
contagem um pouco estranha para um relatrio, no mais o nmero de mortos, mas o
nmero de pessoas excitadas contagem feita sem a utilizao da linguagem estatstica.
Este relatrio chega a concluses estranhas, listadas no fim do poema: corredores de
hospital no provocam admiraes, a vontade dos vivos ainda importa, e no h guerra
acontecendo, j que a morte causada por tropeos nos hbitos ou na vida.
H, enfim, uma espcie de participao do sujeito, no sentido dele ser um
observador, que ser figurada no pedido de ateno ao sofrimento dos outros lembro
que a idia de pertencimento aparece em outro poema de Gonalo, quando ele afirma
que as doenas e os sofrimentos pertencem a toda gente (Tavares, 2005: 92). Olhar
estes que a esto no hospital ser participar, de certa forma, de suas experincias com a
doena e, sobretudo, de compreender que a articulao do espao com a observao
pode ser investida de outros elementos: erotismo, pormenores, concluses bizarras
entram em cena. O hospital no deixa de ser um lugar de confinamento, ltimo estgio
do que Canguilhem definiu como reduo da latitude inicial de interveno no meio,
porm outra forma de interveno criada.
Na escritura de Sebastio, a interveno parece mais radical. Hospitais aparecem
pela primeira vez em A uma incgnita, mas ainda de forma tmida, em dois ou trs
poemas. Em A fico vida, ao contrrio, os hospitais so uma presena importante
abrem o livro, numa seo de um nico poema, chamada Prtico, e depois aparecem em
Incertezas, parte que narra uma internao. Nela, ser possvel identificar
125
procedimentos capazes de criar outra forma de interveno. Um deles ser a
necessidade de ficcionalizar a experincia da doena: atravess-las de elementos que
sugiram que se est diante de uma encenao (lembre-se que a idia da fico aparece j
no ttulo do livro). Isso ocorre atravs da convocao de personagens (como em
Antipotica de Houdini, em que outra identificao, desta vez com o mgico-
ilusionista, feita), de nomes de livros (como em Uma traio (o sobrinho), onde um
simples dilogo se transforma, comicamente, num dilogo de O som e a fria, de
Faulkner), da criao de situaes que lembram filmes noir (em Viglia sonora, o
doente, depois de uma insnia, afirma aliviado: Ao menos no me assassinaram) e da
narrao de sonhos (em Duas camas, ele sonha com os subrbios de Manhattan).
Esse procedimento indica que a figurao do espao hospitalar segue, ento, outra
lgica lgica que pode ser confirmada em Outros passeios, ainda de A fico vida:
Corredores claros: ensaios
Um deles cai no berrio
Um das irms
Leva o soro erguido alto
Andar leve
Banhos de rosa Kitsch
Respira-se a luz
Mas por ali eu no vou
um no way out
Retorno em torno
E porque no espero voltar jamais
Olho o sol l fora
(Leite, 1993: 29).
Outra vez os corredores de um hospital. E outra vez algum caminhando neles
o sujeito, se recuperando, ensaia alguns passos, com a ajuda da irm, e esta
caminhada dar no berrio, que fica, por razes de contaminao, abaixo da ala dos
126
doentes. Ensaiar uma caminhada perto dos bebs sugere, neste sentido, um recomear,
um nascer de novo, clich sempre ouvido depois de situaes-limite a atmosfera do
espao um andar leve, o banhar-se de rosa kitsch, ou rosa beb, a respirao de luz
confirmaria esse recomear. A situao, irnica, por sinal, desfeita nos ltimos versos,
quando espantado, ele diz que no vai por ali. No ir por ali porque, talvez, uma das
caminhadas o tenha feito cair em outro espao do hospital, numa unidade de terapia
intensiva, onde as visitas no so freqentes, onde se monitorado vinte e quatro horas,
onde se fica mesmo entre a vida e a morte. No vou por ali afirmao quase banal
a citao do poema Cntico negro do portugus Jos Rgio. Nele, algum recusa
conselhos do tipo vem por aqui e repete que No, no vou por ali, uma vez que ele,
apesar de no saber para onde vai, s vai por onde / Me levam meus prprios passos.
Prximo, ento, deste lugar que parece uma unidade de terapia intensiva, ele chega
concluso que ali um no way out, expresso inglesa que significa sem sada e que
estampa muitas placas de sinalizao.
Mas No way out tambm o nome de um filme noir dirigido por Mankiewicz
na dcada de cinquenta. A histria simples baleados durante um assalto, dois irmos
brancos (Ray e John) so internados em um hospital. Ray se recusa a ser atendido pelo
mdico (Luther), porque ele negro. John, o irmo que foi atendido pelo mdico, morre
e Ray culpa Luther e decide se vingar dele. Uma hiptese para No way out aparecer
no poema esteja, talvez, relacionada linguagem dos filmes noir e, sobretudo, a uma de
suas caractersticas, o alto contraste, resultando numa razo 10:1 do escuro para o claro,
quando ela de 3: 1 nos filmes tradicionais
39
. Esse corredor, sem volta, definido pela
escurido rivaliza com o berrio, caracterizado, ao contrrio, pela claridade, como se o
espao do hospital fosse configurado a partir da tenso, ou melhor, de uma experincia
39
O filme noir influenciou, com certeza, a poesia de Sebastio. Alm da noo de alto contraste, h
outras referncias, como a presena de detetives e crimes, citados explcita ou implicitamente.
127
do olhar que tensiona claridade e escurido elementos que poderiam significar,
respectivamente, a vida e a morte. A imagem do corredor, nos poemas de Gonalo e nos
de Sebastio, ir sugerir por causa mesmo de sua definio como lugar de passagem
a convivncia, ou melhor, a ligao entre a vida e a morte. E apesar da vontade dos
vivos ainda mandar, quando se est num corredor de hospital a expectativa da morte
grande. A ligao sugerida por este espao e a expectativa sofrida a lembram, por sua
vez, outra imagem recorrente na seo Incertezas, a imagem do fio.
A imagem encontrada em cinco dos dez poemas da srie. No poema
Antipotica de Houdini, o doente fica receoso de ter arrancado os fios noite, e se diz
Arranca-Fios, uma espcie de super-heri. Em Certa luz, ele afirma que est todo
em fios. Uma traio (o sobrinho) termina com a confirmao da quase passagem
para o outro lado: Estive por vrios fios / E acordei nesse aqum. Fios que aparecem
logo no comeo de Duas camas: O ar cotidiano / Envolve-me em fios. No poema
Crculo, que fecha a srie, as enfermeiras observam os dois fios pendentes. A
vontade de desligar-se, de no estar mais todo em fios, parece ser a vontade de no ser
mais identificado a partir da ligao, incmoda, com as mquinas, mesmo que ela seja
fundamental na manuteno da sade do doente. Dentro e fora da UTI outra srie,
publicada no livro A regra secreta, que narra outra internao, talvez mais grave que a
anterior. No terceiro poema, chamado (flash back 1: desligar-se), tal vontade
confirmada: L estive ligado / Todo o tempo / At a desmemria de tudo / E
monitorado / Sonhei com a conscincia / De me desligar / De tudo que no eu mesmo
(Leite, 2003: 33). Mais interessante, porm, o carter um tanto paradoxal dos fios,
uma vez que eles prendem, vinculam e, ao mesmo tempo, so frgeis e tnues, podendo
se romper a qualquer momento. Esta ligao frgil cria, portanto, uma expectativa que,
experimentada por causa do espao, figurada no prprio corpo: internado, ao intervir
128
de forma diferente no meio que o circunda, o doente sente o espao no corpo, pois
nele que a doena e a vida convivem o corpo transforma-se, ento, em paisagem,
janela, corredor, melhor dizendo, ele encarna esses espaos limiares. Ser o corpo
doente que ir encenar esta abertura condicional, ficando sempre por vrios fios, na
expectativa de alguma coisa acontea. O poema de A fico vida, chamado A fico
morte, j comentado em funo de sua abordagem da identidade, tambm encena a
encarnao do espao (da geometria) de maneira bastante interessante:
Penso em meu pequeno fim
Ouvirei zumbidos?
Sugado pela zona de vcuo?
Ou zero-corpo
Polidimensional
Subindo ao teto
Espiando-me de cima
Os outros em torno
Vozes mentalmente exaladas
Dizem ouvir-se um trinado
Muito alto
Sem zumbidos
Mas a adeus
Morro de susto outra vez
Dentro da morte
(Leite, 1993: 11)
A morte no acontece: o pequeno fim, aquele tropear nos hbitos ou na vida do
poema de Gonalo, fica para uma prxima vez. Ao olhar-se, o doente tem uma imagem
de si, e isto parece ser a confirmao de que se est diante de um limiar ele talvez veja
uma porta, ou uma janela, que acessvel, aberta para a passagem, mas fechada, uma
vez que ele no a ultrapassa. Lembre-se que A fico morte abre o livro, e est includo
129
numa seo chamada Prtico, que tem apenas este poema um prtico a entrada
principal de um lugar e por ela que se entra em A fico vida, mas essa entrada, ao
quebrar uma expectativa, acaba impondo uma distncia, uma espcie paradoxal de
fechamento. Estar por um fio, ou por vrios, estar sempre na expectativa, assistindo
sempre a mesma cena, que no se completa. Em Investigaes. Novalis, Gonalo
escreveu dois poemas em que a morte, figurada como um limiar, tambm no acontece.
Estes poemas, quase gmeos, podem ser lidos juntos:
O FIM suspenso.
A forma definitiva no veio, nunca vem. Deus atrasado.
A Permanncia das obras na CARNE.
O EU ainda no se calou.
Mesmo quando o ar Morre o EU guarda o discurso.
O FIM sempre suspenso.
(Tavares, 2002: 10)
Claro que no fcil construir a Morte.
Os tijolos so Negativos, so tijolos ao contrrio: Matria de:
desapareo frente dos olhos.
A Morte a parede que se coloca frente da cara e se diz:
Desapareo!
O corpo a Arquitectura Rpida.
Os pais arquitetos com esperma e ovrios.
Definies rpidas, claro, mas o Exacto, como a Morte: uma
vez.
(Tavares, 2002: 105).
Cada um deles est includo numa parte do livro, que uma srie numerada, mas
no estabelecem relaes com nada que venha antes ou depois esto, pode-se dizer,
suspensos. No primeiro deles, a morte que no acontece afirmada com clareza: o fim
130
suspenso, a forma definitiva no vem nunca, uma vez que Deus est atrasado. Mas
atrasado parece ter outra significao se a morte, forma definitiva, no vem,
porque na arte ela segue uma lgica diferente da lgica divina, ou da lgica da vida
ela permanece na carne. Isso lembra uma das definies de arte de Gilles Deleuze: A
arte o que resiste (Deleuze, 2007: 215). Resistncia esta observada quando o ar
condio fundamental para a existncia morre, e apesar disto o eu continua a falar,
guardando o discurso. Em outras palavras, o poema, ou qualquer obra de arte, de certa
forma, independem da lgica normal da existncia: seu autor morre, mas ele continua,
sempre, encenando a morte, jogando com o fim. Jogar com o fim, portanto, no um
gesto simples, ou fcil como afirma Gonalo no segundo poema , uma vez que os
tijolos utilizados nessa construo so estranhos, desaparecem frente dos olhos.
Esses tijolos negativos, tijolos ao contrrio, so objetos bizarros que talvez sugiram a
dificuldade no uso da linguagem: Claro que no fcil, afirma o poema.
Mas entre o terceiro e o quarto verso, uma parede, que no existia, construda,
e no h como ignor-la, porque ela se coloca frente da cara, como um obstculo
impossvel de no ser percebido. E, ao se colocar na cara, diante do observador, ela, a
parede, diz, ou melhor, grita: Desapareo!. Neste sentido, o objeto construdo com
dificuldade ser uma presena e, paradoxalmente, uma ausncia, desorientando, assim,
quem diante dele se coloca pode-se, ento, afirmar que este espao um limiar. A
partir disso, possvel reconhecer que as imagens so limiares, figuradas pela tenso
que acontece entre o lado de fora e o lado de dentro relao que no definir os
lugares apenas de maneira objetiva, mas atravessa os lugares de afetos, de outras foras
e de outras experincias.
131
CONCLUSO
Flaubert disse uma vez que querer concluir a pior das tolices. No uma tolice
qualquer, mas a pior delas. Essa afirmao iria quase com certeza deixar Bataille
feliz: concluir seria uma espcie de redingote discursivo. Mas concluir um
protocolo: levar a termo, finalizar uma proposio que decorra necessria e
logicamente de enunciados anteriores
40
. Concluir ento parte fundamental de
qualquer experincia discursiva que a partir de enunciados anteriores pretende chegar
a uma proposio, a uma tese. A ironia que atravessa a afirmao de Flaubert no deve,
portanto, ser transformada em um programa radical, mas na possibilidade de repensar
uma forma de concluir e, assim, no dar um redingote ao pensamento pensar uma
concluso que no fosse a pior das tolices, mas apenas uma tolice. Essa recusa da
necessidade de concluir influenciada pelo prazer de escrever comeos e pelo no-
40
Essas so algumas das acepes de concluso no Dicionrio Houaiss da Lngua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Editora Objetiva, 2001.
132
prazer de concluir da escritura de Barthes: o risco de clusula retrica grande demais:
receio de no saber resistir ltima palavra, ltima rplica (Barthes, 2003: 109). Da
pensar na concluso como um discurso que assume sua fragilidade goza de uma sade
frgil e consciente dos fios soltos que deixou pelo caminho. Um discurso ento que,
antes de ser uma espcie de fechamento, indica outros percursos assim no abandona a
condio de sade frgil, sempre desconfiado do rumo do pensamento e, sobretudo,
sempre se apresentando como um ensaio. A compreenso desse primeiro diagnstico se
desdobra na compreenso da perspectiva que atravessou a escritura da tese, a
problematizao da idia de lugar-comum ou da doxa.
A doena como metfora de Susan Sontag livro que, de certa forma, me
motivou a escrever sobre a experincia da doena uma crtica formao do lugar-
comum. Isso, porm, mais bem esclarecido a partir mesmo de um comentrio que
Sontag faz daquilo que mais admira no pensamento de Barthes, a luta contra o inimigo
tradicional as idias recebidas (segundo Flaubert), mentalidade burguesa, falsa
conscincia (de acordo com os marxistas) e doxa (na definio de Barthes). A leitura
de A doena como metfora uma leitura atravessada pela compreenso e crtica
barthesiana do lugar-comum. Sontag me envia para Barthes e assim para uma
semiologia particular que, ao criticar a noo de poder o discurso da arrogncia
em Aula, faz uma srie de afirmaes importantes:
Este objeto em que se inscreve o poder, desde toda a eternidade humana, : a
linguagem ou, para ser mais preciso, sua expresso obrigatria: a lngua.
A linguagem uma legislao, a lngua seu cdigo.
(Barthes, 2005: 12)
Mas a lngua, como desempenho de toda linguagem, no nem reacionria,
nem progressista, ela simplesmente: fascista, pois o fascismo no impedir de
dizer, obrigar a dizer.
133
Assim que ela proferida, mesmo que na intimidade mais profunda do sujeito,
a lngua entra a servio de um poder. Nelas, infalivelmente, duas rubricas se
delineiam: a autoridade da assero, o gregarismo da repetio.
(Idem, ibidem: 14)
Essa a questo que perpassa A doena como metfora: a obrigao de
compreender a doena como um acontecimento que perturba, desequilibra, desordena
aquilo que antes da dela no estado de sade estaria equilibrado, em ordem. No s a
obrigao de pens-la assim e, portanto, de repetir isso, mas o uso negativo que se faz
da experincia patolgica: A doena passa a adjetivar (Sontag, 1984: 76). De
experincia corporal a elemento retrico, de acontecimento normal a agente estranho
que perturba, a doena se transforma transformada, melhor dizendo em um
fenmeno, realmente, assustador e obsceno. Sontag, ento, inventaria esses usos
negativos numa espcie uma antologia das idias feitas da doena ou uma arqueologia
de tais discursos. Inventrio que recorre a inmeras formas de discurso, mas que pelo
aspecto exortativo da obra no apresenta aquelas que encenam o questionamento
desse lugar-comum. Sontag me envia outra vez para Barthes e a compreenso que tem
da literatura, melhor, de como ela enfrenta o discurso da arrogncia: Essa trapaa
salutar, essa esquiva, esse logro magnfico que permite ouvir a lngua fora do poder, no
esplendor de uma revoluo permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim:
literatura (Barthes, 2005, 16). Literatura, escritura ou texto foras que exercem um
deslocamento sobre a lngua, que assume inmeros saberes, mas que no fixa, no
fetichiza nenhum deles, ela lhes d um lugar indireto, e esse indireto precioso (idem,
ibidem, 18). A literatura a escritura ou o texto no diz que sabe sobre a doena, mas
que sabe algo da doena: no utiliza a linguagem para falar sobre essa experincia, ela
encena a experincia patolgica na linguagem, dando-lhe um lugar indireto.
134
Pensar a literatura como lugar indireto foi uma maneira de esquivar-se de uma
compreenso que acreditava nela como uma fora capaz de fixar e fetichizar um saber
sobre a doena. A literatura seria ento um documento, uma prova, um espao de
verificaes um segundo diagnstico, a comprovao de que esse ou aquele autor
usou a linguagem para falar de algo que, realmente, experimentou. Isso, por um lado,
me afastou de um lugar biogrfico, que seria uma maneira de fixar uma identidade um
autor-doente, poder-se-ia dizer e, por outro, de poder compreender a literatura como
encenao do saber, qual for ele: atravs da escritura, o saber reflete incessantemente
sobre o saber segundo um discurso que no mais epistemolgico mas dramtico
(Idem, ibidem: 19). A noo de um discurso dramtico desdobra-se em outras duas
noes importantes, as de cena e cenrio. Em primeiro lugar, a noo de cena se
apresentava de maneira enviesada, sem nenhum desenvolvimento falava em
encenao, mas a idia no era desdobrada. Dois fragmentos de Roland Barthes por
Roland Barthes me ajudaram a desenvolver essa noo. Logo nas primeiras pginas do
livro, Barthes afirma: Tudo isto deve ser considerado como dito por uma personagem
de romance (Barthes, 2003: 11). Isto, no caso, seriam as consideraes que ele
Roland Barthes faz dele mesmo Roland Barthes: assim uma noo de identidade,
sugerida desde o nome do livro, suspensa. J o segundo fragmento relaciona-se, de
forma mais direta, com a cena. Ao comentar as palavras duplas (aquelas que
significam duas coisas diferentes ao mesmo tempo), o francs lembra que uma delas
cena: de teatro ou de escndalo domstico (Idem, ibidem: 86). Em relao s cenas da
doena, os fragmentos foram importantes no entendimento da encenao dessa
experincia: aquilo que deveria por seu carter obsceno permanecer escondido
apresentado no sentido de uma apresentao por um personagem.
135
Parece no ser nada demais uma cena sendo apresentada por um personagem,
mas identifiquei que a noo de cena funciona como um procedimento que,
paradoxalmente, faz questo de ressaltar que se est diante de um procedimento. Peter
Szondi afirma os efeitos de distanciamento na obra de Brecht e lembra dos jornaleiros
do Pequeno organon que gritam: os diversos acontecimentos devem ser amarrados de
sorte que sejam evidentes os ns (Brecht apud Szondi, 2003: 138). Barthes, tambm a
partir da obra dramtica de Brecht, sublinha um procedimento definido como prtica
do abalo: espalhar alfinetes munidos de guizos pela pea (outra palavra dupla) de
modo que seja possvel ouvir cada acontecimento, enxergar cada costura. Mostrar uma
cena em funcionamento no significa valorizar procedimentos metalingsticos, mas
problematizar uma escritura que se apresenta como um continuum e, assim, exige uma
espcie de envolvimento total do espectador-leitor. Mostrar-se como cena colocar
em jogo tanto o autor como o leitor, uma espcie de conscincia da encenao, que se
articula com a figurao da subjetividade como um espao atravessado por outras
escrituras. A literatura como uma das formas de enfrentar o discurso da arrogncia
problematiza, atravs da cena, um uso retrico da doena e, sobretudo, deslocam a
repetio e a autoridade assertiva que atravessam esse uso a transformao da
experincia da doena em lugar-comum assim suspensa.
No h como pensar essa experincia sem articul-la ao par corpo-espao,
enfim, sem pensar na relao que o doente estabelece com os lugares. Da um outro
aspecto que perpassou estas reflexes: a compreenso do espao como trama de
relaes, de cruzamentos de outras referncias, de outros espaos representados, em
outras palavras, o espao que se apresenta como cenrio limiar entre os bastidores (a
intimidade) e a platia (o espao da apresentao da cena), entre dentro e fora. Isso se
desdobrou em outras questes. Em primeiro lugar, a experincia do doente que vive na
136
expectativa de passar para o outro lado, de algum que est por um fio acontecimento
que, na verdade, o corpo encarnando os lugares, ele mesmo se apresentando como um
limiar. Em segundo lugar, a noo de cenrio desdobrou-se na recorrncia das imagens
de portas e janelas nas cenas da doena imagens que figuram o estranhamento causado
pelos limiares: uma abertura que no permite ser atravessada, que difere a passagem
para o outro lado. Essas imagens se articulam condio mesma da imagem e/ou da
representao e isso remeteu idia de jogar com o fim h sempre algum morrendo,
ensaiando uma morte, que figurada na tenso entre a fragilidade da experincia e a
resistncia da imagem. Por fim, a noo do espao como cenrio de forma semelhante
de cena faz questo de se apresentar como cenrio: mostrar, de alguma forma, a
artificialidade do espao onde a cena acontece.
A doena como metfora abre afirmando que todas as pessoas vivas tm dupla
cidadania, uma no reino da sade e outra no reino da doena (Sontag, 1984: 7). Essa
compreenso foi importante na escritura da tese, uma vez que a idia de dupla
cidadania parece articular no sentido de costurar todas as reflexes. Importante,
pois sugere, por um lado, a convivncia da doena com a sade no corpo e, assim, no
compreender aquela como um acontecimento estranho. A conscincia da dupla
cidadania cada pessoa cidado de dois reinos ao mesmo tempo uma forma de
no repetir um lugar-comum sobre a doena, enfim, de no criar um sistema onde ela se
opusesse ao estado de sade. Por outro lado, importante porque a partir da idia da
doena como signo da inscrio da morte na vida torna possvel desmitoligizar um
entendimento da morte, de uma atitude superficial diante dela, da nossa ansiedade
com os sentimentos que ela reivindica (Idem, ibidem: 107). Poderia, inclusive, pensar
na dupla cidadania como uma noo capaz de explicar uma forma enunciativa que goza
de uma sade frgil consciente dos fios soltos, da fragilidade de certas partes, da
137
urgncia de outras, mas no encarando isso de maneira negativa, ao contrrio, sabendo
as cenas apresentadas podem ser desdobradas em outras e, sobretudo, que as cenas
escolhidas para figurar a experincia da doena esperam, ento, outros diagnsticos e
leituras para, assim, dar continuidade ao tratamento.
Apagam-se as luzes.
Paul Auster
138
BIBLIOGRAFIA
ABRAMS, M. H. El espejo y la lmpara. Buenos Aires: Editorial Nova, 1972.
ADAM, Philippe, HERZLICH, Claudine. Sociologia da doena e da medicina. So Paulo:
EDUSC, 2001.
AGAMBEN, Giorgio. Infncia e histria: ensaio sobre a destruio da experincia. In: Infncia
e histria: destruio da experincia e origem da histria. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2005.
_____. A linguagem e a morte: um seminrio sobre o lugar da negatividade. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2006.
______. O autor como gesto. In: Profanaes. Lisboa: Cotovia, 2006.
AIRA, Csar. Diario de la hepatitis. Buenos Aires: Bajo la luna, 2003.
______. As noites de Flores: Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004.
______. Pequeno manual de procedimentos. Curitiba: Arte & Letra, 2007.
ANDRADE, Fbio de Souza. Samuel Beckett: o silncio possvel. So Paulo: Ateli Editorial,
2001.
ARFUCH, Leonor. El espacio biogrfico: dilemas de la subjetividade contempornea. Buenos
Aires: Fondo de Cultura Econmica, 2002.
______ (org.). Pensar este tiempo: espacios, afectos, pertencias. Buenos Aires: Paids, 2005.
ARRIGUCCI Jr., Davi. O guardador de segredos. Folha de S. Paulo, So Paulo, 10 jun. 2000.
Jornal de Resenhas, p. 1-2.
AUG, Marc. No-lugares: introduo a uma antropologia da supermodernidade. So Paulo:
Papirus, 2007.
AUSTER, Paul. De bolos a pedras. In: A arte da fome: prefcios, entrevistas e ensaios. Rio de
Janeiro: Jos Olympio, 1994.
______. Poemas escolhidos. Coimbra: Edies Quasi, 2002.
______. Viagens no scriptorium. So Paulo: Companhia das Letras, 2007.
AZEVEDO, Carlito. 13 variaes sobre Csar Aira. In: As noites de Flores e Um acontecimento
na vida do pintor-viajante (edio especial FLIP). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007.
BAUDELAIRE, Charles. Pequenos poemas em prosa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1976.
BARTHES, Roland. Roland por Roland Barthes. So Paulo: Estao Liberdade, 2003.
BARTHES, Roland. A morte do autor. In: O rumor da lngua. So Paulo: Martins Fontes, 2004.
______. O grau zero da escrita. So Paulo: Martins Fontes, 2004.
______. O gro da voz. So Paulo: Martins Fontes, 2004.
_____. Aula. So Paulo: Cultrix, 2005.
139
______. Zazie e a literatura. In: QUENEAU, Raymond. Zazie no metr. So Paulo: CosacNaify,
2009.
BATAILLE, Georges. Textos para a revista Documents. In: Inimigo Rumor 19. So Paulo, Rio
de Janeiro: CosacNaify, 7Letras, 2007.
BECKETT, Samuel. O inominvel. Lisboa: Assrio & Alvim, 2002.
______. Malone morre. Cdex, 2004.
______. Molloy. So Paulo: Editora Globo, 2007.
BENJAMIN, Walter. Experincia e pobreza e O narrador. In: Obras escolhidas: Magia e
tcnica, Arte e poltica. So Paulo: Editora Brasiliense, 1985.
BERARDINELLI, Alfonso. Da poesia prosa. So Paulo: CosacNaify, 2007.
BERNARDET, Jean-Claude. A doena, uma experincia: fico. So Paulo: Companhia das
Letras, 1996.
BESSE, Jean-Marc. Ver a terra: seis ensaios sobre a paisagem e a geografia. So Paulo:
Perspectiva, 2006.
BIRMAN, Joel. Mal-estar na atualidade: a psicanlise e as novas formas de subjetivao. Rio
de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005.
______. Arquivos do mal-estar e da resistncia. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2006.
BLANCHOT, Maurice. Onde agora? Quem agora? In: O livro por vir. So Paulo: Martins
Fontes, 2005.
_____. A fala cotidiana. In: A conversa infinita: a experincia limite. So Paulo: Escuta, 2007.
BRANDO, Luiz Alberto. Grafias da identidade: Literatura contempornea e imaginrio
nacional. Belo Horizonte, Rio de Janeiro: FALE, Lamparina, 2005.
CABANNE, Pierre. Marcel Duchamp: engenheiro do tempo perdido. So Paulo: Perspectiva,
2002.
CAMPOS, Augusto de. O Flaubert que faz falta. In: margem da margem. So Paulo:
Companhia da Letras, 1989.
CANETTI, Elias. Sobre a morte. So Paulo: Estao Liberdade, 2009.
CANGUILHEM, Georges. Escritos sobre a medicina. Rio de Janeiro: Forense Universitria,
2005.
______. O normal e o patolgico. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2007.
CAUQUELIN, Anne. Arte contempornea: uma introduo. So Paulo: Martins Fontes, 2005.
______. A inveno da paisagem. So Paulo: Martins Fontes, 2007.
______. Freqentar os incorporais: contribuio a uma teoria da arte contempornea. So
Paulo: Martins Fontes, 2008.
COHEN, Jean-Louis. Le Corbusier: lirismo da arquitectura da era da mquina. Germany:
Taschen, 2005.
140
COLLOT, Michel. O sujeito lrico fora de si. In: Terceira Margem: Revista do programa de
Ps-Graduao em Cincia da Literatura, Ano 8, Nmero 11. Rio de Janeiro: 7Letras, 2004.
_____. Paysage et posie: du romantisme nous jours. Paris: Jos Corti, 2005.
COMBE, Dominique. La referencia desdoblada: el sujeito lrico entre la ficcin e y la
autobiografia. In: ASSEGINOLOZA, Fernando (org.). Teorias sobre la lrica. Madri: Arco
Libros, 1999.
CRARY, Jonathan. Techniques of the observer: on vision and Modernity in the Nineteenth
Century. Cambridge: MIT Press, 1990.
DASSIE, Franklin Alves. Sebastio Uchoa Leite. Coleo Ciranda da Poesia. Rio de Janeiro:
EDUERJ, 2010.
DELEUZE, Gilles. Crtica e clnica. So Paulo: Editora 34, 2006.
______. Conversaes. So Paulo: Editora 34, 2007.
______. Sobre teatro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2010.
DORD-CROUSL, Stphanie. Apresentao. In: Bouvard e Pcuchet. So Paulo: Estao
Liberdade, 2007.
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. So Paulo: Editora 34. 1998.
EIRAS, Pedro. A moral do vento: ensaio sobre o corpo em Gonalo M. Tavares. Lisboa:
caminho, 2006.
ELIAS, Norbert. A solido dos moribundos. Rio de Janeiro: 2001.
FLAUBERT, Gustave. Dicionrio de idias feitas. Lisboa: Livros B, 1974.
______. Bouvard e Pcuchet. So Paulo: Estao Liberdade, 2007.
FOUCAULT, Michel. O nascimento da clnica. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006.
______. O nascimento da medicina social, O nascimento do hospital, A poltica da sade no
sculo XVIII. In: Microfsica do poder. Rio de Janeiro: Edies Graal, 2007.
GUATTARI, Flix Da produo da subjetividade. In: PARENTE, Andr (org.). Imagem-
Mquina: a era das tecnologias do Virtual. So Paulo: Editora 34, 1999.
GIL, Jos. Movimento total: o corpo e a dana. So Paulo: Iluminuras, 2005.
GUIMARES. Jlio Castaon. A espreita. In: Rodap: Crtica de Literatura Brasileira
Contempornea. So Paulo: Nankin Editorial, 2001.
GOLDBERG, RoseLee. A arte da performance: do Futurismo ao presente. So Paulo: Martins
Fontes, 2006.
GRODDDECK, Georg. O livro dIsso. So Paulo: Editora Perspectiva, 2004.
HAMBURGER, Michael. A verdade da poesia. So Paulo: CosacNaify, 2007.
HEGEL, G.W.F. As artes romnticas: Pintura, msica e poesia. In: Esttica. Lisboa: Guimares
Editores, 1993.
JAY, Martin. Campos de fuerza: entre la historia intelectual y la crtica cultural. Buenos Aires,
Paids, 2003.
KAFKA, Franz. Dirios. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2000.
______. Um mdico rural. So Paulo: Companhia das Letras, 2003.
141
KRAUSS, Rosalind. El inconsciente ptico. Madri: Tecnos, 1997.
LAPLANTINE, Franois. Antropologia da doena. So Paulo: Martins Fontes, 2004.
LEHMANN, Hans-Thies. Teatro ps-dramtico. So Paulo: CosacNaify, 2007.
LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. So Paulo: Perspectiva, 2002.
LEITE, Sebastio Uchoa. A uma incgnita. So Paulo: Iluminuras, 1991.
______. A fico vida. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.
______. A espreita. So Paulo: Editora Perspectiva, 2000.
______. A regra secreta. So Paulo: Landy, 2002.
______. Crtica de ouvido. So Paulo: CosacNaify, 2003.
______. Um homem magro. In: Inimigo Rumor: Revista de Poesia 16, Rio de Janeiro, So
Paulo, 2004.
LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiogrfico: de Rousseau Internet. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2008.
LIMA, Luiz Costa. A potica tona de Sebastio Uchoa Leite. In: Pensando nos trpicos
(Dispersa demanda II). Rio de Janeiro: Rocco, 1991.
______. Lira e antilira: Mrio, Drummond, Cabral. Rio de Janeiro: Toopbooks, 1995.
MARTELO, Rosa Maria. Em parte incerta: estudos de poesia portuguesa moderna e
contempornea. Porto: Campo das Letras, 2004.
MARZONA, Daniel. Minimal art. Germany: Taschen, 2005.
MANSFIELD, Katherine. Contos. So Paulo: CosacNaify, 2005.
MATTONI, Slvio. Teatro. In: El cuenco de plata. Buenos Aires: Interzona, 2007.
MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o esprito. So Paulo: CosacNaify, 2004.
______. Conversas 1948. So Paulo: Martins Fontes, 2004.
NANCY, Jean-Luc. 58 indicios sobre el cuerpo. Buenos Aires: La Cebra, 2007.
______. El intruso. Buenos Aires: Amorrortu, 2006.
NAVAS, Adolfo Montejo. Cinco fragmentos para una antilira. In: LEITE, Sebastio Uchoa.
Contratextos. Barcelona: DVD Ediciones, 2001.
______. Da hipocondria. Rio de Janeiro: 7Letras, 2005.
NOVAES, Adauto (org.). O olhar. So Paulo: Companhia das Letras, 2002.
______. O homem-mquina: a cincia manipula o corpo. So Paulo: Companhia das Letras,
2003.
ORTEGA, Francisco. O corpo incerto: corporeidade, tecnologias mdicas e cultura
contempornea. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.
PERLOFF, Marjorie. A escada de Wittgenstein: a linguagem potica e o estranhamento do
cotidiano. So Paulo: Edusp, 2008.
142
PERRONE-MOISS, Leyla. Bouvard e Pcuchet, um romance assassino. In: Intil poesia. So
Paulo Companhia das Letras, 2000.
RANCIRE, Jacques. Transportes da liberdade. In: Polticas da escrita. Rio de Janeiro: Editora
34, 1995.
RIEFF, David. Mar de muerte. Barcelona: Randon House Espanha, 2008.
S-CARNEIRO, Mrio de. Poesias. So Paulo: Difel, 1993.
SANTANNA, Andr. Necrose hemorrgica. In: Sexo e amizade. So Paulo: Companhia das
Letras, 2007
ROUBINE, Jean-Jacques. A linguagem da encenao teatral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 1998.
SERRES, Michel. Variaes sobre o corpo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
SIMMEL, Georg. A metrpole e a vida mental. In: VELHO, Otvio Guilherme (org.). O
fenmeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976.
SISCAR, Marcos. Introduo. In: CORBIRE, Tristan. Os amores amarelos. So Paulo
Iluminuras, 1996.
SOFCLES. Rei dipo, Antgone. Rio de Janeiro: Ediouro, 1969.
SONTAG, Susan. A doena como metfora. Rio de Janeiro: Edies Graal, 1984.
______. Relembrando Barthes. In: Sob o signo de saturno. Porto Alegre: 1986.
______. A esttica do silncio. In: A vontade radical. So Paulo: Companhia das Letras, 1987.
______. Assim vivemos agora. So Paulo: Companhia das Letras, 2005.
______. Diante da dor dos outros. So Paulo: Companhia das Letras, 2003.
______. AIDS e suas metforas. So Paulo: Companhia das Letras, 2007.
SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno (1880-1950). So Paulo: CosacNaify, 2001
SSSEKIND, Flora. Seis poetas e alguns comentrios. In: Papis colados. Rio de Janeiro:
Editora da UFRJ, 1993.
______. Desterritorializao e forma literria. Literatura brasileira contempornea e experincia
urbana. In: Literatura e Sociedade, Departamento de Teoria da literatura e Literatura
Comparada, USP, n. 3, So Paulo: Nankin Editorial, 2003-4.
STAIGER, Emil. Conceitos fundamentais de Potica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1972.
STREMMEL, Kerstin. Realismo. Germany: Taschen, 2005.
TASSINARI, Alberto. O espao moderno. So Paulo: CosacNaify, 2001.
TAVARES, Gonalo M. Investigaes. Novalis. Algs: Difel, 2002.
______. O senhor Henri. Lisboa: Caminho, 2003.
______. 1. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
______. O homem ou tonto ou mulher. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005.
______. Livro da Dana. Florianpolis: Editora da Casa, 2008.
WOGENSCKY, Andr. Mos de Le Corbusier. So Paulo: Martins Fontes, 2007.
You might also like
- O Pessimismo Filosófico de Augusto dos AnjosFrom EverandO Pessimismo Filosófico de Augusto dos AnjosNo ratings yet
- Poesia e escolhas afetivas: Edição e escrita na poesia contemporâneaFrom EverandPoesia e escolhas afetivas: Edição e escrita na poesia contemporâneaNo ratings yet
- A lírica fragmentária de Ana Cristina Cesar: Autobiografismo e montagemFrom EverandA lírica fragmentária de Ana Cristina Cesar: Autobiografismo e montagemNo ratings yet
- A Paixão Segundo GH e o Leitor ImplícitoDocument124 pagesA Paixão Segundo GH e o Leitor ImplícitoFranciele LibardiNo ratings yet
- Revista FronteiraZDocument181 pagesRevista FronteiraZPaulo de ToledoNo ratings yet
- Naynara Tavares MoreiraDocument128 pagesNaynara Tavares MoreiraThaís PiresNo ratings yet
- Lit. GOMES, José Ney Costa. Alma À Janela - Perfil Intensivo de Álvaro de CamposDocument198 pagesLit. GOMES, José Ney Costa. Alma À Janela - Perfil Intensivo de Álvaro de CamposGabriel LazzariNo ratings yet
- Melo & Godoy (2017)Document20 pagesMelo & Godoy (2017)Mônica NagôNo ratings yet
- Schopenhauer e Augusto Dos AnjosDocument127 pagesSchopenhauer e Augusto Dos AnjosbbanckeNo ratings yet
- Narrativas em foco: estudos interdisciplinares em humanidades: - Volume 1From EverandNarrativas em foco: estudos interdisciplinares em humanidades: - Volume 1No ratings yet
- A linguagem perdida das gruas e outros ensaios de rasuras e revelaçõesFrom EverandA linguagem perdida das gruas e outros ensaios de rasuras e revelaçõesNo ratings yet
- A Literatura para Situações: Um Recurso para a Psicologia ExistencialistaFrom EverandA Literatura para Situações: Um Recurso para a Psicologia ExistencialistaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Andrade - Natureza em Álvares de AzevedoDocument216 pagesAndrade - Natureza em Álvares de AzevedoCallipoNo ratings yet
- Antropofagia Como Poética Do Traduzir: Diálogos Com Oswald de AndradeDocument113 pagesAntropofagia Como Poética Do Traduzir: Diálogos Com Oswald de AndradeRose PradoNo ratings yet
- Angústia e existência: análise sartriana de Fernando PessoaFrom EverandAngústia e existência: análise sartriana de Fernando PessoaNo ratings yet
- 17928-Texto Do Artigo-68546-2-10-20201016Document8 pages17928-Texto Do Artigo-68546-2-10-20201016Cristóvão De Oliveira CarraroNo ratings yet
- "O Corpo" y "La Intrusa": Similitudes y Divergencias de Los Cuentos A Partir Del Estudio ComparativoDocument25 pages"O Corpo" y "La Intrusa": Similitudes y Divergencias de Los Cuentos A Partir Del Estudio ComparativoyoongihyungNo ratings yet
- Espaços Gendrados em Narrativas de Júlia Lopes de AlmeidaFrom EverandEspaços Gendrados em Narrativas de Júlia Lopes de AlmeidaNo ratings yet
- O fluxo e a cesura: Um ensaio em linguística, poética e psicanáliseFrom EverandO fluxo e a cesura: Um ensaio em linguística, poética e psicanáliseNo ratings yet
- Time In a Bottle: Uma Experiência de Acompanhamento Terapêutico em Uma Leitura Simbólico-ExistencialFrom EverandTime In a Bottle: Uma Experiência de Acompanhamento Terapêutico em Uma Leitura Simbólico-ExistencialNo ratings yet
- Um Corpo de Leitura: Cortázar, Tragédia e o Jogo da AmarelinhaFrom EverandUm Corpo de Leitura: Cortázar, Tragédia e o Jogo da AmarelinhaNo ratings yet
- Programacao e Resumos Do XIII CEL - Congresso de Estudos Literários Do Programa de Pós-Graduação em Letras Da UFESDocument102 pagesProgramacao e Resumos Do XIII CEL - Congresso de Estudos Literários Do Programa de Pós-Graduação em Letras Da UFESRede Letras Ufes100% (1)
- A tragédia do tédio da repetição em clarice lispectorFrom EverandA tragédia do tédio da repetição em clarice lispectorNo ratings yet
- Dissertação - Literatura - Romance IntimistaDocument142 pagesDissertação - Literatura - Romance IntimistaFelipe SouzaNo ratings yet
- Encontro com o Vivo: Cartografia para a (Inter)Ação do Leitor com a Obra de Florbela EspancaFrom EverandEncontro com o Vivo: Cartografia para a (Inter)Ação do Leitor com a Obra de Florbela EspancaNo ratings yet
- COSTA, Ana Carolina Lopes. A Plagiotropia Como Procedimento de Estudo Relacional Da Criação, Crítica e Método de Tradução de Haroldo de CamposDocument213 pagesCOSTA, Ana Carolina Lopes. A Plagiotropia Como Procedimento de Estudo Relacional Da Criação, Crítica e Método de Tradução de Haroldo de Camposnícollas ranieriNo ratings yet
- Sujeitos Obliquos de Um Sopro de Vida deDocument82 pagesSujeitos Obliquos de Um Sopro de Vida deronaldo_jr__26No ratings yet
- ONISKADocument469 pagesONISKAtrblhltrrNo ratings yet
- Formas Do Tragico Moderno Nas Obras Teatrais de Eugene O Neill e de Nelson Rodrigues PDFDocument307 pagesFormas Do Tragico Moderno Nas Obras Teatrais de Eugene O Neill e de Nelson Rodrigues PDFValSantNo ratings yet
- Oniska Cesarino DoutoradoDocument469 pagesOniska Cesarino DoutoradoneyjosebritomacielNo ratings yet
- FRANJOTTI, Ronaldo Vinagre. O Mundo Como GRAÇA e Representação - Epifania, Polifonia e Niilismo em Luiz Vilela - Dissertação, UFMS, 2011.Document124 pagesFRANJOTTI, Ronaldo Vinagre. O Mundo Como GRAÇA e Representação - Epifania, Polifonia e Niilismo em Luiz Vilela - Dissertação, UFMS, 2011.Ronaldo Vinagre FranjottiNo ratings yet
- (Apostila) Literatura e Outras Séries Culturais UnidadesDocument50 pages(Apostila) Literatura e Outras Séries Culturais UnidadesGabriel CuryNo ratings yet
- Barthes MitologiasDocument366 pagesBarthes MitologiasAlexandre Fernandes100% (1)
- Sentidos e Memória: os signos de Proust na vida de músicos cegosFrom EverandSentidos e Memória: os signos de Proust na vida de músicos cegosNo ratings yet
- Resenhas: Freud e Ferenczi e o Desenho de Um ConceitoDocument5 pagesResenhas: Freud e Ferenczi e o Desenho de Um ConceitoPaula Tavares AmorimNo ratings yet
- VIESENTEINER, Jorge - Experimento e Vivencia - A Dimensão Da Vida Como PathosDocument337 pagesVIESENTEINER, Jorge - Experimento e Vivencia - A Dimensão Da Vida Como PathosGeraldo Barbosa NetoNo ratings yet
- Caderno de Programação Do XIIICEL - Congresso de Estudos Literários Do Programa de Pós-Graduação em Letras Da UFESDocument21 pagesCaderno de Programação Do XIIICEL - Congresso de Estudos Literários Do Programa de Pós-Graduação em Letras Da UFESRede Letras UfesNo ratings yet
- A Dualidade Da Consciência em Augusto Dos Anjos: Uma Abordagem SemióticaDocument32 pagesA Dualidade Da Consciência em Augusto Dos Anjos: Uma Abordagem SemióticaEmília QuerinoNo ratings yet
- Literatura e SagradoDocument186 pagesLiteratura e SagradoNeilton NellNo ratings yet
- Através Dos Espelhos de Guimarães Rosa e Jostein Gaarder: Reflexos e FiguraçõesDocument70 pagesAtravés Dos Espelhos de Guimarães Rosa e Jostein Gaarder: Reflexos e FiguraçõesGabrielaNo ratings yet
- O leitor e o texto: a função terapêutica da literaturaFrom EverandO leitor e o texto: a função terapêutica da literaturaNo ratings yet
- Barbosacvf-A Literatura Da AngustiaDocument264 pagesBarbosacvf-A Literatura Da AngustiaveradiasNo ratings yet
- Revista Caderno de Letras 19Document117 pagesRevista Caderno de Letras 19Juliana MorosinoNo ratings yet
- Fabulações Crônica em o Passado de Alan PaulsDocument190 pagesFabulações Crônica em o Passado de Alan PaulsPatricia de Oliveira IuvaNo ratings yet
- Clarice Ortega HeideggerDocument293 pagesClarice Ortega Heideggereloaguiar43100% (1)
- Lara Poenaru Sobre Los Inocentes de O. Reynoso 2014Document125 pagesLara Poenaru Sobre Los Inocentes de O. Reynoso 2014Romulo Monte AltoNo ratings yet
- Poética e Teoria Da Literatura Na Roma CL SsicaDocument233 pagesPoética e Teoria Da Literatura Na Roma CL SsicaMiguel AntónioNo ratings yet
- Caderno de Resumos 14jellDocument91 pagesCaderno de Resumos 14jellRoberta CantarelaNo ratings yet
- CASTRO, Mariana Dos Reis Gomes De. "Tédio e Modernidade em Baudelaire"Document119 pagesCASTRO, Mariana Dos Reis Gomes De. "Tédio e Modernidade em Baudelaire"Lélia VilelaNo ratings yet
- Escritas de Si, Diana KlingerDocument206 pagesEscritas de Si, Diana KlingerFilipe MalangaNo ratings yet
- LLansol, Maria Gabriela. A Terra Fora Do SítioDocument28 pagesLLansol, Maria Gabriela. A Terra Fora Do SítioRômulo TôrresNo ratings yet
- A Marca de Tânatos - o Traço Melancólico No Texto LiterárioDocument100 pagesA Marca de Tânatos - o Traço Melancólico No Texto LiterárioLélia VilelaNo ratings yet
- KIFFER, Ana. Cartas e Corpos, de Antonin ArtaudDocument10 pagesKIFFER, Ana. Cartas e Corpos, de Antonin ArtaudLélia VilelaNo ratings yet
- Desenhar para Conhecer (Kuschnir)Document13 pagesDesenhar para Conhecer (Kuschnir)Lélia VilelaNo ratings yet
- Sobre o Conceito de Comunidade Na Obra de Maria Gabriela LlansolDocument6 pagesSobre o Conceito de Comunidade Na Obra de Maria Gabriela LlansolLélia VilelaNo ratings yet
- DERRIDA, J. Adeus A Emmanuel Lévinas PDFDocument71 pagesDERRIDA, J. Adeus A Emmanuel Lévinas PDFLélia Vilela100% (1)
- Gestão Estratégica No Setor PúblicoDocument129 pagesGestão Estratégica No Setor PúblicoPós-Graduações UNIASSELVINo ratings yet
- Mil Rosas Roubadas - ResumoDocument21 pagesMil Rosas Roubadas - ResumoFelipe PereiraNo ratings yet
- Apresentação Capítulo 6 - Aprendizagem e MemóriaDocument108 pagesApresentação Capítulo 6 - Aprendizagem e MemóriaAna Paula TurismoNo ratings yet
- Atividade para A Aula - Roda Literária Representatividade Negra - Anos IniciaisDocument21 pagesAtividade para A Aula - Roda Literária Representatividade Negra - Anos IniciaisAna Luísa LandiNo ratings yet
- História & Literatura: Uma Velha-Nova HistóriaDocument19 pagesHistória & Literatura: Uma Velha-Nova HistóriaStephano Evaristo CezarNo ratings yet
- Física Atômica E Conhecimento HumanoDocument151 pagesFísica Atômica E Conhecimento HumanoDaniel DutraNo ratings yet
- Mapa Mental 1.0 - Aulas 1, 2, 3 e 4 PDFDocument1 pageMapa Mental 1.0 - Aulas 1, 2, 3 e 4 PDFThiago MendesNo ratings yet
- Teoria Centrada Na Pessoa - Carl RogersDocument21 pagesTeoria Centrada Na Pessoa - Carl RogersJô Freitas100% (1)
- Os Perigos Do RelativismoDocument11 pagesOs Perigos Do RelativismoPaulo Anchieta F da CunhaNo ratings yet
- A Posthumanist Perspective On An English Course at A Private Language School PDFDocument294 pagesA Posthumanist Perspective On An English Course at A Private Language School PDFLaryssa PaulinoNo ratings yet
- Fenomenologia Existencial Capitulo IIIDocument2 pagesFenomenologia Existencial Capitulo IIICarla Caroline da Rocha de LimaNo ratings yet
- Importância Da Cartografia No Processo de Ensino/Aprendizagem Do Ensino FundamentalDocument9 pagesImportância Da Cartografia No Processo de Ensino/Aprendizagem Do Ensino Fundamentalnarciso antonio saideNo ratings yet
- BUZAN - Mapas MentaisDocument92 pagesBUZAN - Mapas MentaislanacarneiroalmeidaNo ratings yet
- A Noção de Conceito FiguralDocument6 pagesA Noção de Conceito FiguralSílvia AndreaNo ratings yet
- Deixando o Preconceito de Lado e Entendendo o Behaviorismo RadicalDocument7 pagesDeixando o Preconceito de Lado e Entendendo o Behaviorismo RadicalProf. Flavio DiasNo ratings yet
- 9 Pba TecnDocument24 pages9 Pba TecntaysmoisesNo ratings yet
- Dufrenne Estetica e FilosofiaDocument30 pagesDufrenne Estetica e FilosofiaPaulaBraga6886% (7)
- Entrevista Com Stanley Keleman Autor de ANATOMIA EMOCIONAL PDFDocument8 pagesEntrevista Com Stanley Keleman Autor de ANATOMIA EMOCIONAL PDFDestriNo ratings yet
- Nossos Recursos Espirituais, Joel S GoldsmithDocument119 pagesNossos Recursos Espirituais, Joel S GoldsmithEder Lopes100% (4)
- Gary Zukav - The Seat of The SoulDocument148 pagesGary Zukav - The Seat of The SoulLuis GustavoNo ratings yet
- Arquivo Completo E-BookDocument241 pagesArquivo Completo E-BookAnna Carolina AbreuNo ratings yet
- Ensaio Sobre o Filme Aquarius - Cultura Brasileira. Maria Paganelli e Ronei de Aguiar CarvalhoDocument16 pagesEnsaio Sobre o Filme Aquarius - Cultura Brasileira. Maria Paganelli e Ronei de Aguiar Carvalhomariapaganelli96No ratings yet
- Interação Humano ComputadorDocument34 pagesInteração Humano Computadordjale2006No ratings yet
- As Cinco Linguagens Do AmorDocument5 pagesAs Cinco Linguagens Do Amoredson043460100% (2)
- Sementesdasestrelas - Blogspot.pt-Sementes Das Estrelas JoshuaDocument17 pagesSementesdasestrelas - Blogspot.pt-Sementes Das Estrelas JoshuamisticaNo ratings yet
- Jung Mo Sung - Competencia e Sensiblidade SolidáriaDocument224 pagesJung Mo Sung - Competencia e Sensiblidade SolidáriaChuz-in100% (6)
- Lebrun, Gérard - O Subsolo Da CríticaDocument32 pagesLebrun, Gérard - O Subsolo Da Críticaanon_726035453No ratings yet
- Os Exploradores de HistóriasDocument18 pagesOs Exploradores de HistóriasDan PereiraNo ratings yet
- Entre o Ritual e A ArteDocument31 pagesEntre o Ritual e A ArtePaula RegiNo ratings yet
- Leitura Coletiva Organizacao PEDAGOGICA 2024 v2Document43 pagesLeitura Coletiva Organizacao PEDAGOGICA 2024 v2camilalucas.7726902No ratings yet