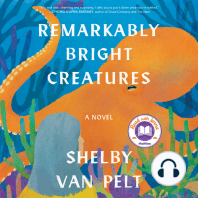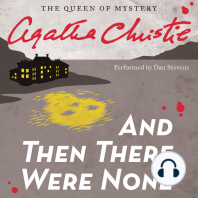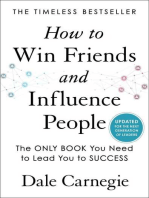Professional Documents
Culture Documents
Publicidade e Consumo
Uploaded by
James WilkerCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Publicidade e Consumo
Uploaded by
James WilkerCopyright:
Available Formats
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus
Publicidade e Consumao nas
Sociedades Contemporneas
LabCom Books 2011
i
i
i
i
i
i
i
i
Livros LabCom
www.livroslabcom.ubi.pt
Srie: Estudos em Comunicao
Direco: Antnio Fidalgo
Design da Capa: Madalena Sena
Paginao: Filomena Matos
Covilh, UBI, LabCom, Livros LabCom 2011
ISBN: 978-989-654-069-2
Ttulo: Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
Autor: Samuel Mateus
Ano: 2011
i
i
i
i
i
i
i
i
ndice
Intrito 3
1 Para uma outra Congurao da Publicidade 9
Prembulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1 Para uma Genealogia da Publicidade . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1.1 Publicidade Epifnica . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1.2 Publicidade Representativa . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.1.3 Publicidade Crtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.1.4 Aufklrung e Publicidade: o Uso Pblico da Razo . . 29
1.1.5 A Esfera Pblica Burguesa . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.1.6 Publicidade Demonstrativa . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.2 Prolegmenos de uma Publicidade como Esttica da Figurao 53
1.2.1 A Componente Disciplinar da Publicidade . . . . . . . 56
1.2.2 A Visibilidade como Pele Social a Espiral do Silncio 63
1.2.3 Conformismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
1.2.4 A Imitao como Organizao Social . . . . . . . . . 72
1.2.5 Uma Sociedade Alter-Regulada . . . . . . . . . . . . 75
1.2.6 Fenomenizao e Simbolizao como ordens estrutu-
rantes da Publicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1.2.7 A Organizao Dramtica da Experincia . . . . . . . 95
1.2.8 Uma Publicidade Figurativa . . . . . . . . . . . . . . 98
Eplogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2 Para uma Interpretao Socio-Antropolgica do Consumo 115
Prembulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
i
i
i
i
i
i
i
i
i
2.1 A Procedncia da Sociedade de Consumo . . . . . . . . . . . 120
2.1.1 A Doutrina Aristotlica da Esterilidade do Dinheiro e
a F Crist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
2.1.2 O Princpio do Fim: a Disputa entre Rosseau e Smith
e a Orientao Crematstica da Sociedade . . . . . . . 123
2.1.3 O Esprito do Capitalismo . . . . . . . . . . . . . . . 126
2.1.4 A Estrutura Socio-Econmica do Capitalismo . . . . . 129
2.2 Uma Apreciao da Razo Econmica Radiograa do homo
oeconomicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
2.2.1 O Imaginrio Utilitarista . . . . . . . . . . . . . . . . 134
2.2.2 O Dce da Denio Econmica do Consumo . . . . 136
2.2.3 A Razo Simblica do Consumo . . . . . . . . . . . . 140
2.2.4 A Prodigalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
2.3 A Lgica Social do Consumo Radiograa do homo consumans144
2.3.1 A Consumao como Discriminao . . . . . . . . . . 150
2.3.2 A Consumao como Processo de Signicao e de
Comunicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
2.3.3 A Ligao Comunitria: Relaes Rituais, Totmicas
e Tribais da Consumao . . . . . . . . . . . . . . . . 165
2.3.4 A Dimenso Mitopotica da Consumao . . . . . . . 172
2.3.5 Consumao e Publicidade . . . . . . . . . . . . . . . 179
2.4 O Centro-Comercial como Espao Pblico . . . . . . . . . . . 183
2.4.1 As Razes Histricas dos Centros-Comerciais . . . . . 185
2.4.2 A Publicidade dos Centros-Comerciais . . . . . . . . 187
2.4.3 Os Centros-Comerciais como Catalisadores da Vida
Social: uma Sociabilidade Itinerante . . . . . . . . . . 195
Concluso 201
Bibliograa 211
ii
i
i
i
i
i
i
i
i
Nota de Reconhecimento
Na hora em que um projecto se conclui no devem fugir da memria os gestos
meritrios que o tornaram exequvel. Pequenos nadas que ganharam enormes
consequncias. O trabalho agora dado a ler remonta aos estudos que condu-
ziram obteno do grau de mestre. A primeira palavra de agradecimento ,
por isso, para o orientador desta investigao, o Professor Doutor Joo Pis-
sarra Esteves, a quem devo um inestimvel dilogo acadmico. A sua inteira
disponibilidade, o seu conselho pronto, o seu elevado padro de exigncia e ri-
gor, e a sua preciosa crtica contriburam de forma innitamente valiosa para a
concretizao desta reexo. Leitor atento, soube ser o guia e a inspirao nos
momentos de maior hesitao. A minha gratido queles que maior impacto
tiveram na minha formao intelectual. Ao corpo docente do Departamento
de Cincias da Comunicao da Faculdade de Cincias Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa, a cada docente em particular, o meu muito
obrigado pelo modo como me ensinaram a questionar e a problematizar a re-
alidade quotidiana, desde o dia em que me tornei aluno do Departamento. A
minha terceira inteno de agradecimento para com a Fundao para a Ci-
ncia e Tecnologia que no mbito do III Quadro Comunitrio de Apoio do
Fundo Social Europeu me concedeu a bolsa de estudo sem a qual no poderia
ter-me empenhado na medida exacta que esta pesquisa mereceria. O seu apoio
nanceiro foi fundamental para o alargamento dos meus horizontes tericos e
bibliogrcos. Por m mas no menos importante o meu agradecimento
pblico aos Livros LabCom, por tornarem possvel que "Publicidade e Con-
sumao nas Sociedades Contemporneas"possa chegar a um nmero maior
de leitores.
Que a dedicao e o labor contidos neste livro digital possam ser uma
singela retribuio para aqueles que para ele contriburam. A todos, o meu
sincero reconhecimento.
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Intrito
A esfera pblica ressurgiu no quadro de reexo da modernidade. Manancial
da opinio pblica, pilar da legitimidade poltica, a ideia de publicidade atra-
vessou todo o pensamento poltico e sociolgico. Segundo uma certa pers-
pectiva disfrica, a sua dimenso poltica entra, na contemporaneidade, em
declnio, o edifcio conceptual crtico em que se arvorava desmorona-se, cede
perante a emergncia de novos fenmenos desestruturantes. As sociedades
estandardizadas, de sociabilidade predominantemente de massa, vm colher a
carga crtica ao sujeito, retiram-lhe a sua volio, tornam-no ablico, suscep-
tvel ao inculcamento de ideias e ao fabrico do seu prprio consentimento. Ao
mesmo tempo, emerge toda uma cultura de consumo como possibilidade de
escoamento dos processos de administrao cientca da produo que criam
uma prolixidade de objectos aos quais a vida societal se vai, progressivamente,
adaptando. A indstria da cultura, no seguimento destas modicaes socie-
tais, vem contribuir para o aniquilamento de uma esfera pblica crtica e de
um sujeito activo. Ela condiciona-o, aliena-o, torna-o regressivo numa cultura
frvola, rida, e reicada como consequncia da sua mercantilizao. O eco-
nmico imiscui-se no cultural, a cultura passa a ser vendida e a sua condio
de acesso a aquisio. Deste modo, a cultura pblica tende a privatizar-se,
deixa de ser universalmente acessvel, reparte-se entre aqueles que a produ-
zem e aqueles que a adquirem, deixa de ser um bem colectivo e polifnico
resultado da participao activa dos indivduos, priva o indivduo educao
livre do esprito, impede-o de determinar-se, de saber, de conhecer, de formar-
se. A cultura, sob o manto da universalidade, torna-se particular e ecltica.
A prima questo que se coloca nos nossos dias : que lugar para a esfera
pblica? Que funo estrutural, se que ainda a possui, possvel assumir
nas sociedades hodiernas? E por outro lado, poder-se- contemplar uma es-
3
i
i
i
i
i
i
i
i
4 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
fera pblica em sociedades caracterizadas por uma indelvel inclinao ao
consumo? Ser este um factor de atroamento da publicidade? Isto , ser o
consumo uma actividade privada? Ou o indivduo publicita-se no momento
em que inicia um acto de compra?
A presente dissertao coloca-se neste desao. Averiguar os princpios
e as condies de funcionamento da publicidade contempornea, tomar-lhe
as medidas, apurar-lhe os defeitos, mas tambm insinuar as suas qualidades
inerentes, a sua validade, a sua excelncia e pertinncia para as sociedades
sem obliterar os seus efeitos nas formas de individuao hodiernas. Procura-
se conhec-la acompanhando o seu desenvolvimento na expectativa de que tal
trajectria contribua para o esclarecimento do seu papel e, esperanosamente,
lhe reconhea uma respeitosa probidade.
O que aqui enunciamos no tem a ambio de ser um compndio hist-
rico ou um mapeamento integral da publicidade. Em contrapartida, aspira
medio e ao exame das suas possibilidades para um reassumir do protago-
nismo que granjeou na Ilustrao e para um restauro das suas competncias,
sobretudo, de sociabilidade, de integrao e de reconhecimento. A incurso
histrica que empreendemos assevera que a publicidade se encontra em muta-
o essa paradoxalmente um dos seus atributos mais constantes. O assunto
de que trata esta reexo , pois, o da transformao de um conjunto de vi-
vncias que a esfera pblica possibilitava. Mas ocupa-se tambm da ocluso
de experincias societais de um outro tipo que apontam para a dissoluo do
ponto xo e da directividade das sociabilidades (Igreja, Estado, Famlia) e
para o nascimento de sociabilidades uidas, transitivas, e exveis de cariz
frequentemente annimo. A esfera pblica j no se sustenta de modo absolu-
tamente crtico nem encontra a sua manuteno nos espaos pblicos slidos
convencionais. actualmente patente um fundo socio-cultural que origina no-
vos entendimentos da relao entre indivduo e sociedade, o mesmo dizer,
entre indivduo e publicidade. A tardo-modernidade que vivenciamos capaz
de re-situar a oportunidade comunicacional da esfera pblica e de advogar a
reformulao do protocolo pblico da sociedade contempornea. No presen-
ciamos um estdio nal da esfera pblica, dos escombros e da runa ser pos-
svel levantar um novo projecto pblico para a sociedade, no essencialmente
poltico, mas fundamentalmente gurativo. Se o poltico foi, nos ltimos cen-
tnios, a dimenso mais pregnante da publicidade, h uma outra dimenso, a
da visibilidade e da visualidade, que tomou para si incontornvel importncia.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 5
Est em causa na publicidade hodierna uma des-especializao das funes
estritamente polticas e crticas, e simultaneamente uma re-especializao
na componente esttica e fenomenolgica da gurao. A delimitao do ob-
jecto terico prende-se com a atribuio de competncias representacionais
que, no obstante persistirem ao longo de todas as modelaes da publici-
dade, readquiriram uma nova acutilncia. O enfoque ser sobre as facetas de
sociabilidade e de solidariedade societais que a guratividade permite. O as-
pecto aglutinante desta pesquisa reside num outro regime de funcionamento
do reconhecimento intersubjectivo. A presidir a toda a argumentao est o
princpio de que a publicidade e a consumao envolvem uma aprovao e um
reconhecimento societais que renem sua volta as subjectividades isoladas
em formas colectivas de solidariedade societal que permitem reordenar o in-
divduo em classes, tribos, ou comunidades totmicas. A sua racionalidade
, como a do reconhecimento intersubjectivo, comunicativa mas envolve uma
variante realizada em prticas simblicas de diversa ndole que circula por
toda a praxis societal.
O projecto dramtico-expressivo da publicidade hodierna reposiciona os
atributos da publicidade como acto do olhar, do tornar visvel pela visuali-
dade, como acto de recolha subjectiva do objectivo, como um acolhimento
fenomenolgico da representao semitica do mundo. Tal como o projecto
fotogrco moderno, a publicidade gurativa responde necessidade vida de
recenseamento e escrutnio do visvel, ao coligir indexial das aparncias, e
de uma certa acessibilidade do indivduo. Convocado a gurar-se, a publici-
dade torna-se para o indivduo ndice de um referente de consenso quanto s
suas denies de apresentao de si. A esfera pblica como esttica da gu-
rao, que convida o homem a representar-se, tambm o impele a inventar-se
e a protagonizar-se subjectiva e inter-subjectivamente com vista alteridade,
sociabilidade e aprovao da sua identidade. A publicidade gurativa con-
tempornea estabelece-se, no como interrupo mas como lgica de estabili-
zao da relao indivduo-sociedade. Se efectivamente ocorreu um estilhaar
da esfera pblica moderna, ele teve a qualidade de originar uma recomposi-
o da publicidade que privilegia o retorno do indivduo ao pblico, e que
se assume como resistncia ao pensamento ps-moderno do homem privado
narcsico. Com efeito, o homem hodierno regressa aos domnios da publici-
dade, no tanto em busca de um projecto poltico para a sociedade, como de
um projecto reexivo para o self que tenta ser objecto das lutas sociais pelo
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
6 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
reconhecimento da sua identidade (e individualidade), isto , a sua admisso,
conrmao e perlhao nas estruturas colectivas e intersubjectivas da soci-
edade. Ou se se quiser, o prprio projecto poltico que se redimensiona e
que recebe uma formatao em torno das polticas de identidade.
Na medida em que a publicidade gurativa se consagra a estes intentos de
integrao e de solidariedade societais, til trazer colao o conceito de
consumao, como a actividade societal de aquisio e troca de bens que pro-
videncia os recursos simblicos para esse reconhecimento gurativo da esfera
pblica dramtico-expressiva. Publicidade gurativa e consumao consti-
tuem modos articulveis do investimento pblico do indivduo, agindo como
partes que se complementam (e completam).
A dissertao desenvolve-se, assim, em duas partes.
Uma primeira parte procede anlise crtica do conceito de esfera pblica
partindo de uma genealogia da publicidade e sugerindo a gurao como hip-
tese explicativa da congurao hodierna da publicidade. Identica-se como
primeiro grande modelo de publicidade a esfera pblica helnica que se carac-
teriza pelo seu carcter epifnico onde o Aparecer converge com o Ser, lugar
de liberdade e de realizao do homem. A publicidade representativa faz do
pblico um predicado vo do senhor feudal. Ele apresenta-se no no meio
dos seus vassalos mas perante eles. A terceira congurao histrica iden-
ticada ocorre no Iluminismo e parte dos pressupostos crtico-racionais dos
sujeitos que se renem para debater o projecto poltico da sociedade. A pu-
blicidade realiza-se na emancipao dos sujeitos que, fazendo livre uso da sua
razo, formam uma sociedade civil que se coloca margem da ingerncia es-
tatal nos assuntos pblicos. Como ilustrao concreta deste modelo de esfera
pblica, averiguam-se os princpios da esfera pblica burguesa. Enunciando
as condies da transformao estrutural da publicidade crtica como empo-
brecimento, decadncia e corrupo, forma-se um modelo demonstrativo da
publicidade entendido substancialmente como desvirtuao das competncias
Iluministas da esfera pblica. Este ltimo modelo de publicidade constitui o
ponto de partida para a interrogao sobre a possibilidade contempornea da
publicidade que este texto preliminar apresenta. Sugere-se que a publicidade
ainda detm considervel importncia no tecido societal ao ser incumbida de
novas funes. A gurao torna-se um principio de funcionamento da publi-
cidade hodierna na medida em que se vive em sociedades alter-direccionadas,
dominadas por uma dimenso disciplinar da visibilidade com propenso a de-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 7
senvolver comportamentos de conformismo e emulao social como mtodo
primrio de concepo da identidade individual e de reconhecimento socie-
tal dessa mesma personalidade. O indivduo logra a sua integrao societal
pela manipulao semitica que confere um revestimento simblico a toda a
actividade societal.
A segunda parte versa a consumao entendida a partir de uma aborda-
gem scio-antropolgica do consumo. Com efeito, procura-se retirar o de-
terminismo economicista na compreenso do consumo para sobre ele fazer
pender uma interpretao que faa da razo cultural o seu princpio orienta-
dor. Neste entendimento, no a utilidade o estalo de racionalidade mas
o dispndio. a prodigalidade, essa generosidade humana, que serve de
modelo a uma razo cultural de cariz simblico. Invertendo a compreenso
econmico-utilitarista do consumo que, incarnando um individualismo meto-
dolgico, imagina o consumo individual como suprimento bio-natural de uma
necessidade, prope-se o consumo, no como actividade funcional mas como
actividade societal por excelncia que satisfaz, no necessidades naturais, mas
desejos comunitrios que assentam em fortes solidariedades e intenes de
pertena. O consumo torna-se, a esta luz, consumao, uma actividade con-
duzida individualmente mas que visa uma certa ideia de sociabilidade, to
annima e efmera quanto assdua e malevel. A consumao inaugura uma
cultura material e reabilita a noo de espao pblico exactamente pela aqui-
sio e troca de bens no local prprio para esse efeito. O centro-comercial
quem preside ao casamento entre publicidade gurativa e consumao fun-
dando o local, no apenas da apresentao de si o fomento de uma socia-
bilidade itinerante , como de administrao dos recursos simblicos essa
mitopotica da consumao de que o indivduo dispe para se protagonizar
perante a alteridade e conquistar uma identidade certicada e reconhecida so-
cialmente, seja em classes sociais como compreenderemos com o conceito
de habitus , seja em relaes totmicas ou tribais.
A esfera pblica contempornea no renasceu das cinzas. Na verdade,
como conrma uma genealogia da publicidade, ela nunca se extinguiu, no
obstante o certicado de bito que por vezes se lhe confere. Apesar do desfale-
cimento de algumas suas competncias fundamentais, e isso um facto indes-
mentvel, essa competncia gurativa de reconhecimento societal mantm-se
slida e age como um remdio basilar no debelar da anomia e das patologias
que o indivduo hodierno enfrenta.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 1
Para uma outra Congurao
da Publicidade
Prembulo
A cultura, tal como a sociedade, um fenmeno produzido nos interstcios
das subjectividades que se entrecruzam nos recessos da esfera privada e da
esfera pblica. A publicidade a condio da formao das identidades, do
intercmbio societal formando um territrio onde a pertena e a excluso so
discutidas, negociadas e conquistadas. Na verdade, a publicidade resulta da
sobreposio e do contraste de antinomias onde a realidade surge ambivalente
e plena de dissidncias, de contradies e paradoxos. Apesar disso, no cai
em radicalismos ocos, em fundamentalismos pauperizantes, nem em anun-
cias servis. A publicidade em toda a sua signicao existe mediante duas
condies: que as comunidades intersubjectivas no estejam por completo
separadas, nem que estejam unidas por inteiro pelo consenso. A distncia
que separa estes dois estados aquele no qual a esfera pblica emerge da
penumbra e assume a sua condio ordenadora de uma cultura forte assente
na edicao das subjectividades e da armao de pontos de vista que con-
tribuem paritariamente para a construo de um projecto de sociedade livre,
democrtico e pluralista. A questo central da esfera pblica a de saber at
que ponto possvel tornar comum isto , comunicar e fazer partilhar nas
diversas comunidades racionais, eventualmente divergentes entre si, as mais
9
i
i
i
i
i
i
i
i
10 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
discordantes crenas e modos de ser. Trata-se do desao de saber conciliar
o que desavindo na ambio de concretizar uma sociedade capaz de ecoar
as pretenses dos seus membros. A publicidade envolve a participao da
sociedade e do indivduo nos processos de deciso colectiva, permitindo a
produo, reproduo e transformao de um imaginrio comum potenciador
de integrao e coeso sociais. Esse projecto que se funda no apenas numa
racionalidade discursiva, no logos, tambm alimentada por outras prticas
simblicas, mais ou menos investidas de contedo poltico, que contribuem
para uma comunicao transversal a toda a sociedade. neste processo que
a individualidade e a identidade so moldadas e xadas, para no momento
seguinte sofrerem nova aco reformadora que modica e acrescenta uma ri-
queza mpar ao esplio subjectivo que cada um possua inicialmente. A esfera
pblica o local por excelncia de interseces inter-estratos e inter-culturas
colocando-se mais do lado da abertura e novas proposies do que do lado da
regra, imutvel, slida e intocvel.
A sociedade contempornea, funcionalmente complexa, caracteriza-se no
entanto, por uma cultura pblica progressivamente rendida a imperativos de
rentabilidade econmica e de administrao social que sublinham uma hege-
monizao cultural e a instituio (e institucionalizao) de uma cultura global
que mina as solidariedades antigas. Urge proceder confrontao crtica da
publicidade avaliando as ambivalncias e as transformaes ocorridas.
O presente escrito coloca-se no mbito desse desao e, recuperando o
sentido formador da actividade de estudar, procura identicar os problemas
contemporneos que a publicidade apresenta encarando-os com mtodo e se-
gundo a perspectiva dual na qual se inventaria aquilo que se perdeu mas, de
igual modo, aquilo que se logrou. O o condutor no nosso intento persegue a
esfera pblica de acordo com o horizonte da individualidade e da intersubjec-
tividade ousando indagar a origem (se que pode ser encontrada) da publici-
dade hodierna.
Nesse esforo til ocuparmo-nos da etimologia dos conceitos de pblico
e privado que, s por si, traduzem uma evoluo e uma transformao to
agudas que se vem, na modernidade, conceitos degenerados. A palavra p-
blico encontra a sua raiz etimolgica em duas tradies prximas. Na tradio
grega, pblico (to koinon) aponta para aquilo que comum abarcando todas
as actividades que devem ser partilhadas e que no so exclusivo de ningum
na medida em que elas encerram uma dimenso de cidadania na qual preciso
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 11
que todos participem. Na verso latina, pblico (publicus) signica o que de
todos, o trivial ou o relativo ao povo. Nesta acepo, publicus est associado
a publicum denotando o domnio do Estado. Com efeito, podem distinguir-
se cinco usos do adjectivo pblico: (1) as pessoas ou actividades relativas ao
Estado, (2) a condio de abertura e acessibilidade que (3) pode ou deve ser
partilhada e comum, bem como (4) tudo aquilo que no pertence aos assun-
tos domsticos ou (5) toda a opinio e conhecimento que resulta dos uxos
comunicacionais.
Enquanto substantivo, pblico refere-se a uma forma de sociabilidade as-
sente no uxo comunicacional com vista proposta, discusso e vinculao
da opinio a assuntos derivados de anidades electivas considerados prepon-
derantes e de importncia societal consensual. Esta uma denio extrema-
mente vaga com carcter de esboo j que o conceito foi assumindo, conforme
as propostas tericas, diversas nuances que modicaram por completo o seu
referente. O facto de o pblico se diferenciar da esfera domstica e dizer res-
peito quilo que pertence a todos acrescenta o signicado de notvel, sendo
o uso da palavra pblico sinnimo de notoriedade e prestgio, dois dos mais
correntes signicados hodiernos e que esto na origem de uma concepo de
publicidade peculiar.
Por seu turno, a palavra privado deriva do latim privatus, particpio pas-
sado de privare que signica despojar, tirar ou privar. Assim, o privado aponta
para o particular, o prprio, o individual e o pessoal. Para os gregos, privado
(to idion) manifestava a qualidade daquilo que no tem de ser partilhado e
que, por conseguinte, no diz respeito ao conjunto da comunidade. Privado
adjectiva uma utilizao exclusiva e um velamento do olhar alheio, tido este
como uma intruso. Por isso designa, tambm, o que se ope ao aparelho es-
tatal. Ainda nesta ltima acepo de ocultamento, o privado aproxima-se do
segredo, daquilo que no deve ser revelado. Ele serve, pois, de fundamento a
um outro conceito associado publicidade, o de intimidade.
Pblico e privado formam duas faces da mesma moeda constituindo uma
dicotomia que existe dialecticamente e onde cada termo apenas adquire sen-
tido quando contrastado com o outro. Esta imbricao de termos que os mes-
cla faz deles conceitos complexos que requerem um exame minucioso por
forma a recort-los do continuum histrico e a inseri-los em contextos social-
mente demarcados.
Reservamos a noo de espao pblico para a sua utilizao literal como
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
12 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
extenso fsica e arena arquitectural no sentido de praa pblica (spatia com-
munia), isto , como lugar materialmente existente de produo e reproduo
de sociabilidades. O frum e a agora ilustram a acepo que entendemos por
espao pblico.
Utilizaremos o termo publicidade (ffentlichkeit) para descrever a qua-
lidade da condio de pblico e que equivale ao constructum conceptual de
esfera pblica. Trata-se do processo de ser pblico e sua capacidade mobi-
lizadora de fundar a sociabilidade. A publicidade vincula-se subjectividade
ao ser objecto da projeco de um mundo interior prprio de cada indivduo.
Ela no deve ser dissociada da sua conotao com a visibilidade e da sua raz
psico-social alem cuja etimologia signica aquilo que se v ou visto ou
olho pblico. O uso da publicidade nesta direco foi inaugurado pelo es-
tadista Edmund Burke, em 1791, no discurso An Appeal from the new to
the old whigs que a referiu juntamente com a expresso de ouvido pblico
para denir a sujeio do indivduo apreciao e criticismo da comunidade.
Abordamos a publicidade (publicness) no sentido da natureza especca de
uma actividade que se processa no espao social. Deve ser distinguida da
publicidade (publicity) que refere um princpio moral ou direito humano.
Infelizmente, a lngua portuguesa pobre na materializao grca dos
signicados pelo que a mesma palavra publicidade comporta diversas nu-
ances. Ao longo desta Parte I, procuraremos claricar as funes e os desen-
volvimentos de que a publicidade tem sido revestida. Advertimos que este
conceito no ser utilizado no sentido corrente de tcnica promocional de in-
culcao de bens e servios atravs da gesto da percepo de um produto
por parte dos receptores. O grau de contaminao entre o conceito de pu-
blicidade como administrao da imagem e apresentao de um produto ou
servio com vista a ser adquirido, e o de publicidade como qualidade do que
pblico, atesta exemplarmente a amplitude das transformaes sofridas pelo
conceito ao longo do tempo. A identicao entre audincia e pblico , neste
aspecto, reveladora. De facto, actualmente a publicidade demonstrativa inva-
diu o domnio da publicidade. Esta , hoje, sobretudo preenchida pelo anncio
(reclame) e est substancialmente reduzida sua componente de anncio co-
mercial (advertising).
Analisaremos esta questo procurando compreender at que ponto se pode
hoje reduzir a publicidade a esta tendncia sem colocar em causa o seu funda-
mento poltico-normativo e a descoincidncia entre poltica e esfera pblica.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 13
Ser, pois, nosso objectivo nesta parte I, estudar o desenvolvimento da noo
de publicidade examinando o renovado papel a ela atribudo no contexto de
sociedades cujo pilar estruturante o sistema econmico capitalista. Comea-
remos por percorrer as vrias teorizaes acerca da publicidade sublinhando
as semelhanas, as diferenas e os motivos que levaram alguns autores a iden-
ticar a sua transformao estrutural com o seu declnio. Exploraremos, de
seguida, a hiptese de uma publicidade como esttica da gurao centrada
sobre a representao de si onde a componente dramatrgica determinante.
Deste modo, obtm-se uma outra compreenso acerca de prticas simblicas.
Estas no vo tanto no sentido de uma deteriorao da riqueza simblica da
comunicao quanto no da sua desmultiplicao. A publicidade da ordem es-
ttica guracional to simblica quanto a da sua congnere da esfera pblica
crtica. No entanto, operada de forma distinta no com a nfase colocada so-
bre a prtica discursiva mas na prtica gurativa, de apresentao simblica
de uma identidade socialmente conforme e potencialmente reconhecvel pelo
tecido societal.
1.1 Para uma Genealogia da Publicidade
A publicidade (e consequentemente a privacidade) foi, segundo diversas abor-
dagens e ao longo do tempo, sendo investida de diferentes papis assumindo
uma forma utuante e camalenica mas sobretudo exvel e dinmica que
nunca deixou de ter um papel fundamental na estabilidade das sociedades.
Jangada simultaneamente frgil e slida que navega ao sabor das mars socie-
tais, a esfera pblica reecte as necessidades de cada sociedade, incorporando,
retendo, excluindo facetas. Congura-se como um processo polimrco e po-
lifnico, de composio e recomposio, qual tecelagem de Penlope na qual
o fazer tambm passa pelo desfazer, onde o m tambm o incio e o
inclui o foi. Ocupemo-nos da liao histria da esfera pblica. Uma das
primeiras formas que a publicidade assumiu pode ser encontrada na Grcia
Antiga.
1.1.1 Publicidade Epifnica
A publicidade da Hlade caracteriza-se por ser um pilar estruturante da socie-
dade, tanto do ponto de vista da sociabilidade e da solidariedade sociais, como
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
14 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
tambm do ponto de vista poltico. Esta forte radicao no tecido societal por
parte da esfera pblica grega s pode, ento, ser compreendida em conjugao
com a fundamentao poltico-losca em que se encontra alicerada.
Na Condio Humana (2001), tomando por modelo a Grcia Antiga, em
particular a democracia ateniense, Hannah Arendt ensaia restaurar a vida p-
blica e a aco poltica como a mais alta condio humana sublinhando quer a
aco (praxis), quer a aparncia. O domnio pblico e o domnio privado ga-
nham, nesta formulao, um papel preponderante no apenas na qualicao
poltica do homem como tambm da prpria condio de humanidade. Trata-
se, pois, de uma teorizao sobre a publicidade com contornos claramente
polticos e que deve ser interpretada luz da losoa poltica da autora. A
interrogao que percorre todo o percurso intelectual de Arendt no se pode
circunscrever losoa poltica. Deve-se encar-la de maneira mais profunda
e abrangente como um questionamento fundamental da condio humana, da
aco humana e do modo como as foras sociais e histricas ameaam a
existncia de uma esfera poltica plena. Tal trai a inuncia da fenomeno-
logia de Heidegger na sua formao intelectual e orienta o seu pensamento
para uma reconstruo fenomenolgica da natureza da existncia poltica. O
enraizamento na vita activa, que pretende designar trs actividades humanas
fundamentais, a saber, labor, trabalho e aco, pode ser visto como a revelao
de estruturas primordiais da obra humana qua existncia e experincia. Ao
faz-lo, releva os perigos que se apresentam esfera poltica como dom-
nio autnomo da prtica humana. O pensamento de Arendt inscreve-se no
horizonte de uma antropologia losca e visa reectir sobre a natureza da
poltica como modo de actividade singular, claramente diferenciado de ou-
tras actividades do ser humano. Essa operacionalizao funda-se no tanto
em conceptualizaes loscas que se interpem com a experincia, como
na prpria experincia comum e quotidiana, no mundo da interpretao par-
tilhada, o mundo da vida (Lebenswelt) na terminologia de Husserl e depois
de Heidegger. O conhecimento teortico , assim, dependente da tematizao
pr-reectidamente presente na experincia mundana. por isso til convo-
car as trs actividades humanas fundamentais da vita activa correspondendo a
cada uma delas uma dimenso da condio humana.
O labor a actividade que corresponde ao processo biolgico do corpo
humano cujo crescimento espontneo, metabolismo e eventual declnio tm a
ver com as necessidades vitais produzidas e introduzidas pelo labor no pro-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 15
cesso da vida. A condio humana do labor a prpria vida (Arendt, 2001:
19). O labor (labor) descreve as necessidades de preservao biolgica e ma-
nuteno da vida que so interminveis e se encontram em constante mutao.
Ele refere o reino da necessidade, da luta incessante pela perpetuao da vida
contra o crescimento e o declnio com que a natureza insistentemente invade o
humano fazendo perigar a durabilidade do seu mundo. O labor signica a la-
buta montona e repetitiva de tornar permanente aquilo que o no . Envolve
a oposio ao consumo assegurando a sobrevivncia tanto do indivduo como
da espcie. So os ditames siolgicos que regem o labor preenchendo toda
a actividade exclusivamente. Laborar signica ser-se escravizado pela neces-
sidade e remete para uma existncia solitria. uma actividade do animal
laborans.
J o trabalho (work) corresponde fabricao e articializao de um
mundo que conquista a temporalidade e a durabilidade. Ao contrrio do la-
bor, o trabalho cria um mundo distinto da natureza caracterizado pela semi-
permanncia e pela relativa independncia dos actores individuais. O tra-
balho a actividade correspondente ao articialismo da existncia humana,
existncia esta no necessariamente contida no eterno ciclo vital da espcie e
cuja mortalidade no compensada por este ltimo (. . . ) A condio humana
do trabalho a mundanidade (ibidem). Enquanto no labor o animal laborans
se mistura cominstrumentos e materiais, o trabalho do homo faber opera sobre
os materiais, construindo com eles divises (fsicas e culturais) que repartem
e separam a esfera humana da natureza, providenciando um contexto estvel
de espaos e instituies de experincia partilhada nos quais a vida do homem
se desenvolve. O arquitecto, o arteso, o artista ou o legislador ilustram essa
dimenso fabricadora de instncias de mundanidade, potenciadoras de relaci-
onamento humano. Um mundo articial de coisas interpe-se entre o homem
e a natureza providenciando a condio de sair do reino da temporalidade, da
vida e da morte que caracterizam o labor.
O trabalho diferencia-se, pois, do labor em vrios aspectos: enquanto que
o labor responde aos imperativos da natureza e da animalidade (a necessi-
dade), o trabalho intervm directamente na natureza violando-a e acondicio-
nando-a aos desejos humanos. Ele , portanto, uma actividade humana. As-
sim, o trabalho governado pela vontade humana estando sujeito ao seu con-
trolo e exibindo uma certa capacidade de liberdade, ao contrrio do labor que
se submete por inteiro natureza e necessidade. Mas a distino mais rele-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
16 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
vante que o labor, enquanto satisfao dos imperativos da vida, permanece
um assunto privado; pelo contrrio, o trabalho inerentemente pblico ao
criar um mundo comum e objectivo que existe entre os homens unindo-os.
Porm, o trabalho no a actividade humana que corresponde poltica ape-
sar dos seus artifcios constituirem a pr-condio para a existncia da comu-
nidade poltica, na medida em que fornece uma arena (mais uma vez, fsica e
cultural) na qual os cidados se podem comprometer na poltica.
A liberdade num mundo de aparncias, apangio sine qua non e conditio
per quamda poltica, existir na vita activa, no no trabalho mas na aco num
enorme grau de interpenetrao. A aco, a nica actividade que se exerce
directamente entre os homens sem a mediao das coisas e da matria, corres-
ponde condio humana da pluralidade, ao facto de que os homens e no o
Homem vivem na Terra e habitam o mundo (Arendt, 2001: 20). Liberdade e
aco coincidem na medida em que s com os outros pode o homem alcanar
a sua liberdade; e a forma de comprometer os homens entre si revela-se na
aco e na sua condio de natalidade. Retomando Sto. Agostinho, Arendt v
a aco humana como incio, pelo que os homens so livres no pressuposto
de que agem. A aco sublinha a prpria condio humana. S a aco
prerrogativa exclusiva do homem, nem um animal nem um deus capaz de
aco e s a aco depende inteiramente da presena dos outros (Arendt,
op.cit: 39). A aco uma categoria pblica, uma prtica discursiva que s
se efectiva quando o indivduo ultrapassa o seu desacompanhamento
1
e age
em concerto. Mas tambm uma categoria da pluralidade que no existiria se
no houvessem outros olhares que a presenciem, lhe assistam e lhe ofeream
signicado. O signicado do acto de cada um conferido pela presena da
alteridade na esfera pblica que reconhece o carcter mpar do cidado e dos
seus actos. , pois, na publicidade que o cidado pode conquistar a sua liber-
dade atravs da aco e do discurso. Esta relao especca entre aco e vida
comum faz do homem um zoon politikon e no um animal socialis conforme
as tradues de Sneca e S. Toms de Aquino das palavras de Aristteles. a
1
Arendt distingue entre solido e desacompanhamento entendendo este como um dilogo
interior do indivduo consigo mesmo margem dos restantes. A solido o estado de alienao
do pensamento consigo mesmo e com os outros a que corresponde o isolamento na esfera
dos contactos sociais e a supresso das necessidades bsicas da vida humana, donde resulta
o abandono do prprio eu. solido corresponde a impotncia e constitui a condio do
governo totalitrio (Arendt, 1978 a : 589).
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 17
condio de ser um animal poltico, portanto pblico, que faz do ser humano
um ser especicamente humano pois capaz de agir em comum e confrontar
opinies atravs do discurso. Um animal social denota somente a vida comum
das espcies animais.
Em smula, vida, mundanidade e pluralidade so as trs condies da
existncia humana e dizem respeito ao agir com a natureza, agir com os ob-
jectos fabricados pelo homem e o agir entre os homens.
no contexto da formulao de uma teoria poltica alicerada na condi-
o humana que emerge simultaneamente uma concepo de publicidade e
de privacidade. No modelo grego de publicidade exposto por Arendt, a es-
fera pblica e a esfera privada no se justapem mas antes existem separada
e autonomamente num abismo. A polis resulta, assim, da segregao entre o
pblico, o que pertence ao comum (to koinon) e o privado, o que pertence ao
particular (to idion) (Arendt, op.cit: 40).
Comecemos pela esfera privada. Para os Gregos, esta a esfera da do-
mesticidade (oikia), da famlia e daquilo que prprio ao homem. Baseia-se
em relaes de parentesco como a irmandade (phratia) e a amizade (phyle) e
caracteriza-se pela dominao a dois nveis: dominao sobre a famlia atra-
vs do despotismo (oikodespotes) e dominao das necessidades e carncias
biolgicas (alimentao, alojamento e segurana). A esfera privada , como
tal, identicada pelos helnicos como o lugar da necessidade e da desigual-
dade. Porm, o seu atributo mais importante, que faz do privado uma esfera
obscura, o carcter privativo da privacidade: o homem privado aquele a
quem subtrado o contacto humano e que se contenta somente com a ausn-
cia dos seus pares. No se dando a conhecer, no se mostrando, apresentando,
representando, no oferecendo a sua individualidade apreciao alheia, isto
, o homem privado, ao no exibir a sua aparncia, assina um certicado de
anonimato e de no-existncia. A privacidade priva a dimenso mpar de cada
um de se juntar ao seu par e elimina pela raiz a tenso entre a posse e a parti-
lha. (. . . ) Os homens tornam-se seres inteiramente privados, isto , privados
de ver e ouvir os outros, privados de ser vistos e ouvidos por eles. So todos
prisioneiros da subjectividade da sua prpria existncia singular que continua
a ser singular ainda que a experincia seja multiplicada inmeras vezes. O
mundo acaba quando visto apenas sob um aspecto e s lhe permitida uma
perspectiva (Arendt, op.cit: 73). A privacidade , assim, considerada em
completa oposio publicidade rmando-se negativamente como a esfera
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
18 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
do ocultamento, do encobrimento, e do segredo. visibilidade do pblico
contrape-se a invisibilidade do privado. Este assumido, no pelo homem
mas pela mulher porque sucumbe imposio de gerir a natalidade, a morta-
lidade, a necessidade. Os homens livres (eleutheroi), ao possuirem escravos,
libertam-se da esfera da necessidade e acedem liberdade da esfera pblica.
A riqueza torna-se, assim, condio de acesso vida pblica ao garantir que
o homem no tenha de prover sustento para si mesmo e ao possibilitar, ao
mesmo tempo, o vagar para exercer a actividade poltica. Neste contexto, a
posse de propriedade sinnimo de domnio das necessidades vitais e passa-
porte para o ingresso no mundo comum a todos.
Mau grado ser o lado sombrio da publicidade, a esfera privada constitui a
condio da esfera pblica e esta no poderia existir sem a devida privacidade.
Assim, no realmente exacto dizer que a propriedade privada, antes da era
moderna, era vista como condio axiomtica para admisso esfera pblica;
ela era muito mais que isso. A privacidade era como o outro lado obscuro
e oculto da esfera pblica; ser poltico signicava atingir a mais alta possi-
bilidade da existncia humana; mas no possuir um lugar prprio e privado
(como no caso do escravo) signicava deixar de ser humano (Arendt, op.cit:
78). No obstante o fosso que afasta as esferas privada e pblica, elas exis-
tem em estreita articulao. A segregao entre pblico e privado incorpora
a separao do reino da liberdade e da necessidade. Isso somente expressa
que so duas esferas em que existem coisas que devem permanecer obturadas
e outras que devem evadir-se do segredo. Possibilitado pela vida privada, o
homem recebe uma enformao da sua vida biolgica (zoe) sob a forma de
bios politikos, a vida poltica representada na esfera pblica.
O bios politikos manifesta-se pela notoriedade (aristotein) dos seus pares
(omoi) no espao pblico da agora atravs da aco (praxis) e do discurso
(lexis), este ltimo revestindo-se das formas da discusso (polemos) e da con-
tenda (agonia). A participao no pblico, o mesmo dizer, nos assuntos da
polis eram regidos por dois princpios: a isonomia a igualdade entre os ci-
dados perante o nomos, a lei e a isegoria o direito a todos participarem na
assembleia democrtica e a intervirem nas decises. O falar (lexis) era indis-
tinto do agir (praxis) o que signica que na polis as decises eram efectivadas
mediante a retrica das palavras e no atravs da fora ou da violncia. A
dimenso retrica, em que a palavra reveste-se de fora persuasiva (peitho),
um aspecto intrnseco ao discurso da esfera pblica onde persuadir inclua
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 19
doses equilibradas de razo e afectividade, do raciocnio silogstico e dos en-
tinemas. Com efeito, a distino singular de cada cidado grego denunciada
no discurso (lexis) e na aco (praxis), atravs dos quais o homem adquire a
sua humanidade. Discurso e aco formam dois plos indissociveis pelos
quais os homens se manifestam, no enquanto objectos de um mundo mas
enquanto homens. Atravs deles, o homem revela-se e age, ou seja, capaz
de se realizar a si mesmo.
Por outro lado, o discurso e a aco denunciam a pluralidade humana
cujo trao maior conter na sua prpria denio a alteridade. Pluralidade
e alteridade constituem uma liga indiscernvel em que singularidade e plura-
lidade comungam no paradoxo da pluralidade dos seres singulares. A alteri-
dade, segundo Arendt, uma faceta da pluralidade sendo o motivo pelo qual
no podemos dizer o que uma coisa sem a distinguir da outra. A plurali-
dade humana, condio bsica da aco e do discurso, tem o duplo aspecto da
igualdade e da diferena: se no fossem iguais, os homens seriam incapazes
de compreender-se entre si e aos seus antepassados, ou de fazer planos para o
futuro e prever as necessidades das geraes vindouras. Se no fossem dife-
rentes, se cada ser humano no diferisse de todos os que existiram, existem
ou viro a existir, os homens no precisariam do discurso ou da aco para
se fazerem entender. Com simples sinais e sons poderiam comunicar as suas
necessidades imediatas e idnticas (Arendt, op.cit: 224).
Neste contexto de livre expresso do pensamento, a exposio da indivi-
dualidade comunidade (ao espao comum da polis) revela a coragem de se
mostrar e se oferecer ao olhar alheio tal e qual como se . A coragem , neste
sentido, a faculdade de transpor o reino da subjugao em direco ao reino
da liberdade e da armao de si. Ter coragem era a condio para aceder
vida poltica armando uma individualidade discursiva e contrariando a mera
socializao imposta pelas limitaes da vida biolgica privada. Ser cida-
do da polis, pertencer aos poucos que tinham liberdade e igualdade entre si,
pressupunha um esprito de luta: cada cidado procurava demonstrar perante
os outros que era o melhor exibindo, atravs da palavra e persuaso, os seus
feitos singulares, isto , a polis era o espao de armao e reconhecimento
de uma individualidade discursiva (Antunes, s/d: 3). A poltica na esfera
pblica sobretudo um exerccio de linguagem e racionalidade discursiva (lo-
gos) e, por consequncia, lugar de negociao da individualidade em que a
excelncia (arete) era a meta no decurso dos processos de distino.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
20 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
A publicidade grega o espao do protagonismo de si, da permanncia, da
aparncia e da comparncia. Toda a existncia humana s na publicidade ra-
ticada porque a aparncia se mistura com a comparncia, o existir confunde-
se com o ser percepcionado, o ser avaliado, o ser julgado. nesta tricotomia
que o agir e que o comear de novo correspondem liberdade de ser, e s com
esta condio pode a polis existir. O termo pblico denota, assim, dois fen-
menos associados mas no-idnticos: uma publicidade como acessibilidade e
visibilidade de si, e uma publicidade como partilha comum.
Pblico signica, em primeiro lugar, que tudo o que vem a pblico pode
ser visto e ouvido por todos e que tem a maior divulgao possvel. Para ns a
aparncia aquilo que visto e ouvido pelos outros e por ns mesmos cons-
titui a realidade. (Arendt, op.cit: 64). Qualica, portanto, uma publicidade
sinestsica de apario pblica em que a objectividade do real s aferida
pela partilha subjectiva desse mundo comum. Marx, argumentando no mesmo
sentido que inuenciou Arendt, havia armado: O que eu no posso ser para
os outros, no sou eu mesmo e no posso ser para mim mesmo (Marx apud
Splichal, 1999: 18). No posso existir como ser humano se no puder comu-
nicar com outros seres humanos, pois s sendo alguma coisa para algum,
posso eu ser.
Mas pblico aponta, outrossim, para o prprio mundo que partilhado
por todos. Conviver no mundo signica essencialmente ter um mundo de
coisas interposto entre os que nele habitam em comum, como uma mesa se
interpe entre os que se sentam em seu redor; pois como todo o intermedirio,
o mundo, ao mesmo tempo, separa e estabelece uma relao entre os homens
(Arendt, op.cit: 67).
A concepo helnica de publicidade encontra a sua sede numa realidade
partilhada por todos os homens que garantida pela presena dos outros e
pelo facto dos cidados aparecerem e comparecerem no espao pblico. A
Existncia aquilo que aparece a todos; e tudo o que deixa de ter essa apa-
rncia surge e esvai-se como um sonho ntima e exclusivamente nosso mas
desprovido de realidade (Arendt, op. cit: 249). A esfera pblica esse es-
pao de aparncia que faz comparecer o homem no espao pblico revelado
pelo discurso e pela aco e que apenas existe enquanto os homens se re-
nem. O palco da revelao do homem esta esfera da apario e do visvel
onde a pluralidade se rma numa fenomenologia do aparecer e em que a
visibilidade subordina a invisibilidade. O comparecer aprovao dos outros
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 21
inclui tambm um co-aparecer uma vez que o fenmeno da apario rec-
proco: aqueles aos quais eu me dou como gura, tambm me so oferecidos
ao meu olhar. Nesta medida, ser-se um agente de discurso e de aco traduz
no homem a dimenso de actor, entendido como actuante e simultaneamente
como aquele que se representa (representare) a si, isto , que re-apresenta,
que torna presente a sua pessoa. Na concepo grega de publicidade existe
evidentemente uma circularidade entre actor e espectador, pois aquele que se
mostra tambm aquele a quem outros se mostram. Ser actor envolve ser
espectador, observar (spectare); mas observar relaciona-se com o aparecer e
com o ser actor, j que a condio para se observar passa por se fazer incluir
na cena da representao. A catarse resume esse processo de purgao em
que o espectador se identica com o actor realizando uma puricao dos
sentimentos perturbadores da sua condio humana (Teles, 2005: 135).
A apario, princpio orientador da publicidade grega, congura-se tam-
bm como pluralidade e como uma revalorizao do outro. Ser pblico na
Hlade aceitar que o eu, aquele que aparece e se manifesta, depende inte-
gralmente da alteridade para existir. O homem no poderia aparecer e, por-
tanto ser, se no existissem outros receptores que reconhecessem e reagissem
ao aparecimento
2
. Os seres vivos, homens e animais, no esto apenas no
mundo, eles so do mundo (are of the world) e isto porque precisamente eles
so sujeitos e objectos entidades que percepcionam e so percepcionadas
ao mesmo tempo (Arendt, 1978: 20). O actor depende do espectador e o
espectador s existe por referncia ao actor. O homem pblico necessita no
apenas de um mundo que constitua a cena da sua apario como tambm ca-
rece de um envolvimento humano que forme o contexto no qual se produza a
impresso proveniente da apario.
A publicidade helnica , por isso, uma publicidade epifnica (epipha-
neia) (Arendt, op.cit: 22), concebida enquanto apario e manifestao de
si prprio perante os outros homens. A vida dedicada polis ocupa-se da
apario, da aparncia, da comparncia e da co-aparncia, mas tambm do
visvel e do belo (kalon) anttese do necessrio e do til. A aparncia, que
resulta da apario, ntima do belo que no entendimento clssico parente e
sinnimo da admirao. A esfera pblica , assim, uma qualidade do homem
2
curioso notar que a dialctica do senhor e do escravo descrita por Hegel partilha com
esta concepo os mesmos princpios orientadores.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
22 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
carregada de esteticizao que empurra o real do ser na direco do ideal do
aparecer. Civilizao da visibilidade, a Hlade a civilizao de uma esttica
da gurao (Ferry, 1995: 16) que concedia ao homem a possibilidade de
assumir-se enquanto tal, numa articulao complexa entre real e ideal e entre
actual e potncia.
Tendo em conta esta esteticizao, no surpresa, portanto, que as re-
presentaes gurativas tenham exemplicado o modelo grego de publici-
dade. A estaturia, a arquitectura e o teatro preguram o modelo do espect-
culo poltico, a opticidade total, e a encenao pela expresso de uma doxa.
No , tambm, dispisciendo que doxa signique, quer opinio, quer fama.
Na verdade, possuir o direito de expressar a opinio coincide com a capaci-
dade de ter fama, de ter nome, de possuir a glria e a reputao. Aceder
esfera pblica e arguir a sua opinio traduz o ser conhecido e o poder ser re-
conhecido pelos seus pares. S na luz da esfera pblica a existncia se revela,
se torna visvel para todos e advm a imortalidade da fama. Nesse sentido se
arma que frequentar o teatro uma prtica paralela e concomitante da pu-
blicidade. Dirigir-se ao teatro ser espectador de uma pea mas tambm ser
actor da vida pblica; signica simbolicamente a armao da sua presena
neste mundo. A esfera pblica helnica consolida-se, assim, enquanto socia-
bilidade na ida ao anteatro e baseia-se no que h de comum nos homens: o
poderem ser vistos e ver, poderem ser ouvidos e ouvir.
Uma concepo epifnica da publicidade grega implica considerar a na-
tureza fenomenolgica do mundo, bem como a desmisticao de algumas
falcias metafsicas: Neste mundo em que entramos, aparecendo vindos de
nenhures e do qual desaparecemos para parte nenhuma, Ser e Aparecer coin-
cidem (. . . ) Nada nem ningum existe neste mundo cujo verdadeiro ser no
pressuponha um espectador. Por outras palavras, nada do que , na medida em
que aparece, existe no singular; tudo o que est destinado a ser percebido
por algum. No o Homem mas os homens que habitam este planeta. A
Pluralidade a lei da terra (Arendt, 1978: 19). Supondo a inverso da inten-
cionalidade da conscincia husserliana em que a objectividade est contida
na subjectividade da conscincia Arendt argumenta que o objecto pressu-
pe um sujeito em potncia porque a sua apario irrevogvel, bem como a
consequente impresso que causa no sujeito. No contexto da esfera pblica,
Aparecer Ser. E o Ser justicado pelos restantes Apareceres; ou seja,
a realidade que o eu percepciona assegurada pelos outros homens. Assim,
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 23
contra o cogito me cogitare de Descartes, Arendt d pluralidade o papel de
fundamento ontolgico. Que a aparncia pea sempre espectadores e, as-
sim, implique um reconhecimento e uma conrmao, pelo menos potenciais,
tem amplas consequncias naquilo que ns, seres humanos num mundo de
aparncias, compreendemos da realidade, a nossa prpria e a do mundo. Em
ambos os casos, a nossa f perceptual como Merleau-Ponty lhe chamou, a
certeza do que o que apreendemos tem uma existncia independente do acto
de apreender, depende inteiramente do objecto aparecer como tal a outros e
ser conrmado por eles. Sem esta conrmao tcita no seramos capazes
de conar na maneira como aparecemos a ns mesmos (Arendt, op.cit: 46).
A sensao de realidade resultante do conjunto de aparies pblicas dos
homens envolve o funcionamento de um sensus communis no sentido de To-
ms de Aquino: como um sentido interior que funciona como senso original,
a partir do qual todos os outros sentidos se desdobram, e que fornece um sen-
timento de partilha (commonness) de mundo comum. Este o contedo da
expresso inter homines esse. Assim, um componente essencial da esfera p-
blica ateniense a presena simultnea de inmeras facetas sob as quais o
mundo se revela (Martins, 2005: 57), uma espcie de perspectivismo alargado
que confere uma ordem acordada realidade.
O modelo epifnico da publicidade grega resume-se na urgncia de auto-
apresentao (self-display) e descreve-se nos limites da semanticidade drama-
trgica: o homem, o cidado da polis faz a sua aparncia, tal como o actor faz
a sua entrada em cena num palco especicamente preparado para si e comun-
gado por todos. Na esfera pblica, o homem entra no palco do mundo. O
parecer (seeming) o parece-me cristalizado no dokei moi o modo, talvez
o nico possvel, no qual um mundo de aparncia percebido. Aparecer quer
sempre dizer parecer a outros e este parecer varia conforme o ponto de vista
e a perspectiva dos espectadores. Por outras palavras, cada apario (appe-
aring) adquire por virtude da sua qualidade de aparecer (appearingness) um
tipo de mscara que pode mas que no tem de escond-lo ou desgur-
lo. O parecer corresponde ao facto de que cada apario (. . . ) percebida
por uma pluralidade de espectadores (Arendt, op.cit: 21). Esse elemento de
escolha deliberativa entre o sonegado e o descoberto enfatiza o elemento subs-
tancialmente humano. Cada manifestao contm em si uma reexo sobre
isso. Mostrar-se auto-apresentar-se em que o homem decide de que forma
deseja aparecer.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
24 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
A aparncia e apario so, pois, nsitas publicidade, assim como a es-
fera pblica parente do Ser. Como Merleau-Ponty disse: Posso fugir de
ser apenas para ser, e dado que Ser e Aparncia coincidem para os homens,
isso signica que posso fugir da aparncia somente para a aparncia (Arendt,
op.cit: 23). Este enfoque na aparncia acarreta um corolrio fundamental para
a indagao desta dissertao: o de que as suposies metafsicas que defen-
dem que o essencial se aloja num interior ocultado por uma face, uma super-
fcie supercial, no corresponde verdade. O preconceito da vida interior
ser mais importante daquilo que somos uma iluso. Com Arendt, a superf-
cie no mero ornamento, mera camada. Constitui, antes, a face que se mos-
tra e que tornando-se aparncia transforma-se naquilo que se . Reconhece-se
que a interioridade, a existir, um aspecto marcadamente dialgico. No mo-
delo helnico de publicidade, assumidamente epifnico, o supercial o que
o homem tem de mais profundo e permanente. A pele no designa aquilo que
nos separa do mundo exterior mas sim aquilo que o introduz em ns. A expe-
rincia do homem voltada para o exterior, para o pblico. Para se apreender,
o olhar no se v a si prprio mas v-se no olhar dos outros, como se a pr-
pria existncia se zesse compreender especularmente (speculare olhar-se
ao espelho), observando, mirando, admirando, isto , olhando para algum
(admirare).
Contra o que os modernos acabariam por postular, o reino da liberdade,
para os gregos, no a esfera privada, nem o espao privado a morada do
homem. Pelo contrrio, a liberdade do agir humano, poitico e agregador, s
se realiza na interseco de ns mesmos com os outros. O homem grego um
homem pblico, um homem entre os seus iguais, logo, um homem inte-
ressado (inter-esse). Na esfera pblica, a aco uma trans-aco: implica
e compromete o indivduo e o seu prximo abarcando-os numa unidade de
sentido; ela uma transaco que atravessa os corpos divisos da idiossincrasia
e os aglutina numa aco englobadora indivisvel. Sinttica porque plural,
pertinente porque pblica.
1.1.2 Publicidade Representativa
Aps o exerccio helnico, as fundaes sociais da esfera pblica sofreram
uma crescente deteriorao (e mesmo corroso) que levaram a um processo
de decomposio e a uma completa reformulao do sentido de publicidade.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 25
Ainda que esta tendesse a desempenhar um papel menor (insignicante) na
vida social (e individual), conservou, ainda, um princpio ordenador da polti-
ca. Exemplo disso mesmo o uso romano da esfera pblica. A civilizao do
Tibre foi a herdeira da cultura helnica apropriando-se dela e revestindo-a com
os ideais romanos da virtus, da pietas e da des, disciplina, respeito e honra. A
separao entre pblico e privado manteve-se acesa, tendo o frum substitudo
a agora como lugar por excelncia da publicidade. Tal como a cultura romana
se dene por uma apoderao da cultura helnica por um aparelho de Estado
italiano, tambm a publicidade romana possui contornos derivados da publici-
dade da hlade. Nesta medida, rescindimo-nos de aprofundar a esfera pblica
do povo da guia pois esta apresenta, em traos gerais, a estrutura grega da
esfera pblica, no obstante as modelaes peculiares que um estudo aprofun-
dado revelaria. A passagem do modelo de esfera pblica greco-romana para
a sociedade medieval decorre com acutilante salincia da civilizao romana
embora se registe uma progressiva degenerao que acompanha a queda do
imprio romano. Durante a Idade Mdia as categorias de pblico, privado e de
esfera pblica (res publica) receberam o enfoque do Direito romano sofrendo
uma completa remodelao com base no estabelecimento da demarcao en-
tre o imperium publicus e o dominium privatus. A sua aplicao ao sistema
feudal de dominao foi baseada nos feudos e na autoridade senhorial. A
organizao econmica do trabalho provocou o centramento das relaes de
dominao na esfera domstica do senhor feudal, de modo que privado e p-
blico acabaram por se fundir numa unidade indiscernvel, estando reservado
ao ltimo a funo de representao colectiva manifestada perante todos.
esfera pblica, porm, j no pertencia aquilo que comum; essa dimenso
cou ao encargo da esfera privada. Comum era a vulgaridade desprovida de
capacidades singulares e incapaz de ditar ordens
3
. Pelo contrrio, o pblico
era a autoridade do senhor para emanar ordens. Lorde e publicidade tornaram-
se indistintos, publicare era sinnimo de requisitar para o senhor feudal.
Assim, na Idade Mdia pblico e privado no formavam esferas indepen-
dentes, pelo que impossvel falar, em sentido estrito, em publicidade. Esta
reclamava para si a agregao do privado denominando o exclusivo domnio
dessa relao. Pode-se, sim, referir uma publicidade representativa embora
3
A palavra inglesa para soldado (private) um resqucio da acepo de privado na Idade
Mdia.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
26 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
o seu sentido se afaste claramente, quer do contedo helnico, quer do signi-
cado que representao assume nos dias de hoje. Esta publicidade (pu-
blicness) da representao no se constituiu como uma esfera social, isto ,
como uma esfera pblica; era antes algo como uma atribuio de estatuto,
se que este termo pode ser aplicado (Habermas, 1991: 7). Pensar em es-
fera pblica na Idade Mdia remete-nos para a esfera do senhor feudal que
passa a ser estruturada pela sua funo de apresentao de uma ostentao de
autoridade superior representada, no para o povo mas perante o povo. Tal en-
cenao
4
de magnicncia e poder era conseguida por intermdio de atributos
pessoais tais como as insgnias, a indumentria e a etiqueta. Este tipo de pu-
blicidade desenrolava-se, assim, atravs de um controlo cerimonial em que
era a apresentao e a opulncia do senhor que geria as fronteiras do pblico
e do privado com tal exclusividade que, a bem-dizer, essa relao se resumia
publicidade representativa.
A representao gerava, deste modo, uma aura de estatuto social, vis-
vel, sobretudo, no cerimonial religioso. As liturgias, as procisses mas so-
bretudo a catedral, constituam a localizao da ocorrncia de uma publici-
dade representativa que aproveitava a gurao espacial, ritual e sagrada do
religioso para inscrever socialmente a visibilidade do pblico. A publicidade
representativa inseria-se no mbito da feudalidade europeia onde devido ins-
tabilidade e fragmentao poltica, bem como s constantes incurses blicas,
a necessidade de proteco pessoal e social constitua a principal preo-
cupao. Ela caracterizava-se pelas relaes de dependncia pessoal onde a
vassalagem estabelecia-se como o lao pessoal que complementa os laos de
sangue, providenciando um contexto estvel, slido e hierarquizado que ofe-
recia uma sensao de integrao e proteco contra fenmenos que escapa-
vam ao vassalo. Nas sociedades feudais, o vnculo humano rmava-se no elo
4
Repare-se que, nesta construo opulenta da apresentao do Senhor feudal, se reco-
nhecem vestgios dramatrgicos da publicidade epifnica. Embora em menor grau, o lorde
tambm se apresenta representando, tambm de faz existir, a si e sua autoridade, atravs da
grandiosidade com que se oferece aos olhares. Porm, entre esta publicidade representativa e
a publicidade epifnica helnica regista-se dois diferimentos fundamentais. Enquanto que o
homem pblico grego se apresenta entre os seus homens (inter homines esse), na poca me-
dieva, o homem apresenta-se, no entre os homens mas perante eles. Por outro lado, se o
cidado grego aparecia na esfera pblica despretenciosamente, o Senhor Feudal encontra na
publicidade representativa medieval o meio de publicar as suas pretenses. Ou seja, a esfera
pblica torna-se objecto de intenes exclusivamente privadas.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 27
entre subordinado e chefe, onde a servido era dominante supondo a estreita
sujeio, econmica e social, de gente humilde aos poderosos, facto conr-
mado pela negao de um salrio a favor da tenure (servio) (Bloch, 1987:
485). Na medida em que a publicidade s existia relativamente aos senhores
feudais e que a restante populao mantinha entre si e o senhor relaes de
subservincia, a publicidade representativa erige-se de acordo com uma certa
vassalidade. Ora se no existe privado e se a publicidade reinante continha
laivos (e laos) de vassalagem facilmente se conclui que, na Idade Mdia, a
publicidade realizou-se enquanto interpretao adulterada e claramente oligr-
quica das relaes entre pblico e privado advindas da antiguidade clssica. A
bom rigor, trata-se de uma publicidade apenas putativamente pblica. No seu
cerne no passa de um uso pblico da privacidade que prenuncia uma crise
incubada na modernidade entre o pblico e o privado. A publicidade repre-
sentativa estabelece-se como a explorao pblica de interesses privados. O
estar entre os homens (inter homines esse) deixa de fazer sentido: prefere-se,
antes, que o homem feudal se projecte entre os seus vassalos. J no se existe
nos meandros dos homens mas sim perante eles.
A partir do sc. XV, manifesta-se um declnio deste modelo de publici-
dade. A corte toma para si a responsabilidade de produzir a publicidade e o
castelo substitui a catedral medida que se institui um crculo de cortesos
que atesta a separao do campo da representao do conjunto de espectado-
res. Esta concentrao na corte demonstra que a publicidade representativa
era um enclave de uma sociedade que se estava a afastar do aparelho estatal.
Por privado entendia-se agora a excluso do domnio do Estado, enquanto que
o pblico designava o Estado que com o absolutismo se havia desenvolvido
numa entidade com existncia objectiva e separada do governante (Haber-
mas, op.cit: 11). O pblico congurava a autoridade pblica enquanto que o
privado se opunha aos organismos e instituies de Estado.
No sc. XVIII, com uma burguesia a ganhar uma cada vez maior pre-
ponderncia, os poderes feudais que eram os herdeiros da publicidade re-
presentativa foram inigidos por um processo de desintegrao em direco
aos plos do pblico e do privado. medida que a burguesia assume um
papel determinante na organizao social, a natureza representativa do poder
vai cedendo s modalidades jurdicas de gesto de uma nova modalidade de
espao, a do mercado (Rodrigues, 1990: 38). com o desenvolvimento do
mercantilismo comrcio de produtos e depois, com a imprensa comrcio
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
28 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
de notcias que a ideia de Estado nasce num contexto de necessidade de dar
a conhecer, isto , de tornar pblico. A sociedade burguesa trouxe consigo
novas sociabilidades que zeram relevar uma ideia de sociedade separada da
governao e uma esfera privada apartada da esfera pblica.
Com a institucionalizao estatal emerge uma esfera de autoridade, j no
senhorial mas pblica, que se responsabiliza pela criao de uma administra-
o permanente e pela criao de um dispositivo coercitivo (foras armadas).
A esfera pblica s pde ser conceptualizada plenamente quando o Estado
se consubstanciou como uma instncia impessoal de autoridade. E antitti-
camente noo clssica de pblico, este depende da possibilidade de con-
trastar Estado e sociedade. medida que com o mercantilismo actividades e
dependncias outrora pertencentes esfera domstica obtiveram importncia
pblica, emergiu uma sociedade civil, sintoma de que a esfera pblica estava,
de novo, a sofrer modicaes decisivas. A sociedade civil desenvolveu-se
nos scs. XVII e XVIII como o domnio genuno da autonomia privada por
oposio ao Estado (Habermas, op.cit: 12). A esfera pblica burguesa, se-
gundo Habermas, doutrinou-se no apenas num complexo de interesses dife-
renciados dos do Estado, como tambm na prtica enunciativa de um discurso
crtico-racional sobre assuntos de relevncia poltica. A esfera pblica altera-
se para expressar o conjunto de pessoas privadas que se juntam de modo a
assegurar a sua autonomia perante a interveno e a inuncia do Estado,
tanto ao nvel domstico como econmico, ideolgico ou poltico.
O publicum evolui para o pblico, o subjectum evolve no sujeito crtico.
O pblico adquire um sentido substantivo deixando de ser apenas uma qua-
lidade. Assim, na tradio do Iluminismo, a partir de uma publicidade repre-
sentativa irrompe uma publicidade crtica.
1.1.3 Publicidade Crtica
Na emergncia de uma concepo de publicidade, deve sempre ter-se em
conta a realidade factual e ideal, bem como o imperativo de se operar nos
domnios histricos e sociolgicos circulantes entre si. Temos acompanhado
os principais aspectos de uma evoluo do conceito. Porm, antes de nos en-
volvermos na acepo moderna de publicidade, na esfera pblica burguesa,
til fazer alguns reparos.
A compreenso da publicidade hodierna ser possvel, em grande medida,
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 29
no dilogo que se estabelece entre o presente e o passado. Contudo, conveni-
ente notar que o modelo burgus de publicidade nasce num tempo particular-
mente singular o Iluminismo e que, portanto, urge interpret-lo de acordo
com as modicaes fundamentais que se processavam no modo do homem
se pensar a si mesmo e aos outros. Neste particular, a razo considerada como
plena e como a mais alta referncia do pensamento especialmente eloquente
e inuencia decisivamente a criao de uma esfera pblica como reino da cr-
tica.
De forma a sublinhar as singularidades da publicidade crtica, faremos
uma incurso sobre a publicidade que nasce na Ilustrao e de que a esfera
pblica burguesa herdeira. Tal legado demasiado importante para que
no trouxssemos colao o seu principal teorizador: Imannuel Kant. Com
efeito, o lsofo constri em vrios opsculos de losoa da Histria e lo-
soa do Direito o fundamento losco do princpio da publicidade, inves-
tigando as categorias que fazem da interaco comunicacional, fundadas no
livre raciocnio de cada um, o princpio regulador da vida social.
1.1.4 Aufklrung e Publicidade: o Uso Pblico da Razo
No clebre opsculo Was ist Aufklrung? Kant explica em que consiste o
Iluminismo: O Iluminismo a sada do homem da sua menoridade de que
ele prprio culpado. A menoridade a incapacidade de se servir do enten-
dimento sem a orientao de outrem. Tal menoridade por culpa prpria se a
sua causa no reside na falta de entendimento mas na falta de deciso e cora-
gem em se servir de si mesmo sem a orientao de outrem. Sapere aude! Tem
a coragem de te servires do teu prprio entendimento! Eis a palavra de ordem
do Iluminismo (Kant, 1995a: 11). Neste pargrafo esto condensados os
princpios fundamentais da Ilustrao que detm, em si, toda uma formulao
de publicidade.
Ter a ousadia de conquistar o seu prprio pensar e alcanar a maioridade
o desao que se coloca ao homem esclarecido. Possuir a capacidade de
tutelar-se a si mesmo e percorrer autonomamente o seu prprio destino na
jornada indenida, incerta e indeterminada que a vida o grande empreen-
dimento que o homem iluminado tem diante de si. A Ilustrao consiste na
atitude de pensar por si mesmo mobilizando o julgamento, o raciocnio e o
prprio entendimento pretendendo saber mais, conhecer com mais acutilncia
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
30 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
e ter a coragem do homem assumir-se como indivduo armando o pronome
eu. A sada da menoridade e a passagem maioridade signica que se
capaz de orientar-se, isto , de partir de uma dada regio csmica (uma das
quatro em que dividimos o horizonte) e encontrar as restantes, a saber, o ponto
inicial (Kant, 1995b: 41). Orientar , assim, denir um posicionamento pr-
prio que se destaca e ao mesmo tempo est em consonncia com os restantes
posicionamentos.
O esclarecimento ou a maioridade s pode ser atingido, porm, na liber-
dade de se fazer um uso pblico da razo (ffentliches Rsonnement). Para
esta ilustrao nada mais se exige do que a liberdade; e, claro est, a mais ino-
fensiva entre tudo o que se pode chamar liberdade, a saber, a de fazer um uso
pblico da sua razo em todos os elementos (. . . ) O uso pblico da prpria
razo deve ser sempre livre e s ele pode levar a cabo a ilustrao entre os ho-
mens; (Kant, 1995a: 13). Torna-se evidente que a tarefa do homem usar a sua
razo e alcanar a maioridade s possvel porquanto ele o faa na esfera p-
blica e exprima a sua liberdade de razoar em concerto. A publicidade , assim,
o prprio mtodo da Aufklrung, publicidade e ilustrao ajustam-se recipro-
camente. O homem atinge um pensamento autnomo e livre na condio de
raciocinar, no solitria mas publicamente. Pensar por si mesmo implica pen-
sar por si mas em voz alta, em associao com outros pensamentos, e onde
o homem se coloca no papel de agente produtor de reexes e agente inter-
pretante de ponderaes. Mas quanto e com que correco pensaramos ns
se, por assim dizer, no pensssemos em comunho com os outros, a quem
comunicamos os nossos pensamentos e eles nos comunicam os seus? (Kant,
1995b: 52). O pensamento individual , assim, tecido na partilha comum do
pensar, cruzando-se e intercalando-se numa malha apertada sem origem nem
limite, no qual uma manta de estratos polifnicos se deixa entrever e onde se
pressente o nascimento de um dialogismo de pensamento ao mesmo tempo
singular e comum.
S a instncia pblica passvel de dotar o homem com as Luzes, isto ,
com o esclarecimento. O uso pblico da prpria razo dene-se como aquele
que qualquer um, enquanto erudito, dela faz parte perante o grande pblico
do mundo letrado (Kant, 1995a: 13). Kant, inuenciado pelos Enciclopedis-
tas, concebe a Ilustrao como matria de intelectuais, de um pblico mas-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 31
culino
5
e letrado que debate racionalmente tanto na universidade, como nos
sales. O mundo erudito, o da sociabilidade culta academias, grmios, so-
ciedades acadmicas et caetera no qual o homem se assume como sujeito
de discurso e de razo, consiste no mundo em que a publicidade emerge e
a tutela substituda pela liberdade. Esse mundo letrado congura-se na
esfera pblica na signicao de um mundo de cidados, de um cosmopo-
litismo (Weltlugkeit), de um kosmos politikos. O cosmopolitismo aponta
nessa direco de humanidade, uma humanidade enquanto espcie no sen-
tido da qual a sua unidade apresentada em si no comparecer: um mundo de
um pblico literrio crtico que, nessa altura, comeava a despontar no seio
da classe burguesa (Habermas, 1991:106). DAlembert e Diderot na Ency-
clopedie foram os primeiros a dirigir-se a um pblico letrado cujo propsito
passa pelo julgamento crtico das obras ento apresentadas ao seu esprito e
onde propem um acervo de conhecimentos diversicados que atestam a ca-
pacidade do homem se auto-esclarecer, ter a coragem de conhecer e alcanar
o estado de poder pensar por si. LEncyclopedie que ns apresentamos ao
pblico , como anuncia o seu ttulo, a obra de uma sociedade de pessoas de
letras (DAlembert, 1902).
Este processo de ser o senhor do seu pensar exige uma aco hermenutica
que exera a exegese do sentido do mundo de modo a que a realidade adquira
legibilidade e um sentido coerente lhe possa ser atribudo. no desenvol-
vimento desta exegese, em que a objectividade do mundo e a subjectividade
individual sofrem um exame minucioso, que a actividade do pblico consiste.
Contudo, a liberdade de exercer publicamente o seu pensar no quer sig-
nicar a corroso das normas sociais como se cada um, invocando a sua razo,
deixasse de cumprir com as suas obrigaes. Kant adverte que a publicidade
um instrumento na concretizao de uma ordem social moralmente justa onde
no se age contra o dever do cidado se se expuser as suas ideias contra a in-
convenincia ou injustia das prescries sociais. Na verdade, o homem goza,
no uso pblico da razo, da liberdade ilimitada de se servir da prpria razo e
5
Kant tem sempre por referncia o indivduo masculino. Deixamos em aberto a questo de
aferir se se trata de uma sindoque ou de uma deliberada excluso da publicidade assente na
distino do gnero sexual. Para esta segunda hiptese concorre o facto do lsofo ostracizar
do direito de voto (isto , da cidadania, logo da possibilidade de fazer uso pblico da razo)
aqueles que no possuam a qualidade natural, ou seja, as crianas e as mulheres (Kant, 1995c:
80).
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
32 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
de falar em seu nome prprio (Kant, op.cit: 15). na discusso de assuntos
de interesse geral na esfera pblica que se opera a mutao da categoria de ser
humano (homme) na de cidado (citoyen). A categoria de ser humano, por
mediao do pblico, precede a de cidado e o bem-comum o seu mbil.
Porque o homem, enquanto cidado, pertence simultaneamente a uma ordem
social e a uma comunidade civil, independente do Estado, assiste-lhe o direito
de julgar publicamente a actuao governamental. (. . . ) preciso conce-
der ao cidado e, claro est, com a autorizao do prprio soberano, a facul-
dade de fazer conhecer publicamente a sua opinio sobre o que, nos decretos
do mesmo soberano, lhe parece ser uma injustia a respeito da comunidade.
Com efeito, admitir que o soberano no pode errar ou ignorar alguma coisa
seria represent-lo como agraciado de inspiraes celestes e superior huma-
nidade. Por isso a liberdade de escrever (. . . ) o nico paldio dos direitos
do povo (Kant, 1995c: 57). Uso pblico da Razo, soberania popular e liber-
dade de imprensa correlacionam-se estreitamente e no somente inuenciam
as opinies polticas dos cidados como tambm as opinies dos homens; no
intervm apenas nas leis como nos costumes (Tocqueville, 1981: 264).
A publicidade defendida por Kant , assim, crtica em dois sentidos: por
um lado, porque envolve a chegada do homem maioridade ao ser capaz de
pensar por si prprio com o discernimento esclarecido sem que aceite indis-
criminadamente aquilo que lhe dado; por outro lado, crtica na medida em
que os actos de poder se vem obrigados a passar pelo crivo do pblico por
forma a serem legitimados. A poltica, na era das Luzes, uma actividade
dessacralizada, negociada entre governantes e governados (cidados), da que
a liberdade de expresso a liberdade de escrever- e a associao consti-
tuam os pilares desta publicidade, ao formarem o modo de expresso pblica.
Arrebatar a liberdade de comunicar implica por conseguinte o furto da liber-
dade de pensar, o facto da razo no se submeter a nenhumas outras leis a no
ser quelas que ela a si mesma se d. John Stuart Mill, em 1859, escrevia em
On Liberty a propsito da liberdade de expresso e de discusso: O juzo
foi dado ao homem para que o possa exercer. Porque esteja sujeito ao erro,
ser que os homens devem ser impedidos de o usar? Proibir o que se julga ser
pernicioso no clamar pela iseno do erro mas ocupar-se do cargo, ainda
que falvel, dos homens actuarem, em conscincia, segundo a sua convico
(Mill, 1909: 13).
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 33
Trs princpios formais denem a estrutura onde assenta a esfera pblica
(ou o estado civil na expresso do lsofo de Knisberg) (Kant, op.cit: 75).
Em primeiro lugar, a liberdade de cada membro da sociedade como ho-
mem, onde a cada um permitido buscar a sua felicidade pela via que lhe
parecer boa.
Em segundo lugar, a igualdade deste membro da sociedade com todos os
outros, como sbdito. Este princpio em que todos se encontram na alada
de leis pblicas coercivas colocado por Kant na frmula, cada membro da
comunidade possui um direito de coaco sobre todos os outros, exceptuando
o chefe de Estado (porque ele no membro desse corpo mas o seu criador
ou conservador), o qual o nico que tem o poder de constranger, sem ele
prprio estar sujeito a uma lei coerciva (Kant, op.cit: 76). Desta igualdade
decorre que cada homem deve possuir a oportunidade de alcanar a condio
que a sua actividade, talento ou sorte lhe granjeiem. Assim, a liberdade apenas
limitada em funo do outro.
Em terceiro lugar, surge o princpio da independncia de cada membro
de uma comunidade, como cidado. Ser cidado expressa a funo de co-
legislar. Os possuidores de direito de voto so os cidados (Staatbrger) e
no o cidado da cidade (bourgeois) que deve possuir a qualidade natural (no
ser mulher nem criana), ser o seu prprio senhor (sui jris) e possuir alguma
propriedade (Kant, op.cit: 80).
O terceiro princpio o que se revela mais susceptvel a crticas na me-
dida em que colide com o segundo princpio supra enunciado o de igualdade
, j que estabelece como condio de participao no apenas a qualidade
natural no ser nem criana nem do sexo feminino como tambm a de-
teno de propriedade. No entendimento Iluminado (que remonta ao pensa-
mento grego) a posse de propriedade simbolizava a independncia econmica
e consequentemente a autonomia privada. Ao impor a propriedade e consig-
nar apenas os homens letrados, o princpio da independncia, na sua origem,
impede a efectivao da igualdade de participao, j que os no-proprietrios
locatrios, assalariados e outros cam, partida, excludos da participao
no debate. Ainda que o princpio da igualdade preveja a possibilidade de cada
um ascender socialmente, apenas uma minoria excepcionalmente talentosa
poderia, por via do mercado livre (economia liberal), adquirir a propriedade
e tornar-se cidado. Este um aspecto frgil, elitista e ideolgico da esfera
pblica, o qual foi objecto de acrrimas crticas, entre as quais a de Habermas
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
34 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
que censura Kant considerando esta proposta uma co legitimadora da or-
dem econmica vigente. A co de uma justia imanente ao comrcio livre
era o que tornava plausvel a fuso de bourgeois e homme, entre as pessoas
privadas, proprietrias e egostas, e indivduos autnomos per se (Habermas,
1991: 111). A contradio apontada pensar o cidado enquanto burgus e
ser humano, em que o cidado uma categoria dependente da categoria de
burgus.
De qualquer modo, estes princpios, para alm da sua formulao los-
ca e concretizao histrica, ou dito de outro modo, independentemente de
uma congurao simblica e de uma prtica social, conjugam o ideal de uma
esfera pblica autnoma ingerncia estatal, cuja preocupao pela res pu-
blica e pelo bem-comum teria por objectivo submeter a actividade poltica
apreciao crtica dos cidados que, desse modo, se determinavam como ins-
tncia legitimadora da lei. O princpio de publicidade kanteano faz conuir a
poltica com a legitimidade democrtica em que um no existe sem o outro j
que a democracia a base moral da associao preconizada na publicidade.
A esfera pblica congura o domnio do uso concertado da razo em que
o razoamento da actividade poltica conduzido sem interferncias estatais.
De facto, a publicidade concebida como a esfera mediadora que articula
Estado e Sociedade por intermdio do contraditrio crtico-racional e onde a
sociedade civil uma espcie de ordre naturel que converte os vcios priva-
dos em virtudes pblicas. O poder de governar s legtimo porque derivado
do assentimento racional dos cidados reunidos publicamente no uso prprio
da razo. Neste sentido, a publicidade constitui o meio de racionalizao da
dominao poltica. Nos termos da losoa do Direito kanteana, o corolrio
do acordo de juzos, pese embora todas as idiossincrasias, consiste na subs-
tituio do poder absoluto da dominao pelo poder absoluto da lei (moral).
Esta conciliao entre a poltica e a moral que havia sido claramente demar-
cada por Maquiavel recorre transparncia e coloca a esfera pblica como
princpio de ordem legal. Tal conciliao resulta da discusso por parte de
Kant da forma de atingir a paz perptua. A publicidade do direito a soluo
encontrada quer ao nvel intra-Estatal, nos assuntos nacionais, quer ao nvel
inter-Estatal, como forma de ganhar a conana dos restantes Estados.
Por outro lado, a publicidade constitui, muito particularmente, a dimenso
tica da poltica. Toda a pretenso legisladora ou jurdica deve emanar da
publicidade, que ao garantir a sua publicitao, isto , ao torn-la comum a
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 35
todos, oferece uma garantia de justia. O princpio transcendental do direi-
to pblico versa: So injustas todas as aces que se referem ao direito de
outros homens, cujas mximas no se harmonizem com a publicidade. Este
princpio no deve considerar-se apenas como tico (pertencente doutrina da
virtude) mas tambm jurdico (concernente ao direito dos homens). Pois, uma
mxima que eu no posso manifestar em voz alta sem que ao mesmo tempo
frustre a minha prpria inteno, que deve permanecer inteiramente secreta
se quiser ser bem sucedida, e que eu no posso confessar publicamente sem
provocar de modo inevitvel a oposio de todos contra o meu propsito, uma
mxima assim s pode obter a necessria e universal reaco de todos contra
mim, cognoscvel a priori, pela injustia com que a todos ameaa (Kant,
1995d: 165).
O princpio de publicidade forma o delta no qual desaguam poltica e mo-
ralidade pois todas as mximas que necessitam de publicidade (para no fra-
cassarem no seu m) concordam simultaneamente com o direito e a poltica
(Kant, op.cit: 170). A publicidade adquire, neste contexto, o mesmo tom de
legislao moral que encontramos na formulao do Imperativo Categrico,
Age apenas segundo uma mxima tal que possas querer que ela se torne lei
universal (Kant, 1995e: 59). O carcter pblico funciona como bitola de
justeza e legitimidade das aces polticas, assim como inclui em si as dimen-
ses da universalidade e da racionalidade. O homem descobre em si mesmo as
mximas do dever moral. Os cidados que fazem o uso pblico da sua razo
no podem eximir-se a legislar moralmente porque agem como uma comuni-
dade de razo em que os seus juzos so permanentemente colocados perante
o discernimento de todos. O universal entra no particular, a opinio torna-se
vontade.
1.1.5 A Esfera Pblica Burguesa
O edifcio terico-conceptual sobre o princpio Iluminista de publicidade eri-
gido por Kant constituir uma referncia primordial nos modos de compre-
ender a sua consecuo pragmtica empreendida pela sociedade. A prtica
social v-se, do sc. XVII em diante, comprometida na concatenao pblica
e poltica de uma publicidade de contornos tico-morais que se vai revelando
um instrumento fundamental de uma democracia onde uma interrogao basi-
lar se impe: quais as condies sociais capazes de privilegiar um debate cr-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
36 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
tico sobre assuntos pblicos apoiado na razo, conduzido por pessoas privadas
que formam uma esfera pblica que medeia entre o espao da privacidade e o
espao estatal e onde os argumentos so os nicos meios de prevalecer?
Procurando responder a esta questo, Habermas, em 1962, na obra Struk-
turwandel der Offentlichkeit, procura trabalhar simultaneamente com uma
concepo formal e uma noo contingente e histrica da esfera pblica, ao
mesmo tempo que ensaia uma compreenso historicamente especca da ca-
tegoria moderna de publicidade relacionando-a com a democracia. Ele toma
por objectivo a realizao de um inqurito de forma interdisciplinar e multidi-
mensional que relacione actual e ideal, facto e norma. A tentativa de operar
com uma concepo ideal normativa e com uma noo historicamente loca-
lizada e contingente da esfera pblica, de proceder a uma anlise simultnea
validade da ideia de espao pblico e facticidade da sua correspondente soci-
olgica, no s constitui uma fonte de ambiguidades, como tambm concorre
para comprovar a nossa tese de continuidade e evoluo do pensamento haber-
masiano em1962, tal como em1992, Habermas pretende, a diferentes nveis
de sosticao terica, relacionar factos e normas (Silva, 2002: 15). Nesse
processo, o herdeiro da teoria crtica da escola de Frankfurt defronta-se com a
existncia de uma localizao institucional da razo prtica: a esfera pblica
burguesa, categoria central das sociedades ocidentais que teve nas realidades
inglesa, francesa e alem durante os sc. XVIII, XIX e XX as suas principais
impulsionadoras e a partir das quais possvel esboar um ideal normativo
fundador da vida poltica das democracias ocidentais. A cada um destes scu-
los corresponde um estgio da evoluo desta esfera pblica, respectivamente,
emergncia, expanso e declnio.
A esfera pblica burguesa servir, neste ponto da nossa pesquisa, como o
modelo que se concretizou socialmente, numa realidade historicamente loca-
lizada, a partir da publicidade das Luzes. Em diversos aspectos essa esfera foi
j aludida naquilo que pondermos sobre o princpio de publicidade. Porm,
cabe-nos, agora, aprofundar os pormenores que contribuem para conferir a
essa publicidade um contedo crtico.
A descrio do modelo burgus de publicidade, inspirado em grande me-
dida pelo princpio de publicidade kanteano, ganha maior pertinncia se o
perspectivarmos como a conceptualizao basilar dos princpios democrticos
e pblicos das sociedades liberais ocidentais, e o utilizarmos como referncia
a partir da qual possvel olhar as nossas sociedades. A sua aplicao dos
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 37
princpios Iluministas da publicidade ser, de igual modo, til do ponto de
vista da possibilidade de melhor compreendermos as transformaes ocorri-
das que habitualmente designamos por declnio. Na verdade, mais do que
uma descaracterizao, os desenvolvimentos da publicidade crtica expressam
a modicao do funcionamento social e dos parmetros ticos adjacentes.
Atentemos, pois, no modelo burgus de esfera pblica.
A esfera pblica burguesa concebida como a esfera de pessoas pri-
vadas reunidas enquanto pblico; bem cedo reclamaram que essa esfera p-
blica fosse regulada margem das prprias autoridades pblicas de modo a
compromet-la no debate acerca das normas gerais que governam as relaes
da esfera da troca de bens e de trabalho social. O mdium desta confrontao
poltica era peculiar e sem precedente histrico: o uso pblico da sua razo
(Habermas, 1991:27). Durante um relativo curto perodo, as condies so-
ciais facilitaram uma situao em que os representantes da burguesia se rela-
cionaram qua pessoas privadas numa argumentao racional sobre anidades
electivas assuntos de interesse mtuo caracterizada pelo dinamismo e efer-
vescncia de novas ideias e modos de pensar dos quais se destacava o debate.
Nascia assim a instncia do pblico, tomado j no como um qualicativo mas
como substantivo que consubstancia uma entidade crtica. Ao debate pblico
era incumbida a mais excelsa capacidade humana: a de transformar a volun-
tas em ratio, a de gerar racionalmente o consenso pela competio pblica
dos argumentos privados como forma de garantir a satisfao dos interesses
de todos e de caucionar a boa consecuo dos assuntos polticos. Nessa es-
fera travavam-se dilogos societais os quais constituam a base de construo
do tecido cultural em que nos seus interstcios relevava um forte componente
comunicacional e de acordo intersubjectivo. A cultura era assim um construc-
tum marcado pela linguisticidade, fruto das subjectividades privadas reunidas
em pblico.
Apesar do seu carcter polimrco, derivado dos diversos contextos so-
ciais em que existiu, podem ser distinguidos um conjunto de critrios formais
de funcionamento comuns a todos os espaos onde o pblico se reunia.
Em primeiro lugar, vericava-se uma paridade argumentativa entre os
membros do pblico em que o estatuto econmico e social era colocado en-
tre parnteses. A nica autoridade que reinava era a do melhor argumento.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
38 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
Outros recursos que no a capacidade discursiva eram desconsiderados
6
. A
hierarquia social era despedida a favor da validade, plausibilidade e fora per-
formativa da argumentao de cada enunciado.
Em segundo lugar, o pblico pressupunha a abertura temtica. Quer isto
dizer que constitua prtica corrente a problematizao iluminada de assun-
tos at a ignorados. A extenso daquilo que formava tpicos de interesse
comum era agora dependente, no de instncias polticas (Estado) ou entida-
des privilegiadas (Igreja) mas de um direito e mesmo uma obrigao que
assiste a um pblico esclarecido no qual a instncia da crtica desempenha
uma funo constituinte. O nofechamento temtico supe, deste modo, um
processo de laicizao. Este critrio releva da expanso da imprensa e da
mercantilizao da cultura cuja distribuio de informaes se dirigia um
mercado acessvel a mentes dispostas a pensar por si mesmas. bvio como
a publicidade crtica se afasta de uma publicidade representativa: enquanto
esta detinha o monoplio interpretativo, a publicidade crtica plural e dia-
lgica onde a verdade dos factos se descobre no conjunto de pontos de vista
apresentados segundo critrios indiscutveis de racionalidade.
Em terceiro lugar, surge o critrio de acessibilidade que decorre da mer-
cantilizao da cultura. Ao tornar acessvel a cultura, o processo de comodi-
cao garante condies participativas porque fornece os instrumentos m-
nimos as formas simblicas a essa participao. Quem acedesse aos li-
vros, jornais, peas de teatro et caetera cava potencialmente capacitado para
exercer a sua razo no crculo do pblico. As novas categorias de leitor e es-
pectador preguram as categorias a partir das quais a incluso no pblico se
torna possvel. A inclusividade do pblico manifesta-se, assim, na sua dispo-
nibilidade a todos que nele queiram participar
7
.
Tendo em conta estes aspectos, a esfera pblica destaca-se por um intenso
6
A impossibilidade de encetar um debate discriminando a identidade do orador dos seus
atributos sociais leva alguns socilogos como a feminista Nancy Fraser, Craig Calhoun ou
Michael Shudson a contestarem o critrio de paridade argumentativa (Calhoun, 1992). Este
entra em contradio com o pressuposto da comunicao: tornar comum envolve mostrar e
oferecer a identidade ao nosso interlocutor. Aspectos como os recursos econmicos, polticos
e simblicos so intrnsecos a qualquer acto enunciativo.
7
Esta abertura, no caso da esfera pblica burguesa, assiste somente ao burgus, homem
adulto detentor de propriedade. Trata-se, portanto, de uma universalidade falaciosa, fruto do
seu carcter ideolgico que ser alvo de crticas contundentes, sobretudo porque no leva em
linha de conta a aristocracia culta e, mais tarde, as classes populares (Farge, 1992: 43-63).
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 39
trabalho comunicacional de visibilidade de problemticas, tpicos, e questes
sociais acerca de uma construo racional subjectiva e intersubjectivamente
operada em torno de uma vontade colectiva, por parte do pblico, em relao
sociedade, e em particular, em relao ao Estado. Na fabricao racional
8
dessa vontade, a publicidade representa um dos seus pilares. A crtica funci-
ona como critrio de validao dos enunciados expostos no pblico conferindo
credibilidade publicidade e exercendo, de acordo com Habermas, um con-
trolo pragmtico da verdade. Por seu lado, o debate estabelece a ponte entre a
publicidade e a crtica colocando em prtica o confronto de opinies e o con-
traditrio que advm da crtica. Deste modo, a esfera pblica, no mbito desta
publicidade crtica, abre-se s expectativas dos indivduos, na medida em que
o pblico enquanto mediador de uma sociedade civil e do Estado constitui-se
como detentor de poder (poltico e comunicacional) que o torna um agente
poltico por excelncia.
Repare-se como estes trs critrios formais de funcionamento do pblico
contm os princpios da esfera pblica enunciados por Kant. Liberdade, igual-
dade e independncia formam o plano a partir do qual, a inclusividade, a pa-
ridade argumentativa e a abertura temtica podem existir. A conformao do
modelo burgus de esfera pblica no ca a dever-se somente a estes princ-
pios e critrios formais de funcionamento da publicidade. Outros dois aspec-
tos devem ser mencionados na estruturao da esfera pblica, a saber, dois
tipos particulares de subjectividade.
Antes de mais, uma subjectividade decorrente da famlia conjugal patriar-
cal, trao exclusivo da burguesia. Quer isto dizer que a privacidade se assume
como condio da publicidade. A compreenso do pblico do uso pblico da
razo foi norteado especicamente por tais experincias privadas conforme
resultava de uma subjectividade orientada para uma audincia (audience- ori-
ented) da esfera ntima (Habermas, 1991: 28). A privacidade j no est
carregada do sentido de necessidade como na Hlade, existindo, antes, en-
quanto posse de propriedade (reproduo material). Mas a privacidade mais
do que isso. Tal como Estado e sociedade se distinguem mutuamente, tambm
a economia e a famlia (a esfera ntima) foram separadas na esfera privada. De
8
A uma fabricao racional da vontade ope-se uma fabricao tcnica e articial da von-
tade de que as modernas Relaes Pblicas so a melhor ilustrao. Com aquela expresso
referimo-nos mobilizao da vontade no seio da publicidade crtica de que a fabricao tc-
nica da vontade constitui a degenerao.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
40 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
facto, uma das transformaes-chave que ocorreram e que abriram portas ao
nascimento da esfera pblica foi a progressiva diferenciao da sociedade, em
particular, a separao da autoridade pblica da esfera da vida domstica que
possibilitou um entendimento renovado sobre a privacidade. A famlia foi
idealizada como a pura esfera de relaes ntimas, de pura interioridade que
providenciava uma base crucial para a crtica imanente da esfera pblica bur-
guesa em si, ao ensinar que havia algo essencial qualidade de humanidade
(humanness) que o estatuto econmico ou outros estatutos no poderiam aba-
lar (Calhoun, 1992a:10). A conscincia de independncia do privado face
sociedade revela-se nos elementos de livre arbtrio, comunho de afecto e
cultivo pessoal (Habermas, op.cit: 47) que marcam o aparecimento de uma
concepo de humanidade. Como indivduo privado o burgus era duas coi-
sas numa s: proprietrio de bens e pessoas, e um ser humano entre outros
seres humanos, bourgeois e homme (Habermas, op.cit: 55). O processo de
colectivizao traduzido na criao do pblico s pde realizar-se de acordo
com o pano de fundo de um novo modo de privatizao: o do self e da sub-
jectividade. A esfera pblica interpe-se entre Estado e indivduos privados
ao pressupor uma esfera e uma subjectividade privadas que se desenvolveram
no seio da burguesia durante o sc. XVIII (Crossley e Roberts, 2004: 3).
somente contraluz de uma experincia de subjectividade individual e priva-
cidade que o pblico adquire pleno sentido.
A privacidade a origem do homem pblico que utiliza a sua razo. A
privacidade funda a publicidade na medida em que a esfera pblica se faz
constituir de pessoas privadas. Ao contrrio da segregao entre pblico e
privado do modelo helnico de esfera pblica, o modelo burgus sem os fazer
coincidir nesse caso, colidiriam e no se efectivavam impele o pblico e
o privado a uma aproximao, j que o privado dene o pilar da esfera p-
blica. A privacidade a condio de formao do pblico. Habermas postula
a relao pblico/privado precisamente na direco indicada por Arendt no
modelo grego. Todavia, enquanto que para os Gregos o percurso da relao
do privado para o pblico, da necessidade para a liberdade do agir, para o
burgus a relao pblico/privado vai do pblico para o privado, isto , o p-
blico alimenta-se da existncia do privado atravs da formao humana que
a famlia conjugal patriarcal lhe oferece. Com efeito, o pblico identica-se
com a reunio das subjectividades. Se para ao Gregos a subjectividade era
conquistada no comum, inter pares, no espao de apario, no sc. XVIII,
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 41
a individualidade que preside subjectividade existe a priori da esfera p-
blica. Esta implica mais do que uma formao, um complemento (ainda que
inestimvel) da subjectividade.
Este projecto de cultivo pessoal produzido no recatamento e na interiori-
dade da famlia inuenciou o nascimento da esfera pblica burguesa de uma
outra maneira a partir de uma outra face da subjectividade: a do mundo das
letras. A suposio de que qualquer leigo tem o direito de apreciar e jul-
gar uma obra literria ou artstica, seja numa exposio, num artigo de jornal,
numa vernissage ou numa pea dramatrgica, leva Habermas a acreditar que
existiu uma esfera pblica literria que antecedeu a esfera pblica poltica e
que inuenciou esta ltima no desenvolvimento da capacidade de ajuizar, cri-
ticar e debater, bem como de reunir um conjunto de pessoas interessadas em
participar dessa comunicao. A discusso literria e a sua apropriao dos
fenmenos culturais prenunciou, assim, a forma de racionalidade da esfera
pblica burguesa. Para sermos mais exactos, a esfera pblica literria, atravs
da sua discusso institucionalizada acabou por se apoderar da autoridade p-
blica do Estado transformando-a numa esfera de crtica ao prprio Estado. O
processo no qual a esfera pblica governada pelo Estado foi apropriada pelo
pblico formado pelas pessoas privadas a fazerem uso pblico da razo, e que
se estabeleceu uma esfera de criticismo da autoridade pblica, caracteriza-se
pela converso funcional do mundo letrado que detinha j institucionalizaes
pblicas e vrios foruns de discusso (Habermas, op.cit: 51).
A importncia da concepo da esfera pblica burguesa pode ser notada
em dois momentos: por um lado, o nascimento na publicidade de uma instn-
cia chamada pblico constituda por pessoas privadas e pelo uso pblico da
razo que impulsionou uma racionalidade crtica. Por outro lado, o pblico
criou uma fora de presso em torno da mudana da sociedade gerando-se
um processo propulsor da regulao e da orientao social. A comunicao,
exercida sobretudo pela imprensa, desempenhou a este nvel uma funo fun-
damental de divulgao de informaes que se armavam na alimentao do
debate, do juzo e da crtica. Os artigos publicados eram parte integrante da
sociabilidade que se construiu volta do pblico, no apenas porque eram li-
dos e formavam o pretexto das discusses que a tinham lugar, mas tambm
porque permitiam ao pblico ler-se e discutir-se a si prprio. A imprensa era
o prolongamento das discusses face-a-face, tal como estas eram a extenso
do dilogo permitido pela circularidade entre imprensa e pblico. O dilogo,
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
42 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
empregue por muitos dos artigos, atestava a sua proximidade palavra fa-
lada. Uma e a mesma discusso era transposta para um mdium diferente e
retomada com o m de reentrar, via leitura, no mdium original de dilogo
(Habermas, op.cit: 42). A imprensa tornava-se, assim, o frum do debate
poltico possibilitando uma reciprocidade de intercmbios discursivos entre o
Estado e a sociedade civil. Os dispositivos tecnolgicos de mediao simb-
lica da poca correspondem no apenas ao processo de formao de opinio
(pblica) atravs da recolha, seleco e divulgao da informao , como
tambm ao processo de expresso dessa opinio atravs da publicao de
artigos, ou de uma missiva dirigida ao jornal. Vive-se um exponente de ideias,
mentalidades, convenes, preferncias, em suma, um ambiente diletante de
sociabilidade crtica.
A localizao da sociabilidade pblica que resultava da reciprocidade dis-
cursiva entre imprensa e pblico variou ao longo do tempo. Contudo, durante
a poca em que se pode falar de publicidade crtica, os Cafs (coffeehouse)
foram o local onde a conversa civilizada, cheia de bonomia e polidez, se pro-
cessava entre uma chvena de caf ou uma bebida. Os Cafs eram os locais de
encontro da sociabilidade londrina e parisiense dos princpios do sc. XVIII e
detinham uma importante funo: eram os verdadeiros centros de informao
nos quais as conversas oresciam e onde o critrio de paridade argumentativa
reinava. De modo a que as informaes fossem o mais completas e variadas
possveis, o estatuto social era temporariamente suspenso. Todos tinham o
direito de sentar-se, dirigir-se e falar entre si, quer se conhecessem, quer no.
O discurso do Caf assim, o extremo exemplo da expresso com um sis-
tema sgnico divorciado e desconado de smbolos de signicado como
os de estatuto, origem, gosto, todos perfeitamente visveis (Sennett, 1974:
82). Esta experincia de sociabilidade discreta deixando margem aspectos
privados e ntimos, tal como a histria de vida do interlocutor. Trata-se de
uma arte de conversao extremamente convencionada e dirigida interac-
o entre estranhos. A partir de 1750, os Cafs londrinos e parisienses entram
em declnio por motivos econmicos (o m da licena Real de importao de
caf) e os Pubs apropriam-se das suas funes de sociabilidade. Ao mesmo
tempo, o teatro com os seus prticos, halls e inmeras divises, comea a
ganhar a preferncia tornando-se um espao, quer de dramaturgia, quer de
dialogismo. As conversas prolongam-se madrugada dentro, pelo que co-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 43
mum haver restaurantes ou Pubs que continuam abertos durante a madrugada
de forma a servir o apetite desta sociabilidade.
Em sntese, a publicidade crtica concretizada no modelo liberal burgus
rma-se na emergncia de uma esfera pblica mediadora da esfera de auto-
ridade pblica (Estado) e da esfera privada (sociedade civil e esfera ntima)
onde o uso pblico da razo do indivduo privado acontece no debate entre
os cidados e o Estado, com o objectivo de regulamentar a sociedade e co-
determinar as decises estatais.
Num perodo em que a publicidade no depende do soberano e que a pri-
vacidade se torna um domnio fundamental do homem, desenvolve-se a ex-
posio da opinio livre do cidado motivada pela ingerncia que o pblico
pretende ter nos assuntos polticos que lhe dizem respeito a si e sociedade
civil em geral. A expresso de uma vontade universal est na origem do
aparecimento, no sc. XVIII, da categoria de opinio pblica e sua ins-
titucionalizao como campo de legitimidade. A opinio pblica recebe a
expectativa que a sociedade civil e o pblico possuem de ajuizar o compor-
tamento do Estado e de fazer-se ouvir, no numa multiplicidade informe de
vozes mas segundo a harmonia unitria da opinio pblica. Esta tornava-se
a unidade plural, uma razo autnoma, a partir da qual o pblico podia fazer
legtimas as pretenses das decises e actividades polticas.
Analisemos agora a emergncia da publicidade contempornea comean-
do pela sua corrupo.
1.1.6 Publicidade Demonstrativa
Na concepo crtica da publicidade, a esfera privada a referncia mxima
a partir da qual se pode usar publicamente a razo. Como vimos, o pblico
sustenta-se na privacidade dos seus membros. Ser este pilar fundamental
da publicidade que se desmonar e que est na origem da passagem de uma
cultura de debate para uma cultura de consumo, com o consequente desin-
vestimento poltico do pblico. Pretendemos agora dissertar sobre o estatuto
moderno da publicidade.
A degenerao estrutural da esfera pblica burguesa, iniciada nos nais do
sc. XIX e consolidada no sc. XX, constitui uma espcie de Verfallgeschi-
chte (de histria de declnio) e est relacionada com o facto de Estado e socie-
dade se aproximarem e sofrerem processos mtuos de interpenetrao atravs
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
44 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
dos quais existe uma apropriao mais do que uma transferncia de com-
petncias num duplo sentido: uma socializao do Estado (com a cedncia
de funes estatais sociedade civil) e uma estaticao da sociedade (atra-
vs do alargamento da interveno e autoridade estatais ao sector privado)
(Habermas, 1991:142). Esta interseco entre Estado e sociedade tem como
corolrio principal a dissoluo da distino entre as esferas pblica e pri-
vada e o consequente esbatimento entre interesses pblicos e privados
9
. O
9
A transformao da preocupao individual com a propriedade privada em preocupao
pblica inaugura a ascenso do Social no modelo arendtiano da publicidade helnica e a
reduo da privacidade intimidade. So claras as similitudes entre o pensamento de Arendt e
de Habermas: para alm de concordarem no contedo lato respectivamente de Esfera Social
e Estado-Providncia, ambos fazem da privacidade fundamento do pblico (em direces
diferentes, certo), vide (Arendt, 2001: 78-80), (Habermas, 1991: 27); os dois destacam
os processos econmicos como determinantes na realizao da publicidade (Habermas, 1991:
72-79); ambos salientam, ainda, a linguagem, o discurso e o debate como formas primeiras de
racionalidade, crtica e consenso, constituindo o instrumento poltico por excelncia.
Contudo, o modelo de publicidade de Arendt marcadamente agonstico envolvendo uma
logomaquia e um confronto de aparncias na agora, espao de reconhecimento, aclamao e
imortalidade. Neste sentido, a temporalidade mnemnica (mnemosyne) o que caracteriza a
aco poltica que busca os seus fundamentos na Tradio e na Autoridade, numa ordem que
precede e sucede aos homens, mortais por natureza (Ferry, 1987: 75-115).
J Habermas desenvolve um modelo discursivo (Benhabib, 1992), procurando uma raciona-
lidade prxima da linguagem e da comunicao em torno de princpios de validade. Existem
diferenas metodolgicas marcantes: enquanto que o trabalho de Habermas sobre o Espao
Pblico debrua-se sobre o uso pblico da razo e reveste-se das formas historiogrcas e
sociolgicas, Arendt procede a uma losoa poltica preocupando-se antes como se constitui
o homem na libertao da Necessidade e equacionando as formas de violncia que a poltica e
a esfera pblica envolvem. A legitimidade poltica no pensamento de Habermas surge relacio-
nada com a determinao de uma verdade da razo pelo confronto de razes. Todavia, para
Arendt a legitimidade mede-se no pela opinio racional mas pela opinio intersubjectiva, no
contraditrio de subjectividades.
A legitimidade poltica supe, de acordo com Habermas, a tica, enquanto que em Arendt
est emcausa a esttica, a publicidade no como encontro de razes mas como encontro de apa-
ries dos homens, de existncia pela aparncia. Enquanto que num caso importam as normas
universais do discurso racional, no outro importam as tradies e os costumes que por serem
comuns e partilhados funcionam como preposies que integram o homem no mundo hu-
mano. Arendt desenvolve a publicidade no quadro de uma experincia Tradicional enquanto
que a problemtica que incita Habermas a reectir motivada por uma viso Moderna da publi-
cidade. por isso que Habermas desconsidera a conceptualizao de Arendt ao ser incapaz de
equacionar as patologias da sociedade contempornea, sobretudo ao nvel da interpenetrao
entre violncia e poder, conceitos que para Arendt so discernveis mas que podem hodierna-
mente ser coincidentes. que a eroso do projecto da modernidade passa exactamente pela
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 45
Estado Social (ou Estado-Providncia) progressivamente assume como suas
as preocupaes e os interesses outrora inerentes esfera privada tal como
a educao, por exemplo. A inltrao dos interesses privados no campo de
aco do Estado provoca uma dependncia incompatvel com a autonomia
que caracterizava o papel de cidado. O interesse geral v-se dividido em
negociaes nas quais os papis institucionalizados diminuem a esfera inter-
ventiva do pblico: O processo do exerccio poltico relevante e calibrao
do poder ocorre agora directamente entre as burocracias privadas, associa-
es de interesses, partidos e administrao pblica. Como tal, o pblico
includo apenas esporadicamente neste circuito de poder e mesmo assim, so-
mente para contribuir para a sua aclamao (Habermas, op.cit: 176). Ainda
que mantenha a aparncia de uma disputa pblica, a argumentao e o debate
encontram-se subordinados lgica competitiva entre, sobretudo, os partidos
e o poder. O centramento partidrio decorrente da ocluso dos pblicos tem
como efeito a manipulao estratgica dos cidados, bem como a encenao
de uma argumentatividade que desloca os assuntos de uma dimenso poltica
para uma dimenso pseudo-poltica e que afasta e repele os cidados do seu
sentido crtico.
Neste contexto, a poltica no mais do que uma forma viciosa ou con-
tenda adulterada que exclui o homem comum e se processa em arenas ins-
titucionalizadas. A esfera pblica, desvirtuada da sua funo poltica Ilumi-
nada, congura-se como mero instrumento de legitimidade e propaganda do
poder institudo, j que a sua funo mediadora agora desempenhada pelo
Estado e por instituies oriundas da esfera privada. O conjunto da popula-
o s esporadicamente acede ao circuito de formao e expresso poltica,
o que signica que a democracia material- o processo poltico em que os
cidados participam na formao da vontade poltica substitudo por uma
democracia formal, na qual os cidados participam eleitoralmente mas no
na discusso das decises polticas (Habermas apud Silva, 2002: 39).
A famlia patriarcal burguesa perde destaque assumindo um carcter pro-
gressivamente restrito e recatado; o trabalho assume-se cada vez mais p-
blico, o que constitui uma total inverso do modelo de publicidade ateniense.
A esfera privada v-se reduzida famlia e a partir desta restrio que a
runa do senso-comum e por um isolamento, esquecimento e dobragem individualista que
so impossveis de serem equacionados segundo a antropologia losca e a losa poltica
de Arendt.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
46 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
intimidade emergir, no sc. XX, como princpio organizador das subjecti-
vidades. A esfera pblica metamorfoseia-se numa plida aparncia do que
fora no Sc. XVIII, na qual submerge a actividade discursiva crtica em prol
de uma cultura de consumo que surge a par com uma sociabilidade apoltica
e descomprometida. O raciocnio crtico substitudo pelo consumo passivo
e acrtico medida que a lgica de funcionamento do mercado econmico
que regia a esfera privada do trabalho, passa a dominar a esfera pblica. Os
tempos-livres deixam de se realizar em momentos de reexo intelectual e
ponderao dos assuntos pblicos, para serem complementos do horrio la-
boral, extenses privadas do trabalho, agora um tpico pblico sujeito a regu-
lamentaes estatais. O consumo surge, assim, como uma segunda natureza
do processo de produo, complemento indispensvel ao crescimento econ-
mico. Essas actividades de consumo processam-se, at, em regimes pblicos
de sociabilidade provocando progressivamente o esbatimento entre pblico-
crtico, pblico-audincia e o conjunto de potenciais consumidores. Assim,
as actividades sociais comeam a ser determinadas, no por assuntos pbli-
cos mas por assuntos privados tornados pblicos, dada a contaminao entre
economia e poltica.
Em concomitncia, regista-se uma abstinncia do debate literrio e polti-
co que se v desprovido da intensidade logocrtica e relegado para esferas
informais de sociabilidade. Apenas marginalmente ou em paralelo ocorre o
debate poltico, agora supercial e circunstancial devido sua deslocalizao.
A esfera pblica torna-se suporte de advertising, tcnica promocional de in-
culcao de bens e servios atravs da gesto da percepo de um produto
por parte dos receptores comportando transversalmente as formas propagan-
dsticas e as tcnicas de marketing. Com efeito, o espao pblico, em grande
parte devido emergncia da categoria da intimidade, redimensiona-se e no
deixa muitos locais onde os cidados se possam reunir, conversar, estar. Os
espaos pblicos tornam-se meros pontos de transio, meios de circulao e
passagem de uxos transportacionais. Ao no providenciar locais de reunio,
o espao pblico, sobretudo na organizao urbana da vida social, impede a
reunio e o concerto das mentes, porque mais no serve que as necessidades
da economia, com o constante movimento de mercadorias, pessoas e, mesmo,
ideias. Estas surgem to espontaneamente desenraizadas do debate poltico
que no passam de meros voos do pensamento, divagaes que s se concre-
tizam em solilquio. A esfera pblica despolitiza-se, de certa forma como
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 47
desiderato de uma secularizao que na modernidade fez do homem senhor
de si mesmo e exacerbou a sua interioridade, renegando o indivduo a sua
dimenso comunitria e positivamente poltica.
A cultura torna-se um bem de consumo, uma mercadoria transaccion-
vel que s adquire valor preponderante na sua dimenso econmica. As artes
dramticas, musicais e literrias no nascem comutativamente das intersub-
jectividades mas fruto de processos unilaterais de produo (industrial) no
seio dos quais se forma um fosso inultrapassvel entre quem cria e quem se
apropria dessa criao, ou seja, entre produtores e consumidores. A prpria
organizao da discusso deixa de ocorrer pblica e informalmente para se
tornar altamente burocratizada e institucionalizada, muitas vezes atravs de
estruturas privadas, como os dispositivos tecnolgicos de mediao simb-
lica, os quais, por sua nica e exclusiva iniciativa, do incio a debates que,
desta maneira, substituem a crtica pela manipulao e administrao dessa
participao. J no so os cidados a convocar discusses, so entidades
institucionais a solicitar sobretudo a ateno dos dispositivos de mediatiza-
o. A poltica j no emancipatria, esfera da liberdade, mas esfera de
uma pseudo-liberdade medida que ela se converte em mercadoria. A esfera
pblica caracteriza-se, por isso, pela sua dimenso aclamativa e plebiscit-
ria, onde as tomadas de posio se fazem em moldes maniquestas. O que
interessa consentir, no tanto intervir. Perante uma lgica de integrao
regista-se o esbatimento entre Economia e Poltica. O carcter plebiscitrio
da esfera pblica est patente na forma como os dispositivos tecnolgicos de
mediao simblica, encarregando-se da funo de serem agentes mediati-
zadores e interventivos da comunicao poltica, acabam por se aproveitar
do campo semntico poltico para fazerem de programas de entretenimento
objecto de votaes e decises por parte de um pseudo-pblico. Actual-
mente habitual vermos na esfera pblica, que os dispositivos tecnolgicos
de mediao simblica mediatizam, interpelaes ao suposto cidado no sen-
tido de votarem, decidirem e avaliarem certos desempenhos individuais. Ao
mesmo tempo, a perfomatividade da poltica avaliada em termos estticos
(gosto/no gosto) e no em termos ticos. A discusso crtica d lugar a trocas
discursivas acerca de preferncias e o gosto torna-se um operador poltico.
Deste modo, a esfera pblica despolitiza-se ao ser integrada no ciclo de
produo e consumo. O debate crtico apenas na aparncia crtico preen-
chendo, antes, funes socio-psicolgicas tranquilizantes porque um comu-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
48 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
tador para a aco comum. Com efeito, a cultura de consumo que sucede de
debate crtico-racional ir ao mesmo tempo permitir a facilitao econmica
dos bens culturais e a facilitao psicolgica, que rejeitam por completo as
competncias ajuzadores e crticas. Inuenciado pela Teoria Crtica de Ador-
no e Horkheimer, Habermas arma: na medida em que a cultura se tornou
uma mercadoria, no apenas na forma como no contedo, foi esvaziada dos e-
lementos cuja apreciao requeria uma certa competncia (Habermas, 1991:
166). O mundo da cultura, aquele mundo supostamente comungado e partici-
pado por todos, torna-se um mundo articial de fabricao pronto a consu-
mir (fast consumption) que forja um tipo de experincia no emancipatria
mas regressiva. O facto da indstria da cultura dissimular-se na satisfao dos
desejos e interesses do indivduo cria uma iluso regressiva tratando o homem
como uma criana, um ser menor que carece da tutela da cultura de massa
(Adorno, 2004:161). H uma fuso entre o adulto e o infante em que no pri-
meiro ocorre uma retrogradao incapaz de enfrentar as tenses, e no segundo
uma sobre-estimulao de tribulaes. Na verdade, a indstria da cultura s
permite uma satisfao gorada e falaz; a novidade apenas a reformulao
padronizada do modelo conhecido. Ao prometer constantemente ao ouvinte
algo de renado, ao espicaar-lhe a curiosidade, tem de se elevar acima da
monotonia, mas, por outro lado, no pode precisamente sair do caminho tra-
ado; tem de ser sempre nova e sempre a mesma. Assim, os desvios so to
estandardizados como os standards e recuam exactamente no momento em
que avanam: (. . . ) toda a indstria da cultura, satisfaz desejos apenas para
imediatamente os frustar (Adorno, 2003a: 151).
Pela interveno da mediatizao em conjugao com uma lgica acr-
tica de consumo de bens materiais (produtos) e imateriais (ideias) impe-se
a evidncia de que o mundo talhado pelos mass-media s em aparncia
uma esfera pblica (Habemas, op.cit: 171). A publicidade que emerge desta
transformao estrutural j no se rma, pois, na sua racionalidade crtica de
deliberao mas em dimenses simblicas outras que salientam a passividade,
o consumo e a aclamao. A publicidade retorna sua componente represen-
tativa, e fala-se, deste modo, numa refeudalizao da esfera pblica: a pu-
blicidade signicava antigamente a exposio da dominao poltica perante
o uso pblico da razo; (. . . ) Na medida em que moldada pelas Relaes
Pblicas, a esfera pblica da sociedade civil readquire contornos feudais. Os
fornecedores mostram um mundo esplendoroso defronte de espectadores
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 49
subservientes. A publicidade imita o tipo de aura prpria ao prestgio pessoal
e autoridade sobrenatural outrora conferida pelo tipo de publicidade envol-
vida na representao (Habermas, op.cit: 195).
A refeudalizao da esfera pblica (e da sociedade civil) refere, ento,
essa comercializao de que a sociedade civil se viu objecto, a burocratizao
da poltica e o crescimento da manipulao propagandstica das empresas que
detm os dispositivos tecnolgicos de mediao simblica. Ao contrrio da
noo de consentimento de Locke, o consentimento no esclarecido, antes
fabricado pela indstria de administrao da imagem e da reputao pbli-
cas de entidades privadas. Este fabrico do consentimento sobre o qual os
dispositivos tecnolgicos de mediao simblica operam est na origem do
aparecimento de uma nova actividade que resulta de um entendimento dife-
rente da publicidade. Esta a esfera de apresentao de si que, ao contrrio da
publicidade epifnica, no faz coincidir o ser com o aparecer. Dito de outro
modo, no contexto de um refeudalizao da esfera pblica, necessrio en-
cenar uma reputao e um carcter sobre o qual a vida pblica se funda mas
que nem por isso corresponde subjectividade da vida privada. A reduo do
privado intimidade tece, assim, como consequncia a distino entre aquilo
que o indivduo e aquilo que o indivduo mostra ser. As Relaes Pblicas
trabalham a adeso, o assentimento e o consentimento por mecanismos retri-
cos alargados que no se restringem ao discurso, procurando criar uma aura de
boa vontade que permita a aclamao do que se d a conhecer publicamente.
Naturalmente, a publicidade representativa que se desenvolveu ao longo
do sc XIX difere da feudal, precisamente no facto de, ao contrrio da Idade
Mdia, existir uma clara demarcao entre privado e pblico. este mesmo
facto que est na origem das Relaes Pblicas, como actividade privada de
tornar pblico. Mas distingue-se tambm porque este tipo recente de pu-
blicidade representativa um efeito da extenso democrtica do pblico e da
emergncia de uma sociabilidade de massa, a qual ameaa o funcionamento
poltico da publicidade crtica. A representatividade aqui em causa substitui o
princpio jurdico pelo princpio meditico. Representar, neste caso, repetir o
apresentar, reinterpretar uma apresentao. A aura da autoridade represen-
tada pessoalmente regressa como um aspecto da publicidade; nesta medida
a moderna publicidade tem efectivamente uma anidade com a publicidade
feudal. As relaes pblicas no dizem respeito genuinamente opinio p-
blica mas opinio no sentido de reputao. A esfera pblica torna-se a corte
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
50 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
perante a qual o prestgio pblico pode ser exposto mais do que a corte em
que o debate pblico crtico pode ser levado a cabo (Habermas, op.cit: 201).
refeudalizao corresponde, assim, um retorno apresentao, e-
xibio e ao alardeamento caractersticos de uma publicidade representativa,
na qual a publicidade se prende no tanto com o fortalecimento da crtica mas
com o prestgio institucional e pessoal. As organizaes mostram-se segundo
o princpio da representao e de acordo com este que podem adquirir um
maior capital simblico que lhes permita exercer inuncia social. bvia
a relao contempornea que, deste modo, se estabelece com os dispositivos
tecnolgicos de mediao simblica, pois estes ao controlarem a esfera do
aparecer publico, isto , da comunicao pblica, colocam s organizaes e
aos cidados o imperativo de atrair as atenes dos dispositivos de mediatiza-
o. Ora estes regulam o seu funcionamento por lgicas incompatveis com o
funcionamento poltico e institucional diverso, entretenimento, novidade,
ruptura pelo que necessrio que cidados e organizaes se insiram nas
prerrogativas desse mundo-media, o que quer dizer nada mais, nada menos
do que isso: adaptar-se lgica meditica nda por signicar, para a poltica,
transformar-se, de algum modo, em mimesis, representao, encenao. A
poltica mass-meditica, como quer que a observemos, fundamentalmente
mise en scne (Gomes, 1995: 315). Assim, o primado do espectculo e da
dramaturgia que reina em detrimento da argumentao e da expresso das sub-
jectividades. A esfera pblica atinge o maior grau de despolitizao e mesmo
de desnormativizao.
Hoje em dia, a identicao tem de ser criada e dramatizada porque a
esfera pblica assume-se como uma instncia que no existe simplesmente,
slida e intemporal. Pelo contrrio, ela actualiza-se quando se representa a pu-
blicidade na publicidade (advertising). O pblico transmuta-se, deste modo,
em audincia. Deixa de ser a reunio de pessoas privadas a usar publicamente
a sua razo mas antes a massa de indivduos ablicos, passivos e acrticos
que so espectadores observantes de assuntos onde apenas esperada a sua
aclamao. Os argumentos eclipsam-se em smbolos aos quais no se pode
replicar mas apenas aceitar e identicar com eles. A audincia recebe, ainda,
o nome de pblico devido legitimidade a ele associada, porm, o pblico
efectivamente uma audincia e isto a trs nveis: audincia da comunicao
(alegadamente) pblica dos dispositivos tecnolgicos de mediao simblica,
audincia de uma publicidade representativa desenrolada nesses mesmos dis-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 51
positivos, e audincia sob a forma de consumo da produo industrial. O p-
blico hoje um recurso simblico alargado que serve os ns de legitimidade
poltica e dos interesses econmicos. A audincia dissimula-se em pblico.
O que, em especial, a publicidade representativa advinda da refeudaliza-
o da esfera pblica congura, uma publicidade demonstrativa que serve a
manipulao da instncia do pblico, assim como a legitimao dessa domi-
nao pelo pblico. A publicidade demonstrativa consubstancia o contexto
comunicativo de um pblico racional de pessoas privadas [que] rompido; a
opinio pblica que outrora emergia dele em parte decomposta em opinies
no-formais de pessoas privadas destitudas de pblico que parcialmente se
concentram em opinies formais das instituies publicitariamente ecazes
(Habermas, op.cit: 247). Numa publicidade demonstrativa o que est em
causa a corroso da normatividade liberal da esfera pblica burguesa. A
publicidade crtica, ancorada numa sociedade civil autnoma e agente de opi-
nio pblica tica-moral, encontra-se minada pela impossibilidade de acordo
racional numa sociedade estandardizada, de sociabilidade de massa, domi-
nada por dimenses simblicas mais atinentes s prticas de consumo passivo
do que troca de argumentos e de construo crtico-racional das subjectivi-
dades. A publicidade demonstrativa simultaneamente a origem e o resultado
da despolitizao da esfera pblica numa completa imbricao que no per-
mite distinguir ambos os fenmenos.
O indivduo que consome assuntos polticos, ideias, produtos et caetera
aquele que retrocedeu menoridade, tutela e que preferiu esta capacidade
de tutelar-se a si prprio. O indivduo do Iluminismo parece ser, pois, uma
iluso. A destruio da Razo Iluminada (Adorno e Horkheimer, 1983) torna
o progresso das Luzes um retrocesso; isso que est em causa no apenas no
que concerne publicidade existente como situao contempornea do ho-
mem. A Aufklrung prometia libertar o homem dos constrangimentos sociais
e torn-los soberanos, de destruir os mitos e substitui-los pelo conhecimento.
No entanto, quando se extingue que a luz mais brilha.
A luz no s ilumina e esclarece como obscurece, confunde, encandeia.
Seja por mngua, seja por demasia, sem moderao a luminosidade tolhe o
entendimento. O excesso de luz acarreta a sombra, a ambiguidade e a equi-
vocidade, tornando-se um dispositivo de invisualidade e ceguidade. Signica
isto que o projecto losco, poltico e epistemolgico da Aufklrung integra
em si as condies da sua prpria falncia e revela o modo como a razo
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
52 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
tem nsita a desrazo e a irracionalidade. O projecto moderno traz consigo
mesmo a patologia da razo. Ele voou mais alto na Ilustrao como prenncio
do seu desmoronamento. Quanto mais altas as expectativas maiores so as
desiluses. A modernidade est contaminada, encontra-se a meio caminho
entre um passado e um futuro: entre um passado que nos legou um testamento
ambguo e um futuro obscuro. Solicitam-se duas rectas que no se cruzem e
que permaneam sem princpio nem m. O pensamento necessita, assim, de
uma linha diagonal cuja origem seja conhecida, cuja direco concilie passado
e futuro e cujo m coincida com o innito (Arendt, 1993: 3-125).
A publicidade perdeu funes polticas e foi investida de processos de
consumo, comutando a crtica pela negligncia dos assuntos pblicos. A eco-
nomia e as relaes de produo/consumo outrora pertencentes esfera das
necessidades, emergem nos nais do Sc. XIX como o reino da liberdade
individual. A categoria de cidado secundariza-se em prol da categoria de
consumidor. O homem torna-se para ele mesmo e para os outros um animal
consumans. Com efeito, o consumidor est mais prximo da compulsividade
zoolgica que caracteriza o combate pela sobrevivncia do que do lado de
uma humanidade logocrtica. Consumir ou ser consumido, eis a tenso ir-
remedivel da publicidade demonstrativa. Essa dimenso da sua existncia
propaga-se a todas as restantes. Sinal disso mesmo a institucionalizao de
associaes de consumidores que ganham cada vez maior poder reivindica-
tivo, o que sublinha o elevado grau de legitimidade social alcanado.
Numa esfera pblica espartilhada, como a da modernidade tardia, e no
contexto de uma publicidade demonstrativa, a esfera pblica viu estenderem-
se as suas funes para l da dimenso poltica. A complexidade do funciona-
mento das sociedades da modernidade tardia conduziu a que a esfera pblica
alargasse as suas competncias. dessa refuncionalizao e do efeito que a
publicidade demonstrativa alcanou nela que tratamos nesta dissertao. O
pblico desapareceu no horizonte. O que resta?
Procuremos restaurar uma ideia de esfera pblica contempornea. A
transmutao do pblico em audincia ou a publicidade demonstrativa, a des-
peito de cruciais, no so processos denitivos. Eles so modulaes hist-
ricas, fases da mutao espacio-temporal da publicidade. Tal como sublinh-
mos no incio deste captulo, a publicidade uma espcie de teia de Penlope
que se constri na medida em que se vai desconstruindo. A tessitura operada
em ligrana, o desfazer um fazer. Tal como somos capazes de identicar um
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 53
mesmo rio que constitudo pela passagem ininterrupta de novos cursos de
gua, tambm na actualidade possvel reconhecer os traos gerais de esfera
pblica activa e societalmente preponderante, no obstante a sua invarivel
mudana nsita.
Aprofundemos a atribuio de novas competncias publicidade inician-
do uma anlise da esfera pblica contempornea cujos atributos se inserem na
linha de continuidade histrica que tendeu, como constatmos, a privilegiar
em graus diversos certo as categorias da representao, da visibilidade, da
encenao e da apresentao.
1.2 Prolegmenos de uma Publicidade como Esttica
da Figurao
O processo de fagocitose que a mediatizao da comunicao provocou nos
domnios do pblico e do privado coloca-nos perante uma inevitvel conclu-
so: os conceitos de publicidade (e de privacidade) sofreram uma intensa
mutao que urge por uma denio explcita da sua forma contempornea.
Nesse processo de esclarecimento devem car lmpidas as novas funes que
as categorias do pblico e do privado operam numa sociedade estandardizada
e intimista que viu a publicidade crtica despolitizar-se e desnormativizar-se
sendo substituda por uma publicidade demonstrativa onde processos econ-
micos de venda e aquisio de produtos tomam o lugar de destaque outrora
pertencentes discusso e ao debate. Tal diagnstico est, porm, longe de
signicar que a publicidade e a privacidade sejam categorias sociais exauridas
que atingiram um ponto de no-retorno e cuja situao presente o culmi-
nar derradeiro da sua utilidade como instrumentos conceptuais de equacio-
namento dos processos de organizao, funcionamento e difuso da estrutura
social. A relevncia destes conceitos requer que faamos um exerccio de re-
conhecimento das suas virtualidades que no apenas induza ou deduza como
tambm se exera no mbito de operaes abdutivas de mimetizao e ino-
vao, aquelas que podem atrever-se a explorar mais alm da orla da signi-
cncia comum dos termos de publicidade e privacidade.
A publicidade contempornea esotericamente intersectada. Ela contm
um princpio normativo, e mantm o ideal de racionalidade permanecendo
como esfera de legitimidade democrtica. A sua funo passa por ser um
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
54 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
meio de esclarecimento que permite o cidado adquirir competncias polti-
cas, o que faz dele e da sociedade civil agentes de deliberao crtica acerca
do projecto poltico da sociedade. Convenhamos que a sua funo principal,
manifesta e explcita.
A esfera pblica contm, ainda, um outro princpio de funcionamento,
uma funo latente, menos reconhecida ou identicada pelos actores sociais.
A publicidade opera de acordo com um modelo de controlo social que visa
promover a integrao social e garantir um nvel suciente de consenso do
qual o pensamento, os valores e as aces possam partir. Esta funo da
publicidade no impede a criatividade ou o dinamismo da estrutura social.
Ela no uma obstruo intersubjectividade nem emancipao do indi-
vduo. Todavia, condiciona-o na sua subjectividade e liberdade, disciplina-o,
aplica-lhe coaces e penalidades. A publicidade, que na sua dimenso de
visibilidade actua como agente de controlo social, afecta, sem excepes, to-
dos os membros da sociedade, reunindo e criando laos relacionais slidos
que afastam o receio de isolamento e rejeio. O igual, o normal, a mediania
so privilegiados face ao diferente, ao arrojado, superioridade. A publici-
dade contempornea reecte, mais do que nunca, essa tendncia. Na verdade,
em sociedades que perderam as relaes de solidariedade outrora ocupadas
pela famlia ou pela classe prossional, a publicidade desempenha essa fun-
o maior, essa qualidade magna de servir como cimento agregador. Ela opera
um papel prolctico contra a anomia. Na verdade, ele congura um nomos,
uma lei ou ordemgeral capaz de nortear os indivduos que a reconhecemcomo
o seu farol, a sua luz que indica a conduta adequada. O factor decisivo que
se joga no o contraditrio de opinies mas a controvrsia entre dois cam-
pos antagnicos que ameaam com o ostracismo. Numa frase, a publicidade
hodierna existe nas malhas da coeso e do consenso axiolgico da sociedade.
Ambas as funes da publicidade partilham o mesmo territrio e degla-
diam-se, cada uma procurando a sua prpria funcionalizao. Na sociedade
estandardizada a ambivalncia enorme. Dois regimes de funcionamento,
baseados na funo manifesta e latente da publicidade, confrontam-se ambi-
guamente, ambos concorrendo para a sua predominncia. Asociedade , deste
modo, atravessada por correntes dspares, hostis entre si. O entendimento dos
assuntos que perpassam na publicidade e na privacidade mediatizadas con-
temporneas sofre dessa dialctica, dessa sntese que resulta de uma tese e
de uma anti-tese, de um processo uido de aprovao ou de rejeio. A pu-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 55
blicidade como visibilidade deve ser analisada na esteira de uma dinmica
psico-sociolgica. Este um dos prismas a partir do qual a cultura contempo-
rnea, encabeada pela indstria da cultura prpria das sociedades ocidentais,
pode ser compreendida. Tal a nossa convico.
No segundo captulo da parte I, ensaiamos traar um esquio de um tipo
de publicidade que integra a dimenso da visibilidade na sua mais alta con-
siderao e que surge como rplica face ao questionamento da publicidade
demonstrativa. Experimentamos, agora, o tirocnio de balizar os limites que
o conceito de publicidade pode aspirar ao mesmo tempo que resgatamos uma
dimenso fundamental da publicidade helnica, a saber, a esttica da gura-
o. Naturalmente no se trata da mesma natureza guracional porquanto na
Hlade a apario era indissocivel da poltica. Hodiernamente a apario
assume feies diferentes e possui, sugerimos, uma tarefa ftica de preservar
um certo tipo de solidariedade social que faz emergir o indivduo do carc-
ter privativo da privacidade. Identicar na publicidade contempornea uma
preocupao esttico-guracional de pendor marcadamente representacional
ou dramatrgico um desao incerto mas aliciante que se conjuga com uma
paulatina mas rme tendncia alter-direccionalidade da sociedade. nossa
premissa de partida que medida que as sociedades se privatizam e fazem
da intimidade o seu baluarte, apresentam paradoxalmente uma orientao
e o imperativo de se exteriorizarem, de se dobrarem, no sobre si mesmas
mas de se desdobrarem na direco da alteridade como forma de manter o elo
social e de assegurar a manuteno da conectividade das relaes de sociabi-
lidade. Neste tipo funcional de fazer proveito da publicidade, a expressivi-
dade o valor basilar porque estabelece a ligao entre a personalidade e a
intimidade individual, por um lado, e, por outro lado, porque a parte entre
a intimidade e a publicidade que d a ver os valores dramticos protectores
de uma suposta interioridade e fomentadores das relaes pblicas (mins-
culas). Por conseguinte, estas no so j de cariz poltico-normativo mas de
valor dramtico-expressivo. Com certeza que a esfera pblica no abdica da
sua funo poltica e legitimadora da democracia. Esta faceta efectivamente
importante e desempenha ainda um papel estruturante. No obstante, a pu-
blicidade exercida de modo diverso e com ns simblicos dspares onde a
sua dimenso guracional comum a todos. Identicamos, assim, a esttica
da gurao como um atributo basilar da publicidade existente na sociedade
contempornea.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
56 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
Prope-se uma publicidade que se realiza sobretudo na representao do
indivduo, numa esttica de gurao em que cada indivduo constri uma
idealizao da sua personalidade manipulando indcios simblicos concordan-
tes com a imagem pblica por que pretende ser julgado pelos seus pares. A
nossa abordagem lia-se, pois, na sociologia interpretativa, numa fenomeno-
logia social destilada pelo Interacionismo Simblico e mesmo por um certo
Construtivismo Social em que o que mais importa nas relaes sociais inter-
subjectivas um acordo na denio do quadro de sentido, moldura pela qual
todos os participantes (intervenientes ou espectadores) se regem, maestro que
conduz e faz tocar os instrumentos segundo uma partitura invisvel mas nem
por isso menos efectiva ou determinante.
Para compreendermos o que se pretende signicar por publicidade gu-
rativa devemos ter presente outras duas dimenses que sero os pilares desta
nossa exposio e que moldam o tipo contemporneo de publicidade gura-
tiva, a saber, a componente disciplinar da visibilidade e a inuncia social, em
especial, o conformismo e a emulao social.
1.2.1 A Componente Disciplinar da Publicidade
A esfera pblica como lugar de reconhecimento e de raticao das identida-
des sociais s inteligvel como lugar de visibilidade das angstias e valores
dessas identidades que procuram a a sua legtima existncia na sociedade.
Atravs da comunicao mediatizada e da proliferao das tecnologias de co-
municao, a visibilidade e a visualidade tornam-se fundamentais e adquirem
novos contornos: elas volvem-se no instrumento principal de um sistema de
poder que encontra nelas o principal meio de controlo e de vigilncia social.
A visibilidade exerce sobre os indivduos uma coao permanente e extensa,
apoderando-se da materialidade do corpo para corrigir, manipular, modelar e
tornar subserviente o sujeito incapaz de afastar o olhar, a avaliao, o julga-
mento, a apreciao do outro sobre si mesmo. A visibilidade um tipo de
disciplina que faz do indivduo um corpo dcil passvel de se submeter, de
se transformar, de se trabalhar e aperfeioar com vista a dirigi-lo com mais
eccia e economia para ns determinados. A materialidade do corpo uma
capacidade e uma aptido que a explorao econmica logrou aproveitar ao
mesmo tempo que separa o indivduo das suas potencialidades. As discipli-
nas so esses mtodos que permitem o controle minucioso das operaes do
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 57
corpo, que realizam a sujeio constante de suas foras e lhes impem uma
relao de docilidade-utilidade (Foucault, 2005: 118). Elas tornam-se, no de-
correr dos sc. XVII e XVIII, as formas hegemnicas de dominao diferindo
claramente das outras violncia, autoridade, ou coaco, por exemplo. As
disciplinas diferenciam-se da escravido porque no se fundam numa relao
de apropriao dos corpos. Distinguem-se, igualmente, da domesticidade por-
que no so formas de dominao constantes, macias e ilimitadas conforme
o desejo de algum. As disciplinas so, tambm, diferentes da vassalidade,
dessa relao de submisso codicada sobre o trabalho e a obedincia.
As disciplinas criam uma renovada anatomia poltica j no assente em
relaes de soberania mas estabelecida em regimes de ordens impostas que
inauguram uma nova micro-fsica do poder, extenso capilar e tentacular
do poder, movimento miudinho da subordinao que se estende a todos os
domnios da vida. O indivduo recebe da disciplina inigida pela visibilidade
um olhar esmiuante e minucioso, pormenorizado e discriminativo que deta-
lha cada gesto, cada atitude, cada comportamento. F-lo elegendo um espao
de observao separado e especco devidamente decomposto das aglomera-
es, atentamente seleccionando o singular e dividindo o plural, seccionando
metodicamente o indivduo. Cria-se um espao analtico que se ocupa das
presenas e das ausncias, da identicao e do desvio, da medio das quali-
dades e dos mritos. Importa isolar o indivduo, localiz-lo e torn-lo objecto
de apreciao, inscrev-lo num registo, anot-lo para que no escape ao olhar
inquisidor da visibilidade. Depurando a colectividade do indivduo, a sua cir-
culao torna-se clara, perde o carcter difuso, torna-se mais susceptvel ao
comando, ao adestramento, ao modo verbal imperativo. Porventura a socie-
dade estandardizada recebeu o legado das disciplinas e fez da massa a soci-
abilidade dominante, pois tal como as disciplinas, a sociedade de massa se-
grega o indivduo para o melhor organizar e convocar. No cerne da dimenso
disciplinar da visibilidade em sentido estrito, e da sociedade em sentido lato,
encontra-se a gesto da actividade que se realiza no apenas atravs do horrio
e da diviso aturada do tempo, como tambm pela composio e decomposi-
o dos gestos, coordenando-os e arranjando-os em concordncia numa esp-
cie de codicao instrumental do corpo. O poder disciplinar , com efeito,
um poder de domesticao e de adestramento. No se apropria, antes ames-
tra habilmente para se apropriar mais e melhor, num exerccio aparentemente
incuo mas insidioso. Por isso, ele fabrica indivduos, confere-lhes modos
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
58 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
de estar, de pensar, de agir; a disciplina a tcnica de um poder que julga
os indivduos como objecto e como instrumento da sua actividade. Prefere a
sombra ostentao, a subtileza ao excesso, a descrio magnicncia.
um poder modesto mas ecaz.
O poder disciplinar desenvolve-se no seio de trs dispositivos: a vigiln-
cia do olhar, a sano normalizadora, e a combinao destes dois, o exame
(Foucault, 2005: 143-161).
O dispositivo da vigilncia hierrquica o que mais presente est na vi-
sibilidade. A disciplina necessita de um aparelho onde as tcnicas de visi-
bilidade induzam efeitos de poder e funcionem como meios de dissuaso ou
persuaso daqueles que assistem. No Renascimento surgiram numerosas tec-
nologias pticas: culos, lentes, telescpicos, monculos, lupas, espelhos,
vidros, todas atestando a variabilidade de meios que a sociedade dispe para
se fazer observatrio geral, espao de contnua anlise e reparo. A par-
tir do sc. XVIII, a arquitectura no mais construda com o propsito de
ser vista (palcios) ou de vigiar o espao (fortaleza), mas com a inteno de
permitir um controlo interior detalhado, tornando visveis os seus habitantes.
Por exemplo, actualmente os sanitrios pblicos apresentam meiasportas que
deixam ver quem frequenta aquele espao. S no seu interior existem divises
entre sanitas de modo a quem l se encontra possa ser visto mas no se veja
entre si. O aparelho disciplinar consegue ver tudo de um nico vis, ponto
central de luz que ilumina a escurido do invisvel e nada deixa por revelar. A
difuso do olhar pelo tecido social torna-se um operador no apenas de treino
e manobramento, como tambm um operador econmico, pea decisiva da
produo que faz dos corpos extenses mecnicas das mquinas que agem
segundo o receio de serem sancionados.
A disciplina desenvolve uma infra-penalidade, reprimindo e qualican-
do um conjunto de comportamentos cujo objectivo tornar o indivduo cap-
tvel pela vigilncia e fazer dele um modelo de observncia e adequao
regra. Tudo o que dela se afasta (ou seja, os desvios) transpe o campo do
conforme, surgindo em falta quando revela inaptido e incapacidade de atingir
o nvel requerido (tido por normal). O indivduo que no se submeta or-
dem imposta penalizado sendo estigmatizado pela sua conduta imprpria.
O castigo possui essa funo correctiva de anulao do desvio. A punio ,
assim, um elemento constituinte do par graticao/sano. esta dicotomia
(a que, como veremos, est em jogo no conformismo e na publicidade gura-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 59
tiva) que a disciplina, pela vigilncia e pela sano, faz prevalecer. A punio
no visa a expiao nem a represso mas a diferenciao, a segregao nega-
tiva, a discriminao. A medio do normal feita pela mediania. traada a
fronteira entre os que pertencem e os excludos, entre os no-castigados e os
emendados. A punio hierarquiza, compara, homogeneza, exclui. Numa s
palavra, ela normaliza. O poder da norma instaura o normal como bitola do
indivduo, da o seu atributo nivelador.
Na sntese da vigilncia e da sano aparece o exame, esse controlo nor-
malizante, vigilncia que permite classicar e punir. O exame inverte a eco-
nomia da visibilidade: o poder disciplinar exerce-se pela invisibilidade. Ao
contrrio da anatomia poltica antiga, onde o poder se dava a ver (publicidade
representativa), so os sbditos que so vistos (publicidade gurativa); a sua
visibilidade assegura a relao de dominao que sobre eles incorre. por-
que a possibilidade de poder ser visto a qualquer hora e em qualquer altura
existe, que a visibilidade age coercivamente sobre o indivduo captando-o,
objectivando-o e impondo-lhe modos de ser e de estar.
A visibilidade no s um instrumento central das disciplinas como tam-
bm constitui uma componente incontornvel da publicidade hodierna. Ela
torna-se um elemento ordenador da publicidade e esta transforma-se numa
esfera pautada pela observao, pela vigilncia e pelo controlo social. A vi-
sibilidade que a publicidade incorpora transporta essa semente disciplinar que
cobre homogeneamente toda a vida social, levando o olhar de vigilncia a to-
dos os indivduos; trata-se de um pan optos, uma observao que tudo regista
e anota, e onde cada um deve preencher o lugar que lhe compete.
O modelo Panptico de Jeremy Bentham, escrito em 1791, a gura ar-
quitectural da disciplina, em especial da componente disciplinar presente na
publicidade pensada enquanto visibilidade, enquanto domnio comum de
partilha. Inicialmente proposto como priso, o Panptico consiste num edi-
fcio construdo em anel com uma torre no meio, em que os prisioneiros no
tm contacto visual entre si, sendo vistos apenas pelo vigiliante da torre. Or-
ganizado em unidades espaciais que se abrem ao visvel, este modelo prisional
revolucionrio: ele inverte o princpio da masmorra; no se esconde o pri-
sioneiro, pelo contrrio, mostra-se pois a plena luz capta-o melhor do que a
penumbra protectora. Deste modo, a visibilidade evolve numa cilada. um
logro porque apesar de no estar connado ao desaparecimento por detrs de
uma cela, est destinado a ser recolhido pelo olhar vigilante. O Panptico de
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
60 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
Bentham congura uma visibilidade axial em que o prisioneiro visto mas
no v, objecto de informao mas nunca poder ser seu sujeito. O Panp-
tico uma mquina de dissociar o par ver e ser visto: no anel perifrico -se
totalmente visto sem nunca se ver; na torre central v-se tudo sem ser visto
(Foucault, op.cit: 166). A dissimetria entre sujeito de observao e objecto de
vigilncia encerra uma importncia capital pois introduz uma cesura na comu-
nicao impossibilitando-a. O indivduo no v a vigilncia sobre ele exercida
mas visto. Desenvolve, por isso, uma angstia ao no poder vericar a sua
viglia. Porque o indivduo acredita estar permanentemente sob o olhar atento
do vigilante, ele interioriza um sentimento de observao permanente que o
leva a agir em conformidade, mesmo que a vigilncia naquele momento no
esteja a ser exercida. O indivduo no pode ver o seu vigia, por isso pressu-
pe que est sempre a ser observado, integra o regime de vigilncia, o que se
assemelha a um cultivo da parania como meio de controlo social. A moni-
torizao constante para o indivduo obrigando-o a dispor-se e predispor-se
ao controlo e ao comportamento expectvel. Cada um torna-se o vigilante e
disciplinador de si mesmo.
A opticizao faz o poder disciplinar funcionar automaticamente e ser
permanente nos seus efeitos apesar de eventualmente descontnuo na sua ac-
o. O essencial que se saiba sob viglia. Ao saber-se submetido visibili-
dade, o indivduo inscreve em si a relao de poder na qual ele passa a ser o
princpio da sua prpria sujeio. A visibilidade um dispositivo disciplinar
econmico e limpo. Econmico porque a minoria controla a maioria, limpo
porque cada um levado a agir voluntariamente do modo desejado. O Panp-
tico fabrica, assim, efeitos homogneos de poder em que um assujeitamento
real nasce, quer de uma visibilidade efectiva, quer de uma vigilncia potencial.
De modo que no h necessidade de recorrer violncia para obrigar o recluso
ao bom comportamento, o operrio ao trabalho, o aluno s tarefas. O poder
disciplinar desta pan-visibilidade apresenta vrios paradoxismos: indiscreto
porque operado sem limites, em toda a parte controlando ininterruptamente;
e discreto porque funciona em silncio, pela calada, pela invisibilidade. Con-
verge a sua ateno no particular mas sendo difuso existe em qualquer lado e
estende-se por todo o corpo social; solcito na sua observao mas tambm
subtil.
Porque o acto de vigilncia invericvel e conduzido anonimamente,
o Panptico signica a despersonalizao do poder. Mas signica sobretudo
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 61
que o vigia pode estar, tambm ele, a ser observado. A mquina de ver uma
espcie de cmara escura em que se espiam os indivduos; ela torna-se um
edifcio transparente onde o exerccio do poder controlvel pela sociedade
inteira (Foucault, op.cit: 171).
Vivemos numa sociedade com um big brother como aquele da distopia
Nineteen Eighty- Four
10
de George Orwell que insiste em nos fazer esquecer
que ele nos observa
11
. Im wathching you o mote de qualquer actividade so-
cial, seja pblica, seja privada, seja, at, mais especicamente intma. Numa
sociedade de vigilncia (surveillance society) (Lyon, 1994: 57-80), a privaci-
dade uma esfera escassa que existe na penria. A intimidade s resulta das
lacunas deixadas pelos intervalos da observao, das intermitncias da optici-
zao, do intercalar do controlo disciplinar. A cultura de vigilncia consiste
na normalizao do comportamento individual que se faz concordante com a
disciplina, conforma-se a ela, incorpora-a e repercute-a, em si e nos outros.
A mente adequa-se disciplina, o corpo serve-a. Conforme a tecnologia da
imagem se miniaturiza e se torna uma prtese funcional do homem pense-
se nas cmaras fotogrcas dos telemveis mais difcil se torna escapar s
garras pticas que delineam o percurso individual, o analisam e o segmentam,
lhe anexam um perl psicolgico, social e econmico. A sociedade torna-se
um monopso, um s olho omnipresente dividido em pequenos dispositivos
pticos que registam, gravam, memorizam e reproduzem a vida do indivduo.
Este deve moldar-se sua vigilncia, deve conformar-se norma para no ser
punido. O Panptico torna-se o monitor do homem, isto em dois sentidos dife-
ridos: por um lado porque vigia tecnologicamente o indivduo acompanhando
a sua actividade a par e passo; mas tambm por que se torna o seu monitore,
10
um exerccio ldico interessante comparar o modelo Panptico de que fala Foucault
com o big brother do livro de Orwell. Sem pretendermos ser exaustivos e tendo em conta
que so registos literrios diferenciados, respectivamente um ensaio e um romance, podemos
armar que a vigilncia social em Orwell coloca menos nfase no indivduo como perpetrador
dessa prpria observao, preferindo sublinhar as relaes de poder de um ponto de vista mais
formal, designadamente, de um Estado centralizado. Foucault prefere falar da instituciona-
lizao das disciplinas e do panptico numa perspectiva intelectualmente mais abrangente e
socialmente mais integrada dando relevo ao seu carcter insidioso e difuso.
11
Na literatura contempornea existem outras referncias ao tema da vigilncia social. Por
exemplo, Franz Kafka no inacabado conto Das Schloos e uma distopia assinada por Margaret
Atwood, Handmaids Tale.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
62 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
aquele que aconselha e avisa tacitamente qual o comportamento adequado que
deve ser realizado.
opticizao no se pode escapar. Com a mediatizao da publicidade
e da privacidade a disciplina da visibilidade atinge indiscriminadamente tudo
e todos. Repare-se o quanto as tecnologias da imagem e a quasi-interaco
mediatizada (Mediated quasi-interaction) (Thompson, 1995: 84) o monitor,
a cmara de lmar informtica (webcam) se assemelham ao mecanismo
panptico: ver sem ser visto, ser visto e no se ver.
O exacerbar destas tendncias e a crescente disseminao das tecnolo-
gias da imagem coloca-nos perante um desao renovado: o de um post-
panopticon. Uma sociedade nascida do mecanismo panptico disciplinar que
agudiza a vigilncia e o controlo sociais principalmente por intermdio dos
aparelhos de vdeo e que se torna uma alternativa funcional priso. No ps-
panptico, a vigilncia com as tecnologias de vdeo transcende o espao, a
distncia ou as barreiras fsicas; dissolve o tempo num presente sempre con-
vocado pelo passado porque permite gravar, editar e combinar a informao;
frequentemente involuntria; envolve um policiamento descentralizado e an-
nimo; simultaneamente mais intensivo cobrindo reas anteriormente a salvo
do olhar perscrutador, e mais extensivo alargando espacialmente a sua vigia
(Marx, 1988: 217-219).
A recongurao do modo de constituio do sujeito pode, tambm, ser
vista a partir de um outro entendimento das sociedades contemporneas: soci-
edades de controlo (socits de controle) onde ocorre a instalao progressiva
e dispersa de um novo regime de dominao assente na informatizao da
tcnica (Deleuze, 1990: 240-247). Com o advento das bases de dados infor-
mticas surge uma nova prtica no campo social: o de um panptico levado
ao extremo, o de um super-panopticon (Poster, 2000: 100), uma extenso
capilar do poder ainda mais profunda e transversal. Todas as nossas aces
no apenas se encontram sob o olhar perscrutante e vigilante, como tambm
sob o discurso que as bases de dados tecem para e por ns. Elas transfor-
mam os comportamentos restritos em aces acessveis, atitudes privadas em
declaraes pblicas culminando numa certa fagocitose de pblico e privado.
O pessoal torna-se colectivo. O super-panptico uma ramicao do ps-
panptico dele diferenciando-se na medida em que o indivduo vigiado aceita
e participa intencionalmente da sua prpria inscrio na disciplina. A optici-
zao agora complementada pela discursivizao do indivduo que as bases
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 63
de dados permitem e que o refuta nas suas qualidades de racionalidade e de
autonomia. O sujeito foi multiplicado pelas desmultiplicaes pticas e dis-
cursivas das disciplinas sendo susceptvel a ser transformado em inumerveis
dimenses sociais consoante o tipo de discurso que se tea comas suas aces.
O sistema classicatrio binrio que separa o louco do so, ou o saudvel do
doente, d lugar a uma outra dicotomia coadunante com os princpios da nor-
malizao e do conformismo. No ps-panptico a expectativa da funo de
desempenho e de no-desempenho que importa. A cada um dirigido uma
incumbncia social, uma determinada disciplina que o torna dcil e o sub-
juga. O mundo torna-se um palco permanente, os bastidores desaparecem. O
indivduo necessita sempre de pr-se em sentido, quer esteja em pblico ou
em privado. Sabe-se vigiado, no sabe por quem, nem quando, nem onde. Na
contemporaneidade, o mecanismo panptico um modelo de reexo da pu-
blicidade enquanto visibilidade. Ele permite-nos perceber que o indivduo se
submete a uma ordem desconhecida e annima, difusa e difundida que o induz
ao conformismo e a incorporar em si mesmo prticas de sujeio colectivi-
dade. Todos ns, enquanto agentes sociais, constitumos cumulativamente o
mecanismo panptico; ainda que o no controlemos e que ele no nos con-
trole, modera-nos os comportamentos. Sem conscincia manipulativa ou uma
elite de poder, as relaes disciplinares de dominao subordinam-nos a uma
ordem ptica de visibilidade que faz do indivduo objecto de uma disciplina
que inige a si prprio e aos outros.
A publicidade, na sua acepo intensiva de visualidade e extensiva
de visibilidade incumbe ao indivduo a vigilncia dos outros comporta-
mentos. Impe-lhe a tarefa de policiamento dos procedimentos e o papel de
reprovar ou louvar as condutas. Numa sociedade transparente, o papel social
ordenador da esfera pblica vai a par com o controlo e a inuncia sociais que
se traduzem no conformismo, o garante da no-punio.
1.2.2 A Visibilidade como Pele Social a Espiral do Silncio
Enveredemos pelo aprofundamento da problemtica do conformismo e do
controlo social, desta feita atravs de uma explorao de cariz sociolgico
e psico-sociolgico. Desta maneira, poder-se- perceber com mais exacti-
do o que pregura a publicidade contempornea. Com efeito, existem simi-
litudes entre o panopticismo e o entendimento sociolgico da publicidade:
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
64 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
ambos primam pela visibilidade dos assuntos, comportamentos e condutas,
ambos estimulam a scalizao correctiva e a vericao das atitudes, assim
como aferem o ambiente social pela sua observao e apreciao. Existe,
porm, uma outra similitude que se revelar cardinal: a tendncia a realizar
um fenmeno de inuncia social apelidado de Espiral do Silncio (Noelle-
Neumann, 1977).
Dissertando sobre o declnio da Igreja Francesa, no sc. XVIII, Tocque-
ville escreveu o seguinte: os homens que conservavam a antiga f temeram
ser os nicos a permanecer-lhe is e, temendo mais o isolamento do que o
erro, associaram-se multido sem como ela pensar. O que ainda no era
mais do que o sentimento de uma parte da nao pareceu, assim, a opinio
de todos, e pareceu desde ento irresistvel aos prprios olhos daqueles que
davam esta falsa aparncia (Tocqueville, 1989: 139 sublinhado nosso).
Este curto pargrafo oferece-nos um princpio reinante das relaes soci-
ais em geral e da publicidade em particular. A espiral do silncio designa um
fenmeno psico-social de inuncia, designadamente a tendncia ao confor-
mismo, isto , a levar em conta e apreciao a atitude da maioria dos indiv-
duos. medida que um maior nmero de indivduos se pronuncia, aumenta
a presso a que o prximo indivduo, interpelado a tomar uma posio, aja de
acordo com os indivduos que previamente responderam. A espiral do siln-
cio signica a presso que na sociedade o indivduo experimenta para que no
destoe nem seja reprimido e excludo mas, pelo contrrio, se integre social-
mente e seja visto como um membro desse ajuntamento multitudinrio. Ou
seja, conforme o silncio adoptado como atitude-padro, maior a tendn-
cia ao silncio que se vai dilatando em cornucpia medida que um nmero
maior de pessoas o expressa. Para o indivduo, a solido apartada dos seus
pares razo suciente para desconsiderar o seu prprio juzo. Esta a con-
dio de participao numa sociedade humana e s assim um sentimento de
integrao pode ser alcanado. Esta a sua vulnerabilidade, este o ponto de
contacto com a punio social.
A razo para o conformismo tal como o panptico j prenunciava ,
como salienta Tocqueville, o receio do isolamento que simboliza no mais do
que o ostracismo, o desterro da memria da comunidade, o esquecimento do
indivduo por parte dos seus semelhantes. Assim, a visibilidade opera segundo
princpios curiosos: a visibilidade e a publicidade, ao colocarem perante todos
uma determinada atitude, fazem dela o modelo de comportamento sob pena
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 65
de insulao; mas ao mesmo tempo a visibilidade provoca o seu contrrio,
isto , a invisibilidade, nomeadamente a do indivduo que no correspondeu
s expectativas. num jogo ardiloso de circulao entre contrrios que a visi-
bilidade funciona ameaando o indivduo com o seu contrrio, a invisibilidade
que simbolicamente signica a morte pblica do indviduo. Quem no visto
em conformidade, no existe. Como dizem os ingleses running with the pack,
essa forma de gregarismo que une e solidica as relaes individuais mais ds-
pares, o engenho que coloca em movimento a espiral do silncio, dispositivo
por excelncia da sociabilidade de massa hodierna.
A visibilidade expe o indivduo ao imperativo de ele corresponder ao
que a sociedade acredita ser a melhor atitude. o medo da isolao, o receio
do desrespeito, o temor da impopularidade, a apreenso acerca do reconhe-
cimento da sua identidade, numa palavra, a indigncia de consenso ou de
concrdia que o faz dirigir-se publicidade, ao olho pblico que tudo vislum-
bra e considera. A sua conduta sofre o cunho inelutvel da exposio pblica
da sua identidade, como se ela fosse um manto difano, camisa-de-foras que
constrange o indivduo a certos movimentos, incentivando uns e impedindo
outros.
Com vista sua integrao na sociedade, o indivduo procura aferir o am-
biente social, identicando correntes, colectando opinies, mas sobretudo
ajuizando a urgncia de modicao de certas propostas e pontos de vista. Ao
constatar que a sua opinio bem-aceite e se dissemina pelo tecido social, o
indivduo expressar publicamente essa convico. Pelo contrrio, se concluir
a falta de credibilidade ou aceitao da sua posio pessoal, o indivduo re-
servar a sua perspectiva e s relutantemente a reconhecer como sua. Esta
inuncia divide-se em dois nveis: entendida como efeito sobre o governo, a
espiral do silncio anuncia a opinio pblica; entendida como efeito sobre o
sujeito, ela uma forma de controlo social (Noelle-Neumann, 1993: 229).
A questo lippmanniana do esteretipo ou a reduo da complexidade de
Luhmann adquirem uma importncia renovada. Ambos os conceitos so posi-
tivamente avaliados numa publicidade como visibilidade e controlo social j
que funcionam como regras de seleco que criam hbitos de recepo par-
tilhados que promovem o consenso. A simplicao substancial dos temas
pblicos no obriga a um raciocnio crtico mas, pelo menos, permite ao indi-
vduo distribuir a sua ateno sobre uma variedade de tpicos autorizando-o
a aceder a um horizonte alargado. O mundo simplicado dos esteretipos o
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
66 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
mundo, no que gostaramos que fosse mas que esperamos que seja. A conso-
nncia o produto da ateno selectiva concentrada na reduo da dissonncia
cognitiva que elimina as contradies e salienta os pontos de contacto. A pu-
blicidade mormente a mediatizada oferece-nos uma verso codicada dos
factos da realidade enfatizando uma natureza moral decidida entre a aprova-
o e a desaprovao (cf. Noelle-Neumann, 1993: 151).
A visibilidade a nossa pele social. Ela possui um papel ambivalente,
denindo-se no apenas como separao entre indivduos, como tambm co-
mo lugar de contacto entre indivduos. A metfora da pele social trai um
sentido muito pertinente: o indivduo est sujeito e exposto s vicissitudes da
visibilidade tal como a pele est sujeita s sensibilidades do seu ambiente. A
nossa pele social aquilo que damos a ver. A dimenso ptica do indivduo
tem a ver com o que damos a conhecer. Ver equivale a conhecer, a penetrar
nos recnditos individuais e de sujeitarmos o homem a um comportamento.
A visibilidade encarrega-se de fazer expressar o indivduo, de o fazer decidir
entre aceder e ser integrado ou diferenciar-se e ser provavelmente rejeitado.
O indivduo uma espcie de homem-mdio, um ser mediano que vive na
esteira da maioria. Ele sente-se vontade ao sentir-se idntico aos outros
(Ortega y Gasset, 1989: 42). O assentimento submisso (compliance) do indi-
vduo ocorre porque possui a expectativa de alcanar uma reaco favorvel
dos outros se ele se deixar inuenciar. Quando ele faz coincidir o seu sistema
de valores com o dos seus pares acontece um processo de internalizao em
que a inuncia se dissimula na prpria convico individual. A visibilidade
como pele social aponta no s para um animal poltico (zoon politikon) como
para um animal social (animal socialis) em que o estar junto a segunda na-
tureza do homem e onde a visibilidade solidariza a sociedade protegendo, tal
como uma pele, o indivduo do isolamento de opinio e da sua subsequente
segregao. Ao tomarmos em considerao a espiral do silncio e uma con-
cepo de publicidade equivalente de visibilidade, foroso aceitar uma
mutao no nosso entendimento de trs conceitos basilares da teoria social:
publicidade, comunicao e opinio pblica.
A publicidade deve ser compreendida como a esfera de comunicao in-
tersubjectiva, lugar de raticao das identidades e de integrao social, o
qual opera de acordo com estritos mecanismos de conformao e consenso.
A publicidade um lugar de emancipao porque ao indivduo a certicada
a sua existncia como personalidade dotada de identidade. Mas igualmente
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 67
lugar de restrio e vigilncia social, esfera de conformismo para que o reco-
nhecimento dessa identidade exista. Nessa medida, o seu carcter emancipa-
dor complexo.
A comunicao dene-se, neste quadro, pelo intercmbio simblico de
valores partilhados por uma comunidade que permite estabelecer slidas re-
des de solidariedade social capazes de agregar os indivduos, de reconhecer as
suas identidades e de desenvolver com isso novas formas de subjectividade. A
comunicao o agilizador do ambiente social no qual o mundo e o indivduo
so denidos. Constitui o cimento da sociedade que permite aos indivduos
responderem com alacridade, aquiescncia ou silncio s mltiplas solicita-
es da vida social.
A opinio pblica agora percebida como opinies acerca de assuntos
controversos que o indivduo pode expressar sem receio de isolamento (Noel-
le-Neumann, 1993: 62-63). O que est em jogo na publicidade e na opinio
pblica a dicotomia entre aprovao social e rejeio social, dito de outro
modo, um indicador vel da volubilidade das constelaes de valores, um
ndice quasi-estatstico que permite considerar a orientao admissvel sobre
os assuntos. Assim, a sociedade e a alteridade a constiturem os alicerces
de referncia dos indivduos, formando-os e investindo-os dos fundamentos
normativos e morais acerca do que aceitvel.
Uma tal concepo da opinio pblica deve ser relativizada. Efectiva-
mente parece-nos que a opinio pblica funciona como formulao explcita
do admissvel com fortes relaes com o consenso social. Porm, no pode-
mos reduzi-la apenas a essa dimenso panptica e de inspeco visual, como o
faz Noelle-Neumann. Gostaramos de fazer uma breve crtica a essa concep-
o como forma de delimitao da sua inuncia neste captulo. Apesar da
sua contribuio ser bastante estimulante, ser mais pregnante se separarmos
a opinio pblica da publicidade. Acreditamos numa publicidade como visibi-
lidade que encontra na espiral do silncio um alicerce terico importante. To-
davia, mais difcil aceitar um modelo panptico da opinio pblica baseado
em mecanismos psico-sociolgicos que fazem dela um conceito descaracte-
rizado e desinvestido da sua funo poltica e normativa. A sua dimenso
poltica destituda a favor de uma dimenso social ao nvel da Psicologia
Social, especicamente no respeitante ao conformismo e inovao. Alm
disso, a proposta de Neumann carece de uma teorizao elaborada, em espe-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
68 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
cial, ao no discernir entre a opinio individual (publicada) e a opinio pblica
(do pblico) (Splichal, 1999:179).
A opinio pblica de Noelle-Neumann coloca-se do lado das teorias ad-
jectivistas onde o pblico somente uma qualidade da opinio e no de um
rgo crtico. A opinio pblica enquanto processo racional relegada a um
ideal democrtico liberal ou mesmo um mito por lhe faltar um referente emp-
rico. Esta posio terica insere-se numa verso mitigada do fabrico do con-
sentimento, de um indivduo inuencivel e entorpecido, receptivo e passivo
subordinado a um fenmeno colectivo de juzo.
No entanto, no lhe podem ser negadas algumas virtudes na medida em
que traa um perl concordante com o tipo de sociedade em que funciona. A
opinio pblica assim perspectivada molda-se s sociedades ocidentais con-
temporneas de sociabilidade de massa, onde a maioria indiferenciada assume
o lugar do indivduo manipulvel susceptvel de concordar frivolamente como
raciocnio alheio, e onde a multido e a massa se sobrepem tendencialmente
ao pblico.
Assim, procurmos aproveitar o potencial inscrito nesta formulao para
argumentar e reectir sobre o papel da visibilidade da publicidade expo-
nenciada pela mediatizao na formao do consenso e da sua componente
disciplinar que tende a gerar conformismo.
1.2.3 Conformismo
Aduzido mais um aspecto argumentativo a favor da regulao que os indiv-
duos exercem entre si, concentramo-nos agora no modo como a Psicologia
Social a analisa.
A inuncia social foi amplamente investigada, do ponto de vista emp-
rico, por esta disciplina tendo cado bastante bem documentada, e sendo um
facto indesmentvel. Ela ocorre quando as aces de uma pessoa so condio
para as aces de outra, dito de outra maneira, o comportamento de algum
socialmente inuenciado quando ele se modica na presena de outrem, seja
ele efectivo, imaginado, antecipado ou pressuposto. Uma das primeiras e mais
importantes pesquisas sobre a inuncia social, mais exactamente dedicada
normalizao, foi a devotada por Musafer Sheriff que pretendia estudar a or-
ganizao da experincia volta de um quadro de referncia tornando claro
o papel da actividade subjectiva de cada indivduo na sua criao. Ao faz-lo
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 69
esclareceu o modo com as atitudes e as crenas se inter-relacionam desde a
sua gnese com os quadros de referncia sociais. Ele conrmou que, numa
situao ambgua, os sujeitos da experincia emprica utilizaram o compor-
tamento dos outros na construo dos seus quadros de referncia individuais.
Mesmo aqueles que haviam edicado o seu prprio quadro de referncia fa-
ziam convergir as suas estimativas na direco dos outros (Sheriff, 1936).
Anos mais tarde, Solomon Asch examinou o fenmeno do conformismo.
Rejeitando explicaes comportamentalistas que defendiam o conformismo
como um reforo em si, prefere dar uma resposta de acordo com uma psico-
logia gestalltiana e conclui no sem avanos e recuos, polmicas e crticas
que os sujeitos da sua experincia revelam uma reorganizao cognitiva con-
soante a informao recebida a favor do grupo. Ele demonstrou, neste caso
em complemento s pesquisas de Sheriff, que o comportamento individual
pode variar de acordo com a presso de um grupo, mesmo em condies em
que o indivduo dispe de indicaes objectivas contrrias. Alguns sujeitos
confessaram mesmo ter-se conformado com a maioria com temor das con-
sequncias que uma desobedincia deliberada implicaria. Nas experincias de
Asch, torna-se evidente um conito entre o conformismo e a independncia.
Mesmo em situaes onde se conclui a independncia individual, houve uma
explcita inuncia social (Asch, 1956). Podem ser avanados alguns facto-
res capazes de reforarem o conformismo: importncia numrica da maioria,
unanimidade da maioria, prestgio ou autoridade pessoais. No fundo, a mai-
oria determina, no o juzo do objecto mas o objecto do juzo, um pouco
semelhana do agendamento dos dispositivos tecnolgicos de mediao sim-
blica.
A publicidade decerto um dos factores mais inuentes. O hiato exis-
tente entre a aceitao pblica e aceitao privada conrma o aspecto de de-
pendncia normativa presente na experincia de Asch. Parece evidente que um
maior conformismo em situao pblica resulta de uma dependncia relativa-
mente s regras do grupo de referncia; cede-se maioria que pode detectar-
nos porque se teme o ridculo, porque h o medo de se ser rejeitado, etc.
(Leyens, 1994: 91). O conformismo que se pode vislumbrar na publicidade
no s se julga relativamente a uma norma, como ele prprio , geralmente,
o produto de uma norma. Em derradeira anlise, a publicidade na sua forma
induzida de conformismo uma genuna norma.
A faceta disciplinar e de controlo social da visibilidade um aspecto in-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
70 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
contornvel da publicidade hodierna. Existem numerosas referncias hist-
ricas ao papel determinante de uma publicidade subordinada sua dimenso
de visibilidade. Na sua maioria, essas interpretaes so feitas em termos de
opinio pblica. No obstante, podemos ver nessa expresso o signicado
abrangente de publicidade, pois cremos que esta mencionada metonimica-
mente como opinio pblica.
Em 1514, Nicolau Maquiavel atesta o controlo social que a publicidade
contm em si na sua dimenso de visibilidade salientando inspirado pela
clebre sentena romana, mulher de Csar no basta s-lo, tem de parec-
lo- como o parecer mais importante do que o ser. O prncipe deve estar
atento ao que dele ajuzam porque os homem, em geral, julgam mais com
os olhos do que com as mos porque todos podem ver facilmente mas poucos
podem sentir. Todos vem bem o que pareces mas poucos tm o entendi-
mento do que s e estes poucos no ousam contradizer a opinio da maioria
(. . . ) (Maquiavel, 2000: 95). No s Maquiavel est ciente de que a publici-
dade e a apario so fundamentais na avaliao do prncipe, como tambm
prognostica, subtil e implicitamente, a tendncia ao conformismo por parte
do indivduo. Acrescenta que o sucesso do prncipe se encontra condicionado
pela capacidade de os sbditos estarem agradados com ele. Um prncipe no
precisa de ter todas as qualidades enumeradas mas convm que parea que as
tem (ibidem).
A opinio que publicamente emerge da maior importncia. Tal como
Maquiavel, William Shakespeare sabe que aquilo que se d a ver cardinal
para a opinio pblica. Em 1597, no terceiro acto da primeira parte da pea
Henry IV, ele coloca na boca do rei uma advertncia ao seu lho, o futuro
Henrique V, no sentido de lembrar-se de que foi a opinio, entendida no sen-
tido de publicidade, que o colocou no trono.
John Locke, em 1690, no Essay Concerning Human Understanding, dis-
tingue entre trs tipos de leis: a lei divina, a lei civil e a que mais nos interessa,
a lei da opinio ou da reputao. Esta diz respeito capacidade humana de
julgar as virtudes e os vcios, bem como capacidade que o indivduo tem de
pensar e de aprovar ou desaprovar as aces daqueles com quem vive e com
quem interage. A medida do que apelidado e estimado por toda a parte
como virtude e vcio, esta aprovao ou desagrado, louvor ou censura que
se estabelece num sigiloso e tcito consentimento nas sociedades, tribos e clu-
bes masculinos no mundo e onde as vrias aces acham a boa reputao ou
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 71
a ignomnia de acordo com os julgamentos, mximas ou modas desse lugar
(Locke, 1961: 175). A lei da opinio ou da reputao no possui sentido ju-
rdico; no advm da recompensa ou da penalizao dos actos praticados mas
sim da aprovao ou rejeio que o ambiente social confere num determinado
tempo ou lugar. Segundo Locke, nenhum homem escapa punio e censura
se ele ofender as regras que regulam o que considerado a boa reputao.
O empirista britnico descreve, assim, com uma variedade de expresses, a
natureza social dos seres humanos sobre a qual os indivduos regulam a sua
opinio de acordo com o juzo dos outros numa tentativa de consentimento e
acordo mtuo. A lei da reputao coercitiva, espcie de norma, no sentido
de em dado lugar e tempo determinar o que objecto de consonncia ou no.
Por isso, a sua ligao com o termo moda.
Amoda adquire, neste contexto, o signicado de meio de integrao social
e s assim se justica a importncia de se usar determinadas indumentrias, de
se aceitarem certas prticas e de censurarem outras. Pensando na contempora-
neidade, a reprovao de certos usos e prticas deve ser percebida esoterica e
exotericamente na dicotomia entre quem pertence e quem no pertence, entre
quem e no , numa palavra, entre quem est in and out. Assim, os objec-
tos de consumo da moda possuem essa funo fundamental de exprimir, por
parte do indivduo, a obedincia e o conformismo sociedade, so signos e
smbolos do seu pedido de ser aprovado na sua identidade (todavia, essa tenta-
tiva de raticao individual pode esbarrar em objectos serializados que do a
prerrogativa a uma pseudo-individualizao). A moda no seno uma forma
de vida que permite conjugar, num mesmo agir unitrio, uma igualitarizao
social e uma diferenciao individual. Imitao de um dado modelo, a moda
satisfaz um desejo de apoio social, ela leva o indivduo na direco seguida
por todos, ela indica uma generalidade que reduz o comportamento de cada
um a um puro e simples exemplo (Simmel, 1988: 92).
No por mero acaso extemporneo que mencionmos o conformismo,
a moda e a imitao na mesma tentativa de reectir a publicidade contem-
pornea. Com efeito, a moda uma manifestao pblica de um arremedo
socialmente generalizado estreitamente associado reputao. A tendncia
ao conformismo implicado pela visibilidade pblica ser ainda mais evidente
se a colocarmos em contra-luz. A inuncia social, em particular o confor-
mismo, est na psicologia como a imitao est para a sociologia. A imitao
(imitatio) a aco intencional ou no por exemplo, Gabriel Tarde coloca-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
72 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
lhe reservas psicologicamente estruturante de reproduzir o comportamento
de um outro indivduo. A sua ocorrncia verica-se no reino animal como
por exemplo no mimetismo siolgico. Segundo Charles Darwin, a imitao
acontece como meio de aprendizagem nas espcies animais ou como meio de
adaptao entre os humanos.
1.2.4 A Imitao como Organizao Social
Como argumento para o efeito de conformismo proveniente da disciplina que
a visibilidade impe, pretendemos salientar a funo da imitao na socie-
dade. Ao invs de considerar o mundo social a partir da perspectiva do in-
divduo ou da colectividade, preferimos tom-lo do ponto de vista dos actos
e ideias usados para classic-los. Ao focar como esses produtos eram di-
ferentemente reproduzidos no tecido da sociedade, Gabriel Tarde (1993) su-
geriu a possibilidade de se inferirem certas regularidades ou leis que regem
a sociedade humana. Opondo-se a uma sociologia estrutural, tal como o seu
compatriota mile Durkheim postulava, Tarde descreve a organizao social
e as relaes sociais como intrinsecamente propagatrias. A auto-propagao
e no a auto-organizao o princpio fundador do social. A organizao
mais no do que o meio de que a propagao possui para se realizar. A
imitao , assim, o barrote estrutural das sociedades. Estas so imitao na
medida em que consistem em indivduos com aspectos comuns imitados, ap-
tos a partilharem emulaes (Tarde, 1993: 108). O ser social, enquanto social,
imitador por natureza. A imitao o lao social por excelncia. a partir
da emulao que surge a criao original, numa imitao generativa que se
distingue de uma imitao imitativa, simples disseminao de repeties.
A imitao o conceito que faltava para perceber como a tendncia ao
conformismo to acentuada: no apenas pelo regime de visibilidade da pu-
blicidade, como tambm, porque a prpria essncia do societal. Aquilo que
nos faz pertencer a uma sociedade a partilha de modos de conduta similares,
aos quais estamos constantemente expostos e somos facilmente inuenciveis
por ele. A etnologia demonstra-o perfeitamente no facto dos particularismos
de cada comunidade se revelarem para elas os nicos, de to enraizados na
experincia social que esto. Gabriel Tarde bem explcito quanto relao
ntima entre imitao e conformismo: a vida social culmina fatalmente na
formao de uma etiqueta, o mesmo dizer que culmina no triunfo acabado
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 73
do conformismo sobre a fantasia individual. A lngua, a religio, a poltica,
a guerra, o direito, a arquitectura, a msica, a pintura, a poesia, a polidez,
etc, do lugar a um conformismo to mais perfeito, a uma etiqueta to mais
exigente e tirnica, quanto mais prolongados e pacicamente desenvolvidos
(Tarde, op.cit: 143). O desejo de conformismo completamente naturalizado
no homem gera uma uniformidade que passa pelo signo mais manifesto da ci-
vilizao. Desse modo, a imitao e o conformismo deixam de ser actos inten-
cionais para serem actividades arreigadas, quase do domnio do inconsciente,
tal a discrio omnipresente onde se encontra. Reproduzindo-se em sucessi-
vas vagas, a imitao procede pela contaminao completa do tecido societal,
por uma transmisso contagional dos apetites. Mas mais relevante, h uma
correlao vertical e horizontal, respectivamente entre imitao e obedincia
e entre imitao e disseminao. Uma imitao vertical acontece em termos
de estatuto e classes sociais. A inuncia social propagada pela imitao
em moldes de credulidade e obedincia a certas entidades ou personalidades
que carregam consigo um capital de superioridade numa determinada relao
social. Por exemplo, a igreja, a corte, o rei, a nobreza, no s foram historica-
mente objecto de mimetizao como tambm existiu uma forte componente
de subservincia aos seus ditames (Tarde, op.cit: 145). Credulidade, imita-
o das crenas e desejos, a actividade mimtica acentua o sentido de uma
adeso passiva ideia de um outro, instinto transubstanciado em indolncia,
assimilao pronta das volies sociais e de um querer moldado na forma do
anlogo e do adaptado. Uma imitao horizontal ocorre no momento em que
o grande nmero de pessoas serve como modelo para um pequeno nmero
como quando a aglomerao fsica da multido atrai para si mais indivduos
que se vo mimetizando entre si nessa congregao.
O fenmeno da imitao surge muito associado ao desejo. Porqu? E-
xactamente porque a publicidade contempornea pe em marcha uma imita-
o que almeja no um objecto mas, acima de tudo, uma relao ao objecto.
Como o armou Ren Girard por intermdio do conceito de desejo mim-
tico, a relao de desejo no tanto binria, entre um sujeito e um objecto,
quanto triangular, entre um sujeito desejante, objectos desejados, e um ter-
ceiro desejante desses objectos desejados. O objecto de desejo no interno
ao sujeito mas descoberto pelo modelo. A saber, pode desejar-se no importa
o qu porque o mecanismo da cobia reside no modo como esse apetite rea-
lizado. Esse como desejar sempre revelado por um modelo. O desejo no
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
74 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
visa tanto a possesso como o ser do mediador, do modelo intermedirio. Dito
simplesmente, isto signica que os fenmenos sociais mimticos no se focam
sobre determinado objecto mas mais propriamente na sua dignicao social,
na sua apreciao por um terceiro que o reinveste de valor. Assim se explica
que numa cultura de consumo os objectos dispendiosos sejam mais cobia-
dos: no tanto pelo objecto em si, como pelo valor social a si atribudo por
terceiros. As indstrias de consumo e de produtos aproveitam-se deste facto
inventando novas actualizaes de objectos de forma a que o desejo mim-
tico dos indivduos seja novamente encetado, mantendo aberta a circularidade
entre desejo e aquisio.
Numa sociedade de controlo social baseada nesse princpio mimtico e
conformista percebe-se completamente o papel que a publicidade adquire: o
de fomentadora de aparies conformes e adstritas ao modelo social, o que
inclui a persuaso pelo consumo de objectos. No ingnuo que os anncios
comerciais se designem hoje por publicidade. De facto, eles so cunhados
com uma tal premncia de serem adquiridos que se tornam assuntos pbli-
cos, com interesse para quem no queira sentir-se rejeitado. A sua pertinncia
pblica deriva da indicao generalizada do que a sociedade deve ter em
consenso e da sinalizao do que valorizado societalmente com o m da
sua consumao. Nesta interpretao, os reclamos agem como auxiliares da
esfera pblica gurativa, mecanismos de reduo da complexidade de objecto
ao sublinharem um conjunto relativamente limitado de bens disponveis para
consumao. A necessidade de assistir na televiso a dezenas de boletins in-
formativos dirios (sem que hajam verdadeiras novas) faz-nos pensar que
o objectivo da informao (e da comunicao) manter uma unidade social,
uma comunho, uma solidariedade social. Saber as ltimas informaes faz
sentir o sujeito membro da sociedade. Uma das ideias subtilmente implcitas
na cultura de consumo que para o indivduo se integrar socialmente in-
dispensvel adquirir este ou aquele objecto. Trata-se, uma vez mais, de uma
norma da publicidade.
Se olharmos a sociedade do ponto de vista do conformismo, tambm sus-
citado pela imitao, agura-se-nos prontamente que o maior perigo a nor-
mopatia, o que a psicodinmica nomeia como sendo a tendncia do indivduo
a se conformar excessivamente a normas sociais de comportamento a desfavor
da expresso da sua subjectividade. A personalidade normtica de que fala
Christopher Bollas a imagem da vocao gregria, a impassibilidade, mera
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 75
engrenagem cujo movimento no determinado por si mas por uma ordem
superior. Releiamos Nietzsche. Mas releiamos igualmente Riesman.
1.2.5 Uma Sociedade Alter-Regulada
A visibilidade, dimenso por excelncia da publicidade, contm em germe um
princpio disciplinar que se manifesta como controlo social e como presso
do indivduo ao conformismo. Foi tambm assertado que a inuncia social,
em particular o conformismo, uma faceta fundamental de toda a sociedade
humana que na sua organizao opera, antes de mais, por princpios mimticos
que permitem coordenar os esforos e fazer partilhar uma cultura municiadora
de integrao social.
Desenvolvendo este lo, imperioso questionarmos o tipo de carcter
de uma sociedade que encontra nas leis da imitao as normas orientadoras
dos seus elementos. Servir-nos-emos do conceito de carcter (charaktr)
para designar a organizao social e histrica das ndoles e valorizaes in-
dividuais que formam os apetrechos conceptuais com os quais se interpreta o
mundo. Ele pode ser denido como (a relativamente permanente) forma pela
qual a energia humana canalizada no processo de assimilao e socializa-
o (Fromm, 1971: 59). O carcter possui a funo de permitir ao indivduo
agir consistente e razoavelmente como mtodo de integrao (adjustment) na
sociedade. O carcter social a parte do carcter que signicante para a so-
ciedade sendo o produto da aco dos grupos sociais. Para que uma sociedade
funcione, os seus membros tm de adquirir um tipo de carcter concordante
que os faa querer agir na mesma direco em que devem agir
12
. Os indi-
vduos devem desejar o que objectivamente necessrio para eles. Assim,
o ponto de contacto entre carcter e sociedade est no modo como a estru-
tura social assegura um grau de conformidade por parte dos seus membros.
Desse modo, a expresso carcter social sinnimo de um modo de con-
formismo, ainda que este no preencha todo o espao do carcter social uma
vez que devemos contar com um modo de criatividade.
Os ciclos de crescimento demogrco e a distribuio entre as esferas
primria, secundria e terciria da economia possibilitam o estabelecimento
12
Existem anidades manifestas entre o conceito de disciplinas de Michel Foucault e o
conceito de carcter de Erich Fromm.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
76 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
de trs pers societais distintos, cada um denindo um carcter social, e por
conseguinte, um carcter individual, singular (Riesman, 2001: 6-9).
Uma sociedade caracterizada pela predominncia da esfera primria, em
que o nmero de bitos igualiza a natalidade, desenvolve um carcter social
cuja conformidade deriva da assertividade da tradio. Trata-se de uma soci-
edade direccionada pela tradio (tradition-oriented).
Numa sociedade com alto potencial de crescimento demogrco, em que
o sector secundrio mais poderoso, a tendncia conformidade provocada
por um conjunto de objectivos internalizados individualmente desde muito
cedo. uma sociedade cujo perl interiormente dependente (inner-direc-
ted).
A sociedade em que domina o sector tercirio e onde a taxa natalidade di-
minui drasticamente gerando um envelhecimento da populao, distingue-se
por um carcter social cuja conformidade radica na sensibilizao e na cor-
respondncia das expectativas e das preferncias s da alteridade. uma so-
ciedade alter-regulada (other-directed), claramente dependente da aprovao
que os outros fazem do indivduo.
Nas sociedades tradicionais, existe uma solidssima normatividade dos
costumes. Ela cunhada por rgidos cdigos de conduta e de aco e de-
tm um nvel elevado de integrao dos indivduos cuja vida , desde logo,
organizada sua nascena. H, assim, um nmero muito limitado de opes
individuais porque a comunidade encarrega-se, por intermdio dos costumes
e dos hbitos ancestrais, de dar um pr-sentido ao mundo social. As situa-
es tornam-se auto-evidentes porque so as nicas consideradas possveis.
O seu grau de padronizao incita o indivduo, no a descobrir-se e a inovar,
mas a adaptar-se e a incluir-se na comunidade. A rotina, a autoridade, a fora
do passado e a legitimidade da tradio ajudam a criar um padro convenci-
onal de conformidade. Os princpios culturais ou melhor, etnocntricos, so
primordiais. A conformidade obtida pelo medo de perder a honra familiar
ou pela vergonha, isto , pela exposio da infraco cometida que expulsa o
homem da comunidade. A tradio a ordem social reguladora e o carcter
social , como tal, dependente da tradio.
As sociedades direccionadas para a sua interioridade podemser associadas
experincia moderna do mundo e traduzem a emancipao que o indivduo
logrou obter da sua comunidade de pertena. Essas sociedades registam uma
constante expanso, seja econmica com a acumulao de capital, seja terri-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 77
torial com a explorao de novas colnias. Altamente teleolgico, este perl
societal incute aos indivduos desde a infncia tarefas, objectivos e metas a
atingir; a famlia e os restantes agentes socializadores estabelecem um curso
ou uma rota de vida. Assim, a conformidade no apenas de comportamento,
como nas sociedades tradicionais, como tambm de um carcter individua-
lizado profunda e rigidamente canalizado. O sujeito possui um giroscpio
psicolgico, mecanismo capaz de lhe indicar a direco que seguir e de man-
ter um delicado equilbrio entre as obrigaes que sobre ele impendem e o
ambiente externo. O indivduo possui assim um piloto interno que o norteia
nos sulcos e turbulncias que a modernidade traz consigo. Em vez de vergo-
nha, a culpa a sano emocional a exercer o controlo. O indivduo tende
a sentir culpa por reprovar nas duras provaes que os objectivos escolhidos
incluem, culpabiliza-se pelo delito de se ter extraviado durante o percurso de
vida projectado (Riesman, 2001: 11-31).
As supra-citadas descries visam enfatizar o que as sociedades alter-
reguladas possuem de original, sendo este perl o que demonstra um con-
formismo, o que complementa o que temos vindo a explorar. Equiparado
contemporaneidade, porventura a uma maturidade da modernidade, o perl
alter-direccionado faz da fonte do conformismo o facto dos indivduos en-
tre si se sociabilizarem na esfera pblica. O comportamento individual re-
gulado pelos seus pares, seja na partilha do mesmo espao de interlocuo,
seja pela mediatizao da comunicao, fazendo do sucesso uma varivel de
um comportamento pblico enrazado na capacidade de adaptao a diver-
sos contextos comunicativos, a mltiplas ordens de interaco do informal
ao institucional- e a variadas situaes intersubjectivas. Presses de alter-
conformismo (expresso hiperbolizada e na essncia redundante) so perpe-
tradas com maior vigor pelos dispositivos tecnolgicos de mediao simblica
ao criarem agentes potenciais de identicao e de projeco que funcionam
como elementos agenciadores de uma alter-regulao do indivduo. A edi-
cao do projecto individual de vida marcada, desde logo, pela continuada
ateno alteridade, vigiando-a e observando-o como modelo aceite, correcto
e estimado de procedimento social.
A destilao que a alteridade exerce sobre o indivduo , a todos os n-
veis, fundamental e marca uma nunca antes ocorrida experincia social da
publicidade. Esta torna-se uma necessidade j que as suas diligncias so
acompanhadas pelo empenho em mimetizar as diligncias simblicas de ou-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
78 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
trem. Oimperativo de aprovao pela alteridade do comportamento individual
desenrola-se no palco da pan-visibilidade da esfera pblica. Enquanto que o
reconhecimento uma faceta indispensvel de qualquer personalidade, foi
s com a alter-arbitragem que ele se tornou a referncia magna na denio
axiolgica e pragmtica do indivduo e da sociedade.
Nas sociedades alter-reguladas, a necessidade psicolgica de aprovao e
integrao social atinge o seu mximo. A questo do conformismo consiste
fundamentalmente na harmonizao da sua personalidade coma dos outros. O
sujeito procura no o poder, mas o poder possuir o carcter que suposto ter,
o conformismo, a insero social. Se o indivduo alter-regulado no procura
o poder, ento, o que procura? Pelo menos, procura integrao social (ad-
justment). Isto , ele busca possuir o carcter que pressuposto possuir (. . . )
Se ele falhar em conseguir a integrao, ele torna-se anmico (. . . ) (Ries-
man, op.cit: 240). A oportunidade que o homem alter-direccionado encontra
para ser autnomo diz respeito sua capacidade de ceder s presses objec-
tivas para a conformidade. H, assim, uma contenda entre seguir os outros
(a massa) e desprez-los, de encontrar e reter a norma para si ou de no ser
capaz de o fazer, entre uma normopatia e uma anomia, duas patologias numa
sociedade alter-arbitrada. Da a imitao ser, por inclinao, uma das leis vi-
gentes de sociabilizao: a moda no s alcanou um campo social autnomo
para si, fora da ingerncia da arte, como detm um elevadssimo ndice de
efemeridade.
A este respeito importa salientar que o indivduo alter-direccionado pos-
sui uma semelhana relativa com aquele da tradio: ambos so incapazes de
serem misantropos, de prosseguir solitariamente o seu projecto de vida (Ri-
esman, op.cit: 25). Porm, se na dependncia da tradio a referncia era o
costume e a comunidade, nas sociedades alter-dependentes o grupo social,
generalizado como um todo, que pode potencialmente vertebrar a sua orien-
tao na concluso de um projecto de vida. A presena do gesto orientador e
aprovativo dos outros o elemento vital de todo este sistema de conformidade
e auto-justicao (. . . ) Se o homem alter-regulado procura a autonomia, ele
no o consegue sozinho. Ele precisa de amigos (Riesman, op.cit: 277).
O carcter das nossas sociedades responde e exerce-se perante um innito
nmero de indivduos, no que se poderia apelidar de sociabilidade exten-
siva. Neste sentido, o indivduo alter-regulado capaz de confraternzar com
uma diversidade de pessoas e situaes, acedendo passageira e supercial-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 79
mente intimidade alheia, no se coibindo de descrever a sua intimidade a
desconhecidos circunstanciais. H uma destreza em se relacionar com tudo e
todos, bem como uma habilidade especial em ser normal, em medianizar o
comportamento e as atitudes e portar-se como toda a gente. Note-se que seria
inconcebvel este tipo de relacionamento nas sociedades direccionadas para a
interioridade pessoal ou mesmo nas sociedades tradicionais. Mas o indivduo
conformado alteridade f-lo na medida emque se v similitudes de si mesmo
nos outros. Indivduo e alteridade no esto separados, complementam-se.
Em vez da vergonha e da culpa, o dispositivo de controlo e sano emocional
a ansiedade, um sentimento de no-correspondncia, de insegurana face ao
outro, de carncia de uma auto-estima que se encontra completamente situada
na forma como a alteridade reconhece e aprova o indivduo.
Se discutimos, aquando da espiral do silncio, a ocorrncia de uma certa
aferio do ambiente social na publicidade, podemos compreender que essa
vigilncia da volutibilidade das opinies estruturante da disposio do ca-
rcter social designado por alter-regulado. De facto, o homem neste ltimo
caso, no dispe de um giroscpio mas de um radar, de uma sintonizao
perptua da pessoa do outro que por retroaco reage ao que observado, de-
nindo para si uma conduta concordante com os seus pares (Riesman, op.cit:
25). A necessidade de saber como vai o mundo, de o recortar discursivamente
(e imagticamente) todos os dias e de o fazer descolar da referncia pelos
dispositivos tecnolgicos de mediao simblica vai de encontro inelutabi-
lidade de aceder a um sentido partilhado do mundo, de uma mundofonia que
vai a par com um mapeamento da experincia individual e ntima baseado na
alteridade e na publicidade. Ideia similar tem Dominique Wolton (1999) que
faz depender da televiso generalista a solidariedade social e a unio entre
os nmerosos estratos da sociedade que encontram a um espao de inter-
cmbio de experincias. Por isso ela deve ser o mais ampla e diversicada
possvel de modo a abranger todas as identidades e preferncias sociais.
neste sentido que a publicidade mediatizada to importante numa sociedade
alter-regulada.
Negar sociedade uma crena desacredit-la e rejeit-la. Para que tal
no acontea imita-se o seu comportamento, o que no signica que no haja
discernimento. Efectivamente o indivduo no est em letargia crtica. No
obstante, ele faz coincidir o seu raciocnio com a alteridade. Ressalve-se que
esta presso regulao social e individual pela alteridade tem uma (eventual)
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
80 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
gnese na sociedade estandardizada que tornou hegemnica a sociabilidade de
massa fazendo, neste contexto, do ostracismo uma formidvel arma de repres-
so e controlo social. Oque no se insere na massa negligenciado e negativa-
mente estigmatizado. Nas sociedades apontadas para o outro, tal como na cul-
tura de massa, a individualizao no desaparece. Mas subordinada ao maior
denominador comum num gesto conformista. A produo interna do seu pr-
prio carcter ou personalidade depende da exposio pblica (mediatizada ou
no) do outro. Mesmo a intimidade se v subserviente da publicidade. Publi-
cidade e privacidade so um compsito que a alter-direccionalidade acentua.
As fronteiras internas justapem-se s fronteiras externas. O mesmo acontece
com o indivduo que encontra nos outros o seu prprio limite. O homem alter-
direccionado obcecado pela alteridade (people-minded) (Riesman, op.cit:
126).
Estes trs pers referidos queziliam-se na contemporaneidade. Para ser-
mos exactos, a sociedade contempornea no exclusivamente alter-regulada,
antes o efeito da luta caracteriolgica levada a cabo pela alter-regulao, pela
direco interior ou pela direco da tradio, ou se quisermos, o resultado
da equao cujas variveis so a experincia tradicional, moderna e tardo-
moderna. No entanto, a alter-regulao destaca-se hodiernamente. Ela clari-
ca imensamente os nossos propsitos de explicitar os contornos de uma pu-
blicidade gurativa ao ser um trao estruturante da contemporaneidade. Mas
no deixa de constituir um paradoxo de relevo se se acreditar que vivemos em
sociedades intimistas e privatizadas que desguarneceram as funes pblicas.
So ambivalncias resultantes da complexidade da organizao da sociedade
e das ambiguidades de que dotada. A sociedade que encontra no indivduo
o valor fundamental , de igual modo, capaz de valorizar os indivduos no seu
todo, a alteridade. O homem que se refugia do pblico tambm aquele que
o procura para obter a aprovao dos outros num acto obtuso, algo estranho,
de individuao singular. A obliterao da publicidade cria a privacidade mas
esta no a esquece. Na verdade, a intimidade no nega a publicidade, nem o
pblico nega o privado, como defende Richard Sennett (1974: 259-268). So
faces da mesma moeda que devem assim ser interpretadas. O indivduo s
pode individualizar-se se procurar o outro; a subjectividade radica na inter-
subjectividade; privacidade e publicidade tm de ser entendidas a essa escala.
A propenso para pensar o outro como norma do comportamento individual
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 81
uma das dimenses essenciais que conguram essa alegada esfera pblica
contempornea. Investiguemo-la.
1.2.6 Fenomenizao e Simbolizao como ordens estruturantes
da Publicidade
A actual publicidade possui foros de uma visibilidade ubqua, que por esse
facto induz estados de inuncia social que contribuem para explicar a imi-
tao como acto estrutural das sociedades do ponto de vista da sua organi-
zao. A dimenso ptica especialmente acentuada nos tempos que cor-
rem, principalmente pela convergncia das tecnologias em torno do visvel e
do invisvel. O aparelhamento tecnolgico minituriza-se, invisibiliza-se, mas
tambm se torna visvel e legvel com a crescente incorporao das tecnolo-
gias da imagem nos mais diversos objectos. A mediatizao da publicidade e
da privacidade faz-nos crer que essencial estud-las como aparncia, como
apario e como representao de si. Pese embora a importncia que tenha
assumido, a visibilidade da publicidade no necessariamente visual. No en-
tanto, dada a relevncia da visualidade na visibilidade, este captulo ocupa-se
mais estreitamente da sua problematizao.
Na medida em que a publicidade torna comum, ao possibilitar ao sujeito
o conhecimento dos assuntos sociais pela visibilidade oferecida pelos dis-
positivos tecnolgicos e pela sua mediatizao, no ser de todo displicente
concentrarmo-nos, de novo, numa dimenso representativa da publicidade tal
como ocorrida no feudalismo. Mas ser mais profcuo ainda retormarmos
a dimenso epifnica da publicidade tal como o zeram os helnicos. Pre-
tendemos, por isso, restaurar a importncia do vocbulo grego phainomenon
(aparncia) associando-o esfera pblica. Propomos, deste modo, comear
por explorar a publicidade na acepo de phainomenon, tanto na sua vertente
fenomenolgica como faneroscpica. A publicidade hodierna pode ser ana-
lisada como lugar, por excelncia, da ocorrncia de fenmenos, de aparncias,
de modos de ser que se colocam defronte da nossa experincia e que convo-
cam a conscincia de modo a adquirirem signicado. A percepo o pano
de fundo da experincia; o mundo e a esfera pblica so campos de percep-
o nos quais o sujeito xa sentidos, prega signicados, pinta conotaes. O
indivduo no se pode separar das suas percepes do mundo. Ele percebe e
percebido pelo seu carcter fenomnico onde as aparncias so fundadas na
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
82 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
percepo. O mundo da vida quotidiana ou o mundo do senso-comum
so expresses variantes mas concordantes no seu sentido: o de um mundo
e uma publicidade de experincia subjectiva. Agimos no apenas no mundo
mas sobre ele. No apenas interpretamos a experincia do quotidiano mas
tambm lhe imprimimos transformaes, tornamo-lo algo de nosso. O mundo
do quotidiano a arena da aco social. Assim, publicidade e fenomenologia
possuem alguns elos de conexo.
A fenomenologia ganhou o epteto, no sc. XVIII, de teoria dos fenme-
nos ou das aparncias. Mas o que entender por fenmenos? Por exemplo,
para os empiristas os fenmenos resumem-se a dados sensoriais (qualia) ou
padres de sensaes. Para os racionalistas, em contraste, o que aparece pe-
rante a mente so ideias. Para a teoria da cincia de Comte, os fenmenos so
factos que uma dada cincia deve explicar.
O entendimento que deve ser feito dos fenmenos, se pretendemos reec-
tir sobre a publicidade, deve ligar-se s aparncias, quilo que dado a conhe-
cer opticamente, dado a ver devolvendo luz aquilo que permanecia obscuro.
Assim, devem ser entendidos por fenmenos os objectos, as pessoas, o am-
biente social, os raciocnios, as sensaes, os constructos, tudo aquilo que
se apresenta conscincia do sujeito e comparece na sua experincia. Inter-
pretada a partir de uma fenomenologia social, a publicidade compreende as
reciprocidades da aco e da interaco humanas que a praxis social provoca,
bem com a reexividade em que aquilo que serve como fundao , tambm,
corolrio do projecto social. A publicidade vive em aparncias que exigem
um acto de atribuio de sentido pelo sujeito.
Desde a losoa grega que existem apontamentos e reexes que arguem
no sentido de um mundo como apresentao. Porm, a tradio alem da -
losoa racionalista foi uma das primeiras a arvorar em sistema losco esse
facto. Uma breve incurso s observaes gerais da esttica transcendental
kanteana possui o condo de alertar para a natureza fenomenal e fenomnica
da realidade. Na Crtica da Razo Pura, Immanuel Kant postula que o homem
s acede a fenmenos e nunca realidade em si, s lida com representaes
da realidade mas nunca com a realidade ontolgica. Regressando s questes
inauguradas pela alegoria da caverna de Plato, ele arma que s podemos
conhecer as manifestaes da realidade, as sombras que se confundem mas
que no se identicam com o real. Quisemos, pois, dizer que toda a nossa
intuio nada mais do que representao do fenmeno; que as coisas que in-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 83
tumos no so em si mesmas tal como as intumos, nem as suas relaes so
em si mesmas constitudas como nos aparecem (. . . ) -nos completamente
desconhecida a natureza dos objectos em si mesmos independentemente de
toda esta receptividade da nossa sensibilidade. Conhecemos somente o nosso
modo de os perceber, modo que nos peculiar, mas pode muito bem no ser
necessariamente o de todos os seres, embora seja o de todos os homens (Kant,
2001: 78- 79). At Kant acreditava-se que a funo da mente era assimilar o
real, fosse pela actividade do sujeito (racionalismo dogmtico), fosse pelo pa-
pel determinante do objecto (empirismo). Atravs de um racionalismo crtico,
o lsofo de Knisberg tenta formular uma sntese entre sujeito e objecto mos-
trando que ao conhecer o mundo participamos na sua construo. Os objectos
do mundo existem na medida em que nos aparecem sob as formas da sensibi-
lidade, condies subjectivas da intuio, o espao e o tempo, isto , enquanto
objectos fenomnicos que se opem ao nmeno, a coisa em si no submetida
ao cognoscvel. Espao e tempo so inerentes sensibilidade que se distin-
gue liminarmente do conhecimento do objecto em si mesmo. Se abdicarmos
da constituio subjectiva do sujeito no encontraremos nem poderemos en-
contrar em nenhuma parte o objecto representado com as qualidades que lhe
conferiu a intuio sensvel, porquanto essa mesma constituio subjectiva
que determina a forma do objecto enquanto fenmeno (Kant, op.cit: 80).
Kant faz depender o conhecimento de uma derivao (intuitus derivativus) e
no de uma intuio original que directamente penetre na coisa em si (intuitus
originaurius).
O princpio de que todo o nosso conhecimento e vida social esto submer-
gidos pela percepo de fenmenos est tambm presente na losoa prag-
maticista de Charles Sanders Peirce, um leitor profundo e inveterado da obra
do lsofo de Knisberg. Pretendendo demarcar-se da fenomenologia de Ed-
mund Husserl pelo seu alegado pendor psicolgico atravs do conceito de in-
tencionalidade, Peirce encontra no timo grego phaineron a fonte termino-
lgica da sua losoa dos fenmenos, designando-a como faneroscopia, uma
inspeco aturada dos fneroi. Estamos perante uma fenomenologia com um
carcter peculiar que por esse mesmo facto adopta uma outra designao
13
. A
13
A fenomenologia peirceana condensa-se na pura observao do aparecer, no seu escru-
tnio classicatrio e hierarquizante. o modelo cientco aquele que preside constatao
dos fenmenos da que Sandra Rosenthal a designe por fenomenologia experimental (ex-
perimental phenomenology) em Categories, pragmatism and experimental method acedido
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
84 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
faneroscopia o estudo da directa observao dos fanerons, descrevendo-os,
classicando-os e caracterizando-os. Ela resume-se na descrio do faneron;
por faneron entendo a totalidade colectiva de tudo aquilo que, de alguma ma-
neira ou sentido, est presente ao esprito correspondendo ou no a algo real
(Peirce, 1978: 1.284). Peirce prope faneron como a palavra adequada para
denotar o contedo total da conscincia, a soma de tudo aquilo que temos
presente no esprito em qualquer sentido independentemente do seu valor cog-
nitivo (Peirce, op.cit: 2.362). O faneron , pois, essa entidade experiencivel
de qualquer modo algo cognoscvel, inteligvel, perceptvel e compreens-
vel. Ele aproxima-se do uso habitual do termo ideia, mas Peirce preteriu-o
por estar associado a uma psicologia. Pelo contrrio, os fanerons so para o
lsofo americano entidades reais de natureza lgica que podem ser reduzidas
a trs categorias. A categoria da potencialidade e da qualidade, primeiridade
(rstness), a categoria do facto actual e da relao pura, segundidade (second-
ness), e a categoria da regra matricial que determina a relao constitutiva
das ideias segundas, terceiridade (thirness). As trs categorias esto presen-
tes em toda a experincia mas diferem em grau. O equivalente lingustico da
primeiridade um predicado uni-relacional x . . . -, o da segundidade um
predicado bi-relacional x . . . de y , enquanto que a terceiridade comporta
um predicado tri-relacional x . . . y com z.
As nossas experincias de mediao, compreenso e inteligibilidade r-
mam-se na terceiridade, o modo de sintetizar a experincia estabelecendo co-
nexes, causalidades e acoplamentos entre acontecimentos numa tentativa de
abrigar os fenmenos sob uma ordem. Lei, conveno e razo so exem-
plos de terceiridade. Se o cone e o ndice so os signos da primeiridade e
da segundidade, o smbolo coloca-se ao nvel da terceiridade j que envolve
trs momentos. Um smbolo o representamen cujo carcter representativo
consiste precisamente em ser uma regra que determina o seu interpretante
(Peirce, op.cit: 2.274). O smbolo constitudo signo pelo facto de ser usado
e interpretado como tal atravs de um hbito, independentemente de ser na-
tural ou convencional. Por consistir numa disposio natural, num hbito, o
smbolo um ens rationis (Peirce, op.cit: 4.464). Ele um signo que perde-
ria esse carcter se no existisse um interpretante. Tal que qualquer elocuo
em http://www.digitalpeirce.fee.unicamp.br/p-catros.htm, em Maio
de 2006.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 85
discursiva s signica por virtude de ser compreendida como possuindo sig-
nicao (Peirce, op.cit: 2.304).
Esta a categoria que nos interessa reter na medida em que a esfera p-
blica um lugar de intercompreenso e intersubjectividade que se exercem
simbolicamente. Na actual condio da publicidade, a simbolicidade uma
das mais pregnantes dimenses reactualizando as dicotomias do vsivel e do
invisvel, do apresentado e do esconso, da aparncia e do ser. A importncia
do smbolo reside no facto de se armar como instrumento magno de reexo
da publicidade se considerarmos esta no seu aspecto fenomnico. Ao articular
a distino aparncia e ser, apresentao de si e fundao de si ou representa-
o de si e personalidade, a publicidade encontra no smbolo o operador fun-
damental que transpe e gere os dois regimes de existncia. O smbolo coloca
em movimento a semiose, essa aco sgnica ad innitum que se actualiza e
reactualiza num incessante desdobramento das signicaes, reproduo per-
manente de interpretantes, uxo eruptivo de imagens do mundo. Ele um
processo de signicncia que abarca relaes tridicas de signicao envol-
vendo uxos de sentido entre entidades presentes e ausentes actualizando re-
laes em potncia.
Ora este mecanismo semitico de actualizao o que melhor permite me-
ditar sobre a natureza fenomnica da publicidade como esfera do aparecer, e
da visibilidade das identidades individuais e sociais, lugar de reconhecimento
e de validao do indivduo por todos os seus pares. Em sociedades alter-
reguladas, a publicidade desempenha esta cautelosa funo de disponibilizar
um espao em que o indivduo no apenas pode aceder alteridade, como
tambm pode constituir-se como alteridade. Assim, a esfera pblica hodi-
erna erige-se em momentos lacunares de solidariedade social que requerem
o investimento subjectivo do indivduo com vista sua aprovao por inter-
mdio da visibilidade. Visibilidade esta que se conrma como estgio no
apenas da existncia individual, como da vontade individual. Tudo o que
vejo est, por princpio, ao meu alcance, pelo menos ao alcance do meu olhar
edicado sob o plano do eu posso. Cada um destes planos est completo. O
mundo visvel e o dos meus projectos motores so partes totais do mesmo Ser
(Merleau-Ponty, 2002: 20). Todavia, tal advogao s funciona no mbito da
simbolizao.
Desenvolvamos o nosso argumento. Se a visibilidade caracterstica da
publicidade contempornea impele o indivduo a empreender um trabalho de
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
86 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
gurao de si, se o incentiva a representar o seu aparecer, isto , a sua apa-
rncia, f-lo no sem o imprescindvel auxlio do smbolo. Muito justamente
Ernst Cassirer (1944) dissertava sobre o homem como animal symbolicum,
a simbolizao como que presidindo intrinsecamente a toda a actividade hu-
mana.
Nas Cartesianische Meditationen, Edmund Husserl, na maturidade do seu
pensamento, estudou os processos de associao, emparelhamento e copula-
o como formas especcas da nossa conscincia. Um dos modos de associ-
ao foi nomeado por appresentation
14
ou apercepo analgica (analogical
apperception) e descreve a smula de dois fenmenos numa unidade da cons-
cincia atravs da sua associao. A apercepo (apperception) designa a
capacidade de assimilarmos um experincia original na sua correlao com
uma experincia prvia. Quando percepcionamos um objecto o que visua-
lizamos somente a sua parte frontal. Mas a percepo da parte visvel da
frente envolve uma apercepo por analogia da parte de trs no-visvel desse
objecto, apercepo essa que mais no do que uma certa antecipao da
nossa percepo. A face do objecto entregue nossa apreenso numa apre-
sentao, numa percepo imediata appresenta (appresents) a face invis-
vel e no-presente do objecto. O termo appresentante que presenticado
numa apercepo imediata copulado com o termo appresentado, o termo
no-visvel mas inerentemente associado ao vsivel. Assim, a percepo do
visvel implica sempre um reenvio para o seu oposto, o invisvel, numa jun-
o sinttica de toda a apprenso do fenmeno. A aparncia s pode, assim,
ser compreendida mediante a sua apercepo analgica, isto , perante uma
previso daquilo que permanece oculto, fora da imediatez da presenticao.
A visibilidade e a aparncia no podem ser separadas de um segundo nvel
de percepo. A appresentao signica o modo experiencial pelo qual ns
apreendemos um fenmeno atravs da representao de outra coisa. Cada
appresentaocarrega horizontes particulares que se referem a um sistema
experiencial subsequente ou prvio e que estabelece por analogia uma corre-
lao de presenticaes que operam na articulao do visvel e do invisvel,
do presente imediato e do ausente mediato.
A appresentao husserliana congura, assim, a forma geral das rela-
14
Uma vez que desconhecemos qual a traduo portuguesa habitual para este conceito, usa-
remos o termo appresentao para designar o conceito hussserliano de appresentation.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 87
es simblicas. Constatamos que, no obstante o seu carcter fenomenol-
gico, esta formulao no se afasta muito da tradico semiolgica e semitica
da teoria do smbolo: umobjecto no experienciado como umself mas como
substituindo outro objecto que no dado percepo imediatamente. Pode-
mos extrapolar consequncias ao nvel sociolgico. O mundo fenomnico em
que vivemos no exclusivo de um indivduo mas, sendo intersubjectivo,
um mundo partilhado, experienciado e interpretado pelos outros. Os outros
so elementos que determinam a minha situao no mundo, tal como eu de-
termino a sua. O que fundamental ter em ateno que o conhecimento
que cada um pode ter do outro se baseia em relaes simblicas de natureza
appresentacional (Schutz, 1962: 313). O indivduo s pode ser apreendido
como fenmeno, como aparncia do mundo ao qual necessrio aplicar um
acto de correspondncia entre o que presenticado e se v, e o que appre-
sentado e se antecipa. A alteridade pode ser apreendida como um fenmeno
materialmente determinado, como um corpo. Mas tambm uma psyche,
possui uma vida psicolgica que no me dada em presena original mas
em co-presena, em appresentao por um acto inferencial aliquid pro ali-
quod em que isto est por aquilo. A aparncia, a presena fsica fenomnica
interpretada como expresso da psicologia da alteridade, do seu self onde a
intersubjectividade se efectua no directamente mas interpoladamente por in-
termdio das inferncias simblicas. O signicado espiritual dos objectos
appercepcionado appresentalmente (appresentationally apperceived) como
sendo fundado na apario objectual imediata que no apreendido como tal
mas somente como expressando o seu signicado (Schutz, op.cit: 314).
O indivduo que se apresenta na esfera pblica tardo-moderna s pode ser
compreendido como aparncia, ou fenmeno apreendido por relaes simb-
licas onde o que ele presentica aponta na direco do ausente, onde o visvel
requer que se pense na sua outra dimenso, o oculto. Assim, enquanto fen-
meno o indivduo gura-se, representa a sua aparncia como forma simblica
de signicar algo que no est presente mas que est includo na percepo
do indivduo. As referncias appresentacionais so modos de lidar com
os aspectos transcendentes situao comunicativa que o indivduo integra.
Tal quer dizer que existem experincias que esto para alm das provncias
de signicado da realidade quotidiana e que necessitam da appresentao
para signicarem outras realidades, outras provncias de sentido (outros
sub-universos na terminologia de William James). Os smbolos esto inclu-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
88 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
dos no conjunto das referncias appresentacionais que adjuvam o homem
a apreender os fenmenos transcendentes de um modo anlogo quele que
utilizamos habitualmente coisa que os signos s por si seriam incapazes de
fazer. Por isso os smbolos podem ser denidos como uma referncia appre-
sentacional de um ordem mais elevada na qual o membro appresentante do
par um objecto, facto ou evento da realidade da vida quotidiana, enquanto
que o membro appresentado refere uma ideia que transcende a nossa expe-
rincia da vida quotidiana
15
(Schutz, op.cit: 331). Os smbolos so os ins-
trumentos semiticos de que dispomos para signicar o mundo de um modo
exclusivamente compreendido por humanos que permite interpretar diversas
realidades a partir de uma base unitria, embora polissmica. As aces in-
dividuais enchem-se de sentido no apenas enquanto signos mas enquanto
smbolos que recheiam o mundo humano de signicaes que permitem ao
homem agir, sentir e compreender.
A simbolizao uma componente preponderante da publicidade da ac-
tualidade porque subjaz ao exerccio semitico de atribuio de sentido de que
o indivduo participa cada vez que se d a ver. Em cada momento em que ele
aparece e se d a interpretar como fenmeno, ele est a agir simbolicamente
insinuando sentidos para as suas aces. Sentidos esses ausentes da percep-
o presencial dos seus actos mas que podem ser encontrados se interpretados
como smbolos, como instrumentos semiticos que esto por um terceiro, es-
pcie de metonmia da signicao. Pelo smbolo, o indivduo manipula uma
esfera partilhada de signicado que, justamente por ser comungada, permite a
aco individual com vista a uma inteno comunicativa.
Ao ser visvel, ao submeter-se ao escrutnio da alteridade, ao subordinar-
se sua aprovao, o indivduo faz-se gurar e representar na publicidade.
Faz-se conhecer e conhece. Concede a sua subjectividade e recebe a intersu-
jectividade. E f-lo simbolicamente.
Do ponto de vista do Interaccionismo Simblico, o smbolo um objecto
social utilizado na comunicao entre o self e si mesmo e entre o self e os
outros que visa representar um outro objecto social de forma marcadamente
intencional. Alis, sem inteno o actor social pode comunicar mas no es-
15
Esta denio de Schutz est muito prxima da noo de smbolo de Karl Jaspers: A
compreenso do smbolo no consiste em entender a sua signicao por via racional mas em
experienci-lo existencialmente na inteno simblica de que uma referncia nica a algo
transcendente (. . . ) (Jaspers apud Schutz, 1962: 331-332).
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 89
tar a comunicar simbolicamente. A realidade compreendida pelo smbolo.
Este opera como umas lentes pelas quais possvel interpretar o mundo de
acordo com uma moldura simblica. Os smbolos constituem-se como guias
que orientam a forma como interpretamos qualquer situao social. Eles de-
vem ser distinguidos dos signos. Estes induzem uma resposta automtica, no
so arbitrrios nem convencionais, no so o resultado da interaco. Os sig-
nos so produzidos na presena fsica dos agentes semiticos levando a uma
resposta que no envolve reexo. So percepcionados sensorialmente e o
receptor no possui qualquer escolha na sua resposta (Charon, 1979: 49-51).
Os humanos no respondem somente a signos mas tambm, e sobretudo, a
smbolos. Agimos no mundo de acordo com a interpretao contextual dos
objectos. Respondemos a signicados e no a aces condicionadas a estmu-
los sgnicos. Cassirer distingue os signos, operadores do mundo fsico do ser,
dos smbolos, descritores do mundo humano do signicado que se caracteri-
zam pela mobilidade, dinamismo e exibilidade (Cassirer, 1944: 32-35).
Os homens dependem da sua natureza simblica para agirem adequada-
mente na sociedade e se interrelacionarem, no apenas pela linguagem verbal
como atravs de outras (para-) linguagens. Os smbolos so basilares ao ho-
mem porque constituem a sua realidade e possibilitam a complexidade e a
diversidade da vida social. Por ser simblico, o homem no replica passi-
vamente a uma realidade impositiva e exterior. Pelo contrrio, ele cria e re-
cria o mundo activamente interiorizando-o ao mesmo tempo que o produz e o
molda
16
. Os signicados do mundo emergem da interaco social, sendo com
base nesses signicados e sentidos que os homens agem. Assim, o signicado
ancora-se no comportamento. O signicado origina-se e habita no campo da
relao entre a aco de um dado organismo humano e o subsequente com-
portamento deste organismo tal como indicado a outro organismo humano
por esse acto. Se essa aco provoca a outro organismo o seu comportamento
posterior, ento, possui signicado (Mead, 1992: 75-76). Ele no xo mas
determinado pelo modo como os indivduos entendem e operam os objectos.
Decorrente desse facto est a concepo de interaco. Por interaco
16
O construtivismo social, designadamente a tricotomia de Peter Berger e Thomas Luck-
mann, exteriorizao, objectivao e internalizao, elucidativo do carcter determinante e
determinado do homem e do papel formador da realidade social por parte do smbolo. Nessa
corrente da sociologia interpretativa, a realidade pensada como uma construo interaccional
dos homens sendo o conhecimento fabricado social e culturalmente.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
90 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
deve compreender-se a interseco da aco social, ou seja, o cruzamento da
comunicao e da interpretao recproca dos actores sociais que juntos for-
mam uma totalidade capaz de criar novas conguraes sociais. Ela traduz
a corrente de inuncias mtuas que perpassa sobre as decises individuais.
Por interaco simblica deve compreender-se, pois, a interaco peculiar en-
tre seres humanos que interpretam e denem as aces dos outros seres huma-
nos preferindo replicar a essas aces, no de um modo reactivo mas baseado
no uso de smbolos capazes de oferecer signicado e que se materializam num
ajuzamento do estmulo e da resposta. O que quer que seja decidido, a minha
conduta alterada medida que outros agem e os outros modicam a sua ati-
tude medida que incorporam a minha conduta (Blumer, 1969: 180). Cada
um leva em conta a possvel rplica sua actuao e pressupe que o outro
pensa de igual maneira.
O self, a conscincia que o indivduo possui de si, uma entidade social-
mente emergente. Os selves individuais so os produtos da interaco social
e no pr-condies dessa mesma interaco como assertam as teorias indivi-
dualistas. O self algo que possui um desenvolvimento; ele no est inici-
almente a, nascena, mas emerge no processo da experincia e actividade
sociais, isto , desenvolve-se num dado indivduo como resultado das suas re-
laes com esse processo como um todo e com os outros indivduos dentro
desse processo (Mead, 1992: 135). A conscincia de si (self-consciousness)
o corolrio do processo no qual o indivduo toma para si a atitude da al-
teridade perspectivando-se a si mesmo a partir do ponto de vista dos outros.
Portanto, a conscincia de si est implicitamente relacionada com a objectiva-
o do self, quando o indivduo se avalia no s como sujeito mas igualmente
como objecto, possibilidade essa decorrente das transaces experienciais e
simblicas que empreende com os outros. Quando a resposta do outro se
torna uma parte essencial da experincia e conduta individual; quando a ati-
tude do outro se torna uma parte essencial do seu prprio comportamento
ento o indivduo aparece sua experincia como um self; e enquanto tal no
acontea ele no aparece como um self (Mead, op.cit: 195). Tomar como
modelo o outro indivduo o processo onde o indivduo ocupa imaginaria-
mente o papel do outro e olha para si a partir dessa perspectiva em ordem a
desempenhar um papel social. Interiorizar a alteridade (taking the role of the
other) durante o processo de interaco simblica a forma pregnante no s
da auto-objecticao mas da auto-realizao do self. O self possui, assim,
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 91
uma propriedade reexiva, uma reversibilidade que lhe permite avaliar-se si-
multaneamente como sujeito e como objecto, ou seja, como assunto do seu
prprio juzo. A objecticao do self no deve ser entendida de forma meca-
nicista mas como uma estrutura bsica da experincia humana que se realiza
no contraponto a outras pessoas num mundo social e simblico de relaes
intersubjectivas.
A emergncia social do self faz-se progredir atravs de trs formas de
actividade intersubjectiva, paradigmas-maiores da teoria da socializao de
Herbert Mead e que esto na origem dos processos sociais bsicos que tornam
possvel a objecticao reexiva do self: a linguagem (language), a expres-
so dramtica (Play) e o jogo (game).
A linguagem permite, por via simblica, tomar a atitude da alteridade e
rma-se na universalidade na qual o smbolo suscita no indivduo aquilo que
provocou noutro indivduo.
Na expresso dramtica, a criana e o indivduo adulto aceita o papel
da alteridade para si e actua como se fosse um outro, desempenhando e inter-
pretando um papel social simblico em cada momento. Por isso a alteridade
chega criana como um outro especco (specic other) (Mead, 2002:
196).
A grande diferena entre a expresso dramtica e o jogo est no papel da
alteridade. No jogo, a criana precisa de interiorizar a atitude e o comporta-
mento de todos os outros jogadores. A actividade ldica envolve uma forma
mais complexa de interiorizao da alteridade porque lhe requerido aceitar
o comportamento no de um outro especco, singular, mas de uma plurali-
dade de materializaes da alteridade. A congurao de papis organizados
segundo regras aceites traz todos os participantes a formar uma unidade sim-
blica e a incluir um outro generalizado (generalized other). O outro gene-
ralizado a atitude da sociedade interiorizada pelo indivduo com referncia
qual este pode denir a sua conduta. Ele a condio fulcral, o pr-requisito
do explanar mximo do self individual. Apenas na medida em que ele [o in-
divduo] assuma o comportamento do grupo social a que pertence na direco
da actividade social co-operativa (. . . ) desenvolve um self completo (. . . )
(Mead, 1992: 155). O outro generalizado determina a existncia de um
universo de discurso partilhado como um sistema de signicados sociais que
possibilita a interaco e a total realizao do self.
Este conceito vem elucidar e complementar um outro aqui discutido, o
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
92 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
de sociedades alter-reguladas. No signica isto que as sociedades tradici-
onais e que nas sociedades direccionadas para a interioridade, no ocorra o
que Mead nomeia por outro generalizado. Destacamos, no entanto, as so-
ciedades alter-reguladas pois nelas se registam, com maior intensidade, os
processos descritos.
O self, o indivduo, necessita da alteridade para se efectivar e evolver,
sendo ela um mecanismo de constituio da sua prpria conscincia. Mas,
indo mais longe, o indivduo no apenas assenta no comportamento do outro,
como necessita dele para se sentir integrado e possuir um lugar de pertena.
O jogo ilustra metaforicamente que o que importa , sobretudo, mostrar a sua
incluso. A criana joga, ento, uma espcie de jogo social. Ela torna-se algo
que pode funcionar na totalidade organizada e, por isso, tende a determinar-se
a si mesmo de acordo com a relao ao grupo a que pertence. Esse processo
um estgio notvel da moral da criana. Constitui-a como um membro auto-
consciente da comunidade em que se inclui (Mead, 1992: 160).
Enfatize-se que uma tal concepo de indivduo no o coloca merc
da alteridade desprovindo-o de volio. Embora o self dimane da interaco
socio-simblica no se trata de um reexo passivo do outro generalizado.
A resposta individual ao mundo social activa; ele decide como agir luz do
comportamento dos outros indivduos, no obstante no seja por eles rigida-
mente condicionado. O self detentor de duas fases: uma fase que reecte a
atitude do outro generalizado e que serve como elemento admirvel de in-
tegrao social; e um fase que replica interpelao da alteridade, do outro
generalizado. Mead distingue entre um Me e um I. O Me um self
social e tem como contraponto o I, a irrupo intrnseca da individualidade
que equilibra o pendor alteridade. O I a resposta do organismo s atitu-
des dos outros; o Me o conjunto organizado de atitudes dos outros que o
indivduo assume (Mead, op.cit: 175). Trata-se, portanto, de uma dialctica
entre indivduo e sociedade que debatida no campo das polaridades do I e
do Me, entre uma internalizao de papis socio-simblicos criados em in-
teraco, sobretudo a partir da linguagem, da expresso dramtica e do jogo,
e um acto criativo que reconhece a individualidade contraluz do outro ge-
neralizado e que responde s solicitaes do Me. Estas duas modalidades
do self, estas duas disposies do indivduo indiciam o quanto a integrao e
a autonomia so elementos interrelacionados na identidade. I e Me exis-
tem na complementaridade dinmica e mostram como o self encontra razes
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 93
em processos simblicos intersubjectivos mas, de igual modo, em processos
activos de interpretao. O I pode ser compreendido como o processo de
suturao individual face s estruturas densas e speras da sociedade do ponto
de vista da identidade, enquanto que o Me poder ser entendido como a
parte do self que se acomoda sociedade mas que, no obstante, possibilita a
aco do I. Nesta dialctica, conformismo e inovao so os plos do self.
Este no existe sem o Me e um certo papel social que integre as demandas
da sociedade; mas tambm no existe sem um I, uma rplica criativa que
atravessa a sociedade e o separa dela.
Est mais claro o papel que a alteridade desempenha ao nvel do institui-
o de um self e ao nvel da estrutura social. por isso relevante reectir
sobre o controlo social que a gnese do self envolve e que aduz mais um
argumento na direco de um indivduo alter-regulado que encontra na esfera
pblica contempornea um modo de se reconhecer e de manter o sentimento
de coeso social.
O outro generalizado um instrumento fundamental de controlo social
sendo um dos mecanismos pelos quais a sociedade adquire uma certa pre-
vidncia (e condicionamento) sobre o comportamento dos seus elementos. De
forma muito simples, o controlo social sinnimo da elevao asxiante da
expresso do Me sobre a expresso do I (Mead, op. Cit: 210). Analoga-
mente teoria freudiana do super-ego, o Me actua como um censor, xando
o que possvel, expectvel e susceptvel de reforo. O que considerado
normal e aceitvel motivado pela mimetizao do outro generalizado
por parte do indivduo. O self manifesta a tendncia a suportar a coeso social
e a harmonizar a sua vontade individual denio social e simblica de rea-
lidade, bem como aos seus valores e objectivos. O processo de socializao
congura um dos mais efectivos e subtis meios de controlo social j que, ao
sancionar e aprovar certos comportamentos, o indivduo levado a interiori-
zar papis simblicos e normas societais. Na verdade, como referencimos, o
self s existe enquanto tal por actualizar as atitudes dos outros indivduos num
ambiente social em que esto ambos envolvidos. Assim, ao fundar-se como
princpio de organizao individual, a sociedade imiscui-se nos elementos da
sociedade moldando-os sua imagem. O indivduo pende a agir como os ou-
tros e a regular a sua conduta pelos procedimentos da alteridade. O grau de
controlo social est, pois, sob o arbtrio do indivduo na medida em que ele
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
94 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
integrar, mais ou menos recorrentemente, o comportamento dos outros indiv-
duos no seu prprio comportamento (Mead, 2002: 196).
Constatamos, deste modo, uma outra dimenso de controlo social a do
prprio self por intermdio do Me para alm daquela de que j dissert-
mos, a dimenso discipinar da visibilidade. Note-se que visibilidade e self
como controlo social so dimenses prximas. O indivduo adequa-se al-
teridade tornando-se visvel a ela, aparecendo-lhe, manifestando-se-lhe. O
Me subsiste enquanto presena do sujeito no seio da sociedade, enquanto
elemento capaz de ver o comportamento dos outros indivduos e de por eles
ser visto e reconhecido na sua identidade.
Podemos perceber como smbolo e signicado se assemelham do ponto
de vista do Interaccionismo Simblico: ambos se inscrevem numa lgica tri-
partida. O signicado ou o sentido do mundo tridico j que quando o indi-
vduo actua ele tem implcito o que planeia fazer, o que o outro suposto fazer
e que objecto social est a ser criado pela sua interaco. Herbert Mead subli-
nhava o papel do smbolo como possuindo a capacidade de suscitar num indi-
vduo exactamente aquilo que suscitava nos outros indivduos. Neste processo
de orientao permutvel dos actos sociais est o que ns compreendemos por
interaco social. A aco colectiva consiste no ajuste social das aces in-
dividuais resultante da interpretao recproca dessas mesmas aces. Deste
modo, o indivduo no somente um agente sobre o qual a sociedade exerce
constrangimentos, como o agente social que negoceia constrangimentos com
a sociedade, na medida em que a organizao social o produto da interaco
dos agentes. Os seres humanos so actores sociais porque actuam de acordo
com os outros que agem consoante a aco observada e ajustando-se a ela.
A interaco simblica porque tencionamos comunicar quando operamos
e os outros compreendem esse desgnio. Na interaco rotulamos os outros
de forma a podermos actuar em consonncia com o modelo percepcionado.
Porque admitimos a importncia do modo como a alteridade nos v, ns pro-
curamos controlar aquilo que apresentamos aos outros (Charon, 1979: 149).
Este encmio da interaco simblica tem o propsito de salientar o papel
que a publicidade pode assumir se perspectivada como possuindo uma prepon-
derante natureza simblica. A esfera pblica o local de concerto da aco
social poltica. Mas acima de tudo a esfera onde os indivduos se colocam
em perspectiva perante outros indivduos manipulando, gerindo e negociando
smbolos com o mbil de gurarem uma certa identidade que lhes permita
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 95
no apenas no serem excludos, como tambm serem reconhecidos e apro-
vados. O conformismo e a imitao que a disciplina da visibilidade impem
processa-se em termos de interaces simblicas, de arranjo e disposies de
ordens simblicas determinadas que funcionam como agentes de integrao
de uma dada identidade. indumentria, aos objectos de consumo, aos arti-
gos culturais so aduzidas valorizaes sociais assentes em hierarquias sim-
blicas que funcionam como grandes marcadores de identidade, ndices de
personalidade, sin-signos indexicais que pr-guram e conguram um certo
indivduo, e que reclamam uma certa comunidade de pertena.
Pensar em publicidade gurativa signica reectir sobre a simbolizao
que a eclode. Signica igualmente meditar sobre a construo do self e sobre
a importncia que o Me adquire em desfavor do I. Importa, no fundo,
relacionar smbolo, gurao e interaco. A dimenso gurativa da esfera
pblica oriunda da necessidade de administrar a percepo que a alteridade
faz de ns e corporaliza-se na representao dramtica de si.
1.2.7 A Organizao Dramtica da Experincia
Como forma de aprofundar a dimenso simblica da experincia humana, bem
como a sua relao com a publicidade e a privacidade contemporneas, parti-
remos do pressuposto de que um mtodo pregnante de compreender a esfera
pblica hodierna passa por perspectiv-la de um ponto de vista dramatrgico
analisando o modo como representada a experincia social nas interaces
interindividuais.
Ningum duvida da pertinncia do campo semntico da expresso e re-
presentao dramtica para descrever a experincia colectiva. Vrios auto-
res socorreram-se das metforas cnicas para analisarem e descreverem as
interaces sociais. O prprio conceito de expresso dramtica (play) de
Mead nesse ponto eloquente no deixando dvidas quanto sua relevncia
e aplicabilidade sociologia. Com efeito, a dramatizao com que os agen-
tes sociais se revestem leva-nos a pensar que vivemos no seio de um drama
pblico (Chaney, 1993: 2). As relaes do desempenho dramtico podem
ser utilizadas como ferramentas de descrio e de caracterizao das formas
interaccionais. Elas so um modo de falarmos sobre ns mesmos, deriva-
o de um comentrio meta-social, instrumento analtico que mostra a forma
como nos vemos a ns prprios. pela moldura do drama que a experin-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
96 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
cia quotidiana pode ser melhor enquadrada e compreendida. Mas tambm a
experincia pblica o pode ser se a ela aplicarmos a sua natureza fenomnica
que tudo torna visvel. Os eventos pblicos assentam na possibilidade de se
construrem papis como algo para os quais existe identicao pelos actores
e pela audincia. A exposio (display) do carcter e da identidade social
parte integrante empresa dramtica (Chaney, op.cit: 18). O drama opera
pela e por causa da exposio e da manifestao porque envolve um distan-
ciamento da observao. A sociedade d-se a ver pela visualizao atravs
da dramatizao.
O lo mais prociente para explorar a natureza fenomnica da publi-
cidade, como lugar do aparecer, do ptico e das aparncias, prende-se jus-
tamente com as artes cnicas e com a compreenso dramtica da publici-
dade. No Sc XVIII, a sociedade deu sentido ao mundo do teatro e da vida
quotidiana por intermdio dos mesmos cdigos interpretativos, restaurando
a crena rosseuaniana de que o tipo de vida urbano forava os homens a
portarem-se como actores com vista a serem sociveis entre si (Sennett, 1974:
64). Esta tradio do theatrum mundi que fazia coincidir a realidade quoti-
diana com a representao dramtica j havia tido o seu incio quando o impe-
rador Augusto pronunciou as derradeiras palavras no leito de morte: Acta est
fabula, plaudite (a pea de teatro terminou, aplaudi) ou quando Shakespeare
colocou na boca de Hammlet: All the worlds a stage (O mundo inteiro
um palco). O que est aqui implcito tem enormes consequncias nos assuntos
que temos vindo a dissertar, em especial sobre os conceitos de esfera pblica e
esfera privada. A analogia entre encenao e vida quotidiana tem por suposto
o seguinte raciocnio: tal como o actor esconde a sua vida interior quando
interpreta um papel, tambm o indivduo urbano oculta a sua personalidade
quando est em pblico por forma a se tornar mais socivel e a conservar o
sentimento de si. Com a metfora do theatrum mundi que corresponde a
uma psico-morfologizao do mundo (Sennett, 1974: 259) faz-se a distin-
o entre a privacidade, alheia aos olhares, e a publicidade, a esfera onde o
indivduo encena um papel especialmente dotado a ser avaliado e julgado pu-
blicamente. Esta ponte estrutural entre a crena na similitude entre teatro
e realidade foi conseguida atravs de dois princpios concordantes: o corpo
passa a ser interpretado como manequim; o discurso como smbolo. No Sc.
XVIII, as pessoas passaram a produzir pela indumentria um corpo endere-
ado a ser visto mas no a ser conhecido, vestindo-o sumptuosamente mas
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 97
impedindo a expresso individual. Com as perucas, pinturas, folhados e laos
a indumentria servia como sinal da ascendncia e excelncia do indivduo e
tinha o propsito de distinguir claramente, e por conveno, a classe social a
que pertencia (Chaney, op.cit: 69). A face tornou-se mero pano de fundo onde
se desenhavam caracteres pictricos abstractos. A indumentria era muito pa-
recida com aquela utilizada nos palcos pois estabelecia essa ponte entre palco
e vida, entre co e realidade. Esta objectivao do corpo correspondia
necessidade de atrair a ateno para as roupas insinuantes ao mesmo tempo
que tornava discretas as singularidades do indivduo, numa ntida demarcao
entre o que deve ser conhecido e o que deve permanecer na ignorncia, no
fundo, entre aquilo que pode ser pblico e o que no o pode ser, o privado.
Em sntese, o corpo como manequim pretendia marcar a dimenso pblica
do indivduo tornando-o soberbamente parecido com os outros indivduos de
modo a disfarar as idiossincracias, relegadas para a privacidade.
Por outro lado, o discurso tornou-se smbolo
17
, isto , apontava para a
existncia de uma realidade alm de uma dada expresso verbal e reproduzia
a crena de que as aparncias eram um manto que cobria o verdadeiro indiv-
duo escondido na sua interioridade, s alcanvel na privacidade. Ao colocar
frente de si um smbolo, o indivduo fazia da sua aparncia um modo de
aparecer publicamente, de se mostrar, ou seja, de se representar.
Estas transformaes ocorridas no Sc. XVIII obtiveram grandes e not-
veis consequncias no Sc. XIX e XX inspirando as teses do individualismo
e corroborando o exarcebamento da esfera privada face esfera pblica. No
obstante, e por outro lado, estes factos permitem-nos perceber melhor a di-
menso dramtica e gurativa da publicidade contempornea. Invadida pela
mediatizao, a intimidade tornou-se pblica e com ela acresceu o imperativo
do indivduo se fazer representar publicamente mesmo na esfera privada
, de construir um papel que pela manipulao simblica o coloque perante
os seus pares de um modo positivo e socialmente concordante (e conforme)
com o m de que a sua identidade possa ser reconhecida. Reparamos que,
ao tornar-se um manequim, o corpo do sc. XVIII acentuou o regime de
17
Neste ponto diferimos terminologicamente de Sennett embora concordemos integralmente
com a sua posio. O autor discute a passagem do discurso de smbolo a signo mas f-lo expli-
cando o seu argumento em moldes muito parecidos queles pelos quais entendemos smbolo
(Sennett, 1974: 73-87). Por isso, at por uma questo de congruncia terica com o que temos
vindo a assertar, optamos por manter o termo smbolo.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
98 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
visibilidade da publicidade atraindo sobre o indivduo o foco das atenes
imputando-lhe a necessidade de se revestir e de se gurar. Em pblico a ex-
presso individual no to individual quanto colectiva, baseia-se mais no
Me do que no I, mais conformista do que inovadora. A expresso no
tanto de sentimentos quanto de manifestaes de sentimentos aceites. Na-
turalmente a mediatizao trouxe luz a parte sentimental e ntima dos indi-
vduos mas isso no signica que eles no tendam a dissimul-la construindo
e agindo em torno de papis simblicos socialmente denidos de acordo com
quadros pblicos de interaco societalmente consensuais.
1.2.8 Uma Publicidade Figurativa
Figuratio tem em Latim o signicado de forma, de congurao e de ima-
ginao. Figurare aponta para conceber, bem como para modelar ou moldar.
Figurar parece ter, assim, o sentido de uma construo conguracional, de
uma operao de dar forma vsivel ou pictrica a uma ideia, de a expressar
sicamente, de a tornar realidade. Por exemplo, gurao signica, luz
da palavra latina gurator, aquilo que representa por meio de uma imagem.
Devemos explorar esta palavra como uma representao fsica que tem na
visibilidade o seu ponto-chave e que se delineia com vista a simbolizar algo.
Resgatando o signicado que o idioma portugus lhe atribui, enunciamos que
gurar fazer gura, isto , aparecer em cena, tomar parte de um conjunto,
ter importncia e aparentar o que no . Vericamos que todas estas acepes
indicam, de uma maneira ou de outra, todos os sentidos de publicidade que
temos vindo a traar neste empreendimento.
Por gurao deve-se compreender a representao que o indivduo faz de
si com vista a investir-se de modo concatenante com a axiologia societal vi-
gente. Figurar implica o empossar da aparncia com uma aura de importncia
e estatuto. Da a frequente expresso fazer gura ou pelo contrrio, fazer
fraca gura. Tal gurao desenvolve-se em cena, isto , na esfera pblica
entendida como palco do mundo, como local onde cada um desempenha
simbolicamente um papel dado de acordo com uma determinada denio de
situao. Esta gurao que o indivduo leva a cabo encontra o seu ponto
de amarrao na ideia de uma interioridade ou intimidade que deve ser pre-
servada da visibilidade pblica por meio de uma mscara, de uma persona
e uma personagem urdida em complacncia intersubjectiva. A gurao ,
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 99
assim, um modo de imaginao porque no sendo inicialmente real, se torna
real pela sua pressuposio, uma imaginao embelezada que o indivduo faz
de si e que oferece habilitao e comprovao dos outros indivduos. En-
quanto gura, ela uma exterioridade, um aspecto, uma aparncia, isto ,
um fenmeno posto perante a percepo e que recolhe uma impresso dos
indivduos. Como tal, a gurao aquilo que dado a conhecer ptica ou
sensorialmente. Este aspecto sensorial incentiva-nos a falar de uma esttica
da gurao, de um sentimento do belo e do harmonioso, conforme o grego
aisthetik (sensvel). Um sentido mais recente, mesmo moderno, do termo
de esttica indica a preocupao em melhorar o aspecto fsico. Novamente
deparamo-nos com uma anidade com a aparncia e o fenmeno. Neste l-
timo sentido, a esttica associvel ideia de gurao, uma vez que ambas
revelam preocupaes com a forma correcta da apresentao de si e com uma
experincia da visualidade.
A publicidade gurativa essa publicidade hodierna onde o indivduo se
d a ver de determinada forma ou aparncia com vista ao engrandecimento
pessoal, boa impresso e incluso de si nas prticas intersubjectivas de
reconhecimento da sua identidade. Trata-se de se dar a ver representando-se
em personagem, isto , gurando-se, e existindo publicamente perante os seus
pares causando-lhe e imprimindo-lhes uma boa reputao acerca de si.
Faamos da dimenso relacional do sentido o nosso ponto de partida. Pela
interaco simblica o indivduo adquire um self no momento em que se iden-
ticar com os outros e se vir a si mesmo a partir da perspectiva que os outros
tm de si, isto , como um objecto de anlise. O sentido do relacionamento
intersubjectivo , assim, negociado e realiza-se de acordo com quadros de in-
teraco (frames) que indicam e constituem as premissas bsicas e orientado-
ras sobre as quais a interaco decorre. Os quadros de sentido so estruturas
cognitivas primrias que guiam os processos de percepo e representao
da realidade. Eles no so objecto de uma construo intencional mas de uma
apropriao inconsciente adoptada no curso da actividade comunicacional. Os
quadros servem como moldura a partir da qual se estabelece o plausvel, ou
dito de outro modo, eles estruturam a interpretao que fazemos da realidade.
Pedindo emprestada a expresso a Gregory Bateson, Erving Goffman dene
os quadros de interaco (frames) da seguinte maneira: Reconheo que
as denies de uma situao so fabricadas de acordo com princpios or-
ganizacionais que governam os eventos pelo menos os sociais e o nosso
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
100 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
envolvimento subjectivo neles. Quadros de interaco a expresso que uti-
lizo para referir esses elementos bsicos de que me disponho a identicar
(. . . ) A anlise dos quadros de interaco (frame analysis) refere o exame
neste termos da organizao da experincia (Goffman, 1986: 10-11). Ns
percebemos a interaco em termos de quadros de sentido que nos permitem
classicar, descrever e compreender imediatamente o signicado das atitudes
comportamentais, ao mesmo tempo que no indica o modo expectvel de agir
e o que devemos esperar da interaco atravs de sistemas de crenas tacita-
mente acordados e tipicados. O conceito de tipicao pretende referenciar
a imerso signicante no mundo atravs da classicao e categorizao da
experincia. A tipicao corporiza frmulas de comportamento para as acti-
vidades, espcie de rotinas e receitas de comportamento que se sedimentamno
indivduo em camadas que escapam consciencializao do indivduo. Nessa
medida, a tipicao uma atitude natural, atitude do senso-comum capaz
de lidar com os usos gerais e habituais que a realidade quotidiana obriga.
Os indivduos decidem, avaliam e actuam segundo quadros de sentido im-
plcitos, sendo estes atributos essenciais para compreender a representao
de si que o indivduo realiza numa publicidade gurativa. Ocorre a um a-
linhamento das aces no qual actuamos da maneira que achamos apropriada
situao. Numa abordagem dramatrgica, a interaco que decorre na es-
fera pblica metaforicamente compreendida como um desempenho (perfor-
mance) efectuado para oferecer aos outros impresses acerca do indivduo
coadunantes com os objectivos propostos e com o quadro de interaco em
que se integra. Assim, o indivduo reveste-se de uma personagem, uma identi-
dade social, se quisermos um Me com funo interaccional com os seus pa-
res. Na publicidade gurativa, a esfera pblica utilizada como forma de es-
tabelecimento de uma identidade social em que o actor, sozinho ou em equipa,
administra as impresses que o quadro de interaco impe tacitamente, con-
trolando os uxos comunicacionais para que essa denio interaccional no
sofra uma ruptura. Por isso a identidade proveniente da gurao de si que o
indivduo apresenta insere-se numa representao colectiva de papis sociais
e deve conformar-se com a aparncia, gestos e contextos subentendidos na in-
teraco. O que no invalida que esta interaco sofra processos de inovao,
actualizao e criao numa permanente redenio dos quadros de interaco
(reframing). No entanto, essa reinveno dos quadros de interaco, por muito
frequente que seja, aponta sempre para um conjunto de elementos rgidos que
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 101
formam a estrutura sobre a qual inteligvel o quadro de interaco. Conse-
quentemente, qualquer quadro de interaco, por efmero e permissivo que
seja, envolve uma coleco de preceitos que incentivam a adopo de prticas
concordantes com ele. Ainda que a redenio dos quadros de interaco no
se salde por um processo homeoesttico, ele contempla, em cada momento,
um grau signicativo de correspondncia com as normas de interaco impl-
citas. Desse modo, existe, por parte do indivduo, uma dose de conformismo
e de acolhimento dos pressupostos sociais do quadro de interaco.
O indivduo desempenha uma gurao da sua identidade, de um Me
que seja aceite pela sociedade, que no seja um desvio e que no quebre
as suas denies de interaco. Trata-se de uma idealizao da sua identi-
dade que deve permanecer visvel. Tudo o resto que desminta, desmistique
a legitimidade e a pretenso encenada e gurada por essa representao p-
blica do indivduo, ou ainda, tudo aquilo que seja socialmente sancionado,
deve restringir-se s regies inacessveis aos olhares da audincia, regio
dos bastidores (Goffman, 1993: 135). Pela sua visibilidade, o indivduo sente
uma enorme presso ao conformismo e a desempenhar o papel socialmente
expectvel de forma a no deitar por terra a sua credibilidade. Assim, na -
gurao pblica existe uma forte presso a uma conduta idealizada que faa
do indivduo algum susceptvel de no perder a sua face. O termo face
rene os atributos socialmente aprovados e partilhados, um valor positivo que
a pessoa reclama para si. Perder a face (to lose face) signica desacreditar-
se, privar-se da credibilidade da boa opinio e do prestgio. Ela designa a
parte social da nossa identidade, a gurao que entregamos sociedade com
vista a proteger as nossas relaes sociais de atritos e disfunes que impe-
am o normal intercmbio comunicativo. Salvar a face (to save face) , pois,
o acautelar das aparncias j que so estas o carto de visita e o agilizador da
interaco.
Quando o sujeito se encontra perante os outros projecta simbolicamente,
consciente ou inconscientemente, uma certa concepo de si, isto , gura-
se. O aspecto expressivo da vida social tem origem nas impresses dadas e
recebidas pelos outros, impresses essas tratadas com deferncia como fon-
tes de informao principais acerca dos indivduos e que concorrem para a
denio da situao interactiva. A expresso e a sua gurao so concebi-
das mediante o seu papel comunicacional como indcios, pistas ou deixas que
permitem prever como se desenrolar o encontro. A dimenso fenomnica
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
102 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
da publicidade e da interaco reside exactamente no facto da realidade ser
inapreensvel na sua totalidade, obrigando o indivduo a conar nas aparn-
cias. Neste momento emerge o carcter moral de uma publicidade gurativa
na medida em que a aparncia simboliza uma outra coisa, remete para um
signicado que o indivduo demonstra possuir comprometendo-o a ser aquilo
que insinua e que simboliza ser. O indivduo tende a tratar os outros presen-
tes segundo a impresso que, no momento actual, eles veiculam em relao
ao passado e ao futuro. aqui que os actos de comunicao se traduzem em
actos morais. As impresses fornecidas pelos outros tendem a ser considera-
das pretenses e promessas implcitas, e as pretenses e promessas tm um
carcter moral (Goffman, 1993: 291). Enquanto actor, o sujeito um comer-
ciante de moralidade. O princpio de cooperao conversacional que Paul
Grice formulou do seguinte modo, que a vossa contribuio para a conversa,
no momento em que intervm, esteja conforme com o m e a direco aceite
do intercmbio verbal no qual esto comprometidos (Grice, 1975: 54), po-
deria, nesse sentido, ser generalizado e aplicado interaco dramatrgica e
gurativa. O lsofo da linguagem ingls enunciou nove mximas de coope-
rao encadeadas em quatro critrios que descrevem as suposies que esto
envolvidas num acto verbal. Assim, as mximas da quantidade, da qualidade,
da relao e de modo implcitam respectivamente que num dado intercmbio
informacional a contribuio seja to informativa quanto o necessrio, no se
diga aquilo que se pense ser falso, que a contribuio seja relevante e que
evite expressar-se de maneira confusa ou ambgua. Este princpio cooperaci-
onal funciona como a referncia interactiva maior e preside esfera pblica
como gurao na medida em que so as aparncias e as inferncias que faze-
mos a partir delas que sinalizam os parmetros segundo os quais se desenrola
a comunicao.
Na publicidade gurativa (e na nossa sociedade) a personagem desempe-
nhada e o eu so postos como equivalentes, sendo este eu uma perso-
nalidade que habita no interior do indivduo e que forma o n-grdio de uma
psicobiologia da personalidade (Goffman, 1993: 294). Essa personagem
dene um papel social, um conjunto de direitos e deveres ligados a uma dada
categoria que conguram mltiplos papis de rotina, modelos de aco de
antemo estabelecidos susceptveis de serem continuamente re-encenados em
diferentes ocasies. Em cada conjunto de papis sociais esto comprimidas
guias gerais de conduta que devem ser respeitadas. A classe, a raa e a idade
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 103
so estruturas mediadoras estruturantes desses papis. O empregado-de-mesa
representa o papel de empregado de mesa, move-se como tal, veste-se como
tal, tem os acessrios habituais de um empregado-de-mesa. E atravs da gu-
rao da sua prpria condio ele compreende-se a si prprio e ao seu lugar
no meio dos outros sujeitos.
O que visamos armar que o desempenho da publicidade gurativa co-
loca emcena os valores ociais da sociedade. Por esse facto, pode ser conside-
rado uma cerimnia, como um rejuvenescimento e rearmao expressivos
dos valores morais da comunidade. Alm disso, na medida em que a tendn-
cia expressiva dos desempenhos seja admitida como realidade, ento, aquilo
que nesse momento admitido como realidade assumir algumas das carac-
tersticas de uma celebrao. Ficar no quarto longe do lugar onde dada a
festa, ou longe do lugar onde o prossional atende o cliente, car longe do
lugar onde a realidade est a ser desempenhada. A verdade que o mundo
uma reunio (Goffman, 1993: 50). Compreende-se, assim, que a publicidade
rene as identidades, junta os indivduos, intensica a partilha (e a celebrao)
da mesma denio de realidade, pois esta o produto da negociao social
empreendida pelo conjunto dos indivduos no momento em que interagem na
esfera pblica.
A indstria da cultura (e do consumo), no esgotando as possibilidades do
processo cultural, assume, a este nvel um papel incontornvel, exercitando
este desejo de estar junto, e organizando eventos a que as pessoas aderem
no pelo que l (supostamente) oferecido mas pela oportunidade de as pes-
soas conviverem, abandonarem a privacidade, se darem ao contacto e virem
ao mundo. Por isso a importncia que para alguns existe em aparecer na te-
leviso, que mais no do que uma forma de se publicitar, de protagonizar a
existncia (visvel) da sua personalidade.
Na publicidade gurativa a encenao dramtica que o indivduo empre-
ende torna-se efectiva pela sua apresentao social na esfera pblica. O que
se apresenta o que passa a ser. Glosando o chamado teorema de Thomas,
o que percebido como real tem consequncias reais.
razovel levantar uma justssima objeco. Se levarmos em linha de
conta sociedades intimistas psico-mrcas com o implcito sucedneo de uma
diminuio do papel social da esfera pblica, como pode ser legtimo vir neste
momento advogar uma publicidade contempornea gurativa? Como se pode
falar em esfera pblica se o indivduo se privatiza, se recolhe e dissimula a sua
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
104 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
personalidade idiossincrtica por detrs de smbolos que a indstria cultural
tende a facultar padronizadamente?
Cremos que plausvel meditar sobre uma publicidade gurativa, no
obstante a indesmentvel preponderncia da intimidade e de uma certa faln-
cia crtica da esfera pblica na sua capacidade agregadora. Isto com uma
condio. Com a condio de juntamente com a intimidade avaliarmos a
alter-regulao que as sociedades demonstram. Se pensarmos que o indiv-
duo, apesar de constituir uma unidade basilar a partir da qual se interpreta o
mundo, recolhe na alteridade dos seus pares o nctar de que precisa para se
realizar na sua identidade, compreendemos com nitidez o quanto a gurao
de si numa esfera pblica cumpre funes fundamentais. A publicidade -
gurativa mitiga o radicalismo da tese da queda do homem pblico (Sennett,
1974) conciliando a sociedade intimista e a sociedade alter-regulada. Ela o
palco onde o indivduo acede ao contacto, ainda que eventualmente efmero e
supercial, com outras subjectividades e se v reconhecido na sua identidade,
se v integrado na sociedade, a arena onde equilibra o exerccio reexivo de
si com o exerccio projectivo de si com os outros. Solitariamente de nada vale
uma psyche. A intimidade sem o contrapeso da publicidade desprovida de
valor. A gurao que o indivduo cumpre publicamente a ponte entre si e
a alteridade, entre a valorizao do self e a raticao social, entre um I e a
imprescindvel solidariedade societal que o Me oferece.
Podemos concordar com Richard Sennett quanto a uma certa cessao de
ordenao da sociedade por parte da esfera pblica e a uma incapacidade do
indivduo ultrapassar os muros da esfera privada (1974: 259). Mas tal no
nos faz concordar com uma hipottica anulao moderna da publicidade. A
esfera pblica hodierna no se remata na sua dimenso demonstrativa. Indo
no sentido contrrio ao da corrente na qual Sennett navegava, a intimidade
agura-se-nos como um factor potenciador de publicidade, do ponto de vista
individual e colectivo. na ausncia da alteridade que o sujeito sente e com-
preende o lugar do outro em si mesmo. s quando as lacunas assomam
conscincia que se sente necessidade de as colmatar, no momento em que as
distncias se instituem que o indivduo tende a desfaz-las, a aproximar-se do
contacto intersubjectivo, do aparecer e do existir, dois estgios dialcticos que
empurram o homem para a esfera pblica. Se esta entrou em derrocada e runa
foi apenas para se transmutar num outro modelo. Se o homem pblico caiu foi
para imediatamente se erguer, levantar o queixo e prosseguir na sua demanda
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 105
de aprovao da sua identidade pelo colectivo societal. A queda teve o ntido
desgnio de demonstrar ao homem pblico como o terreno em que se move
incerto e inseguro, e possuiu o til intento de o fazer perceber a urgncia
de aplanar e arrotear o domnio da plasticidade do self, de uma opticizao
da identidade, de uma congurao repartida de si, em suma, de surribar a
guratividade da esfera pblica.
A gurao na esfera pblica no se realiza espontaneamente na mo-
dernidade tardia. Foi s quando os dispositivos tecnolgicos da imagem in-
vadiram a comunicao destruindo a sinestesia at a existente que foi pos-
svel fazer da gurao uma dimenso integrante e integral da publicidade.
Ainda assim a publicidade gurativa no o sucedneo somente da tecnolo-
gia ptica. Tambm a corroso da publicidade do sc XIX e o princpio de
psico-morfologizao da sociedade concorreram nesta direco.
Visibilidade, aparncia, panopticismo, fenmenos, smbolos e appresen-
tao so conceitos basilares que coadjuvam a interpretao gurativa da pu-
blicidade. A guratividade compromete um certo tipo de representatividade
da esfera pblica. O seu parentesco com a problemtica da imagem desloca-
a na sua signicao embora contenha a forma geral do sentido atribudo na
feudalidade com a publicidade representativa. A representao contida na
guratividade da esfera pblica de carcter marcadamente cnico e drama-
trgico e identica-se na administrao das impresses. Essa dimenso do
gural erige-se, no na presenticao (presentare) mas numa outra presen-
ticao, numa re-presentao. Munindo-nos da etimologia, a representao
(repraesentare) fazer reviver, tornar presente ou, especialmente pertinente,
colocar diante dos olhos, modalidade imagtica que retrata uma realidade.
A representatividade da gurao da esfera pblica aproxima-se de uma
exposio de uma imagem mental de percepo interior, reproduo de algo
no-vsivel e no-presente. A representao liga-se ausncia da coisa mas
esta compensada pela intensidade da imagem (seja verbal, plstica ou men-
tal) que duplica a gura. Como indica a palavra alem Vorstellung, a re-
presentao coloca diante, presentica a ausncia, torna actual e simultnea a
apario. Em Les Mots et Les Choses, Foucault mostrou como, ao contrrio
do Renascimento, a epistme da Idade Clssica j no possua uma ligao en-
tre a linguagem e as coisas; a linguagem torna-se instrumento do pensamento,
representando-o.
Imagem e representao percorrem o mesmo caminho com a mesma n-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
106 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
fase na visibilidade. O conceito de imagem est associado aos de reproduo,
mimesis, analogia ou cone, todos eles expressando uma conexo necessria
entre a imagem, a realidade e a representao que ela alegadamente reecte.
Porm, esta representao um sistema de signicao que no se limita a
descrever a realidade distncia. Pelo contrrio, a representao tenta colar
ao real confundindo-se com ele e com os indivduos.
Um outro aspecto da dimenso representacional da gurao a estreita
correlao ao olhar e ao regime estereoscpico. Nua ou protsica, a viso
esquadrinha, inquire e esmia, percepciona aparncias pelo que o que ela
devolve ao indivduo cicerone somente a representao. , no entanto, na
representao que o visvel se torna dizvel e o olhar entra no domnio da
signicao.
A representao implicada na gurao uma re-apresentao parcelar.
O esteretipo parece ser uma forma de representao na medida em que se
representa por intermdio de processos de condensao, simplicao, ge-
neralizao e homogeneizao; isto , tal como a representao, o esteretipo
no uma disjuno mas uma refraco, uma reduo da complexidade do
outro a uma identicao rpida, econmica e ecaz. Ele sinnimo de um
atalho na compreenso conceptual que fazemos da complexidade do mundo.
Na gurao o indivduo representa-se, no na sua idiossincrasia, nuance ou
subtileza mas na sua normalidade, naquilo que no o distingue porque exac-
tamente o que est em jogo a aprovao social. O esteretipo esse estigma
positivo que marca o indivduo atribuindo-lhe uma pertena. Ele caracteriza
algum simplesmente como aquilo que ns, agentes sociais, esperamos que
seja (Lippman, 2004: 57).
Cabe aqui uma sucinta divagao acerca da estigmatizao, a qual dis-
corremos como um corolrio da gurao pblica do indivduo. Os Helni-
cos, enfatizando a visualidade da vida social, utilizavam a palavra stigmata
para designar as marcas fsicas, corpreas, destinadas a exibir aquilo que o
estatuto moral do indivduo continha de desagradvel, inabitual ou margi-
nalizador. Eram marcas gravadas na carne anunciando a todos a perfdia e
a vileza de um indivduo fulminado de infmia, ritualmente impuro, que se
convinha evitar. Durante o cristianismo, o sentido de stigmata transferiu-se
do indivduo relegado e delinquente para as prprias marcas que o assina-
lavam: substantivando-se a palavra, passou-se a falar em estigmas como a
inscrio divina no corpo. Os estigmas so, assim, procedimentos que as
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 107
sociedades humanas criaram para repartir categorialmente os vrios grupos
sociais, dividindo-os pelos seus atributos e congelando a contingncia da sua
interveno atravs de uma sinalizao universal que rapidamente os identi-
ca, ao mesmo tempo que faz intervir as formas de sociabilidade respectivas.
Podemos discernir duas direces antagnicas da valorizao societal do
estigma. Ele pode signicar uma desqualicao e um descrdito, um obs-
tculo ao indivduo ser plenamente aceite porque constitui-se como desvio
(Goffman, 1975: 13); a sua conotao negativa. Ou pode inserir-se numa
classe especca dos smbolos que, tal como na conotao negativa, mapeiam
os indivduos discriminando-os mas de uma forma valorizada; uma discri-
minao armativa, uma estigmatizao positiva. A sociedade assinala os
seus heris picos da mesma forma como estigmatiza os injuriosos, todavia,
essa estigmatizao uma distino, um louvor, uma homenagem que separa
os prosaicos e os triviais dos gloriosos. A coroa de louros dos gregos ou a t-
nica prpura dos cnsules romanos so marcas imemoriais de estigmatizao
armativa.
Quando discorramos acerca do corpo como manequim, no sc. XIX,
mencionvamos um tipo de estigma, isto , de marca que a sociedade faz rei-
nar como modelo uniforme de sociabilidade e identicao rpida dos seus
membros. Actualmente a indumentria perdeu muito do seu vigor estigmati-
zante porque sendo serializada, e podendo grande parte da populao adquiri-
la, as classes sociais j no so completamente reconhecveis pela roupa que
usam mas pelas actividades de recreao de que desfrutam. O que no equi-
vale a dizer que a indumentria no desempenhe um papel crucial nos proces-
sos de gurao.
Em sociedades alter-reguladas em que o self se constitui na interseco
com a alteridade mas onde, simultaneamente, se devota intimidade, a pu-
blicidade gurativa oferece ao indivduo a oportunidade nica de atestar a sua
identidade. A gurao a empreendida crucial para a sua aceitao ou os-
tracizao, isto , para a sua estigmatizao positiva ou negativa. Na gurao
pblica joga-se a aprovao da sociedade e a validao do self, procuram-se
respostas e reaces que reforcem o comportamento apresentado pelo indi-
vduo. A esfera pblica funciona ao nvel singular do sujeito como lugar de
estigmatizao: ou corresponde, pelo conformismo, aos papis de antemo
denidos pelo quadro de interaco e logra uma estigmatizao positiva que
o integra no seio mais profundo da sociedade podendo a alcanar a mxima
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
108 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
distino; ou o indivduo falha em aceder denio de situao requerida,
causando um incidente e chumbando no teste de integrao sendo estig-
matizado negativamente. O encaixar-se a regra primeira da interaco
simblica e de uma publicidade como gurao. A ordem social, os padres
de comportamento, as expectativas de uma boa atitude geram uma presso
na direco da conformidade que deriva de duas causas principais: o desejo
de intimidade e de um espao privativo onde o desempenho da personagem
possa ser interrompido (que so as frias seno o perodo de intermitncia que
a sociedade permite para nos desligarmos do nosso desempenho dramatr-
gico e guracional habitual?); e, em segundo lugar, de uma necessidade de
preservar as alegaes implicadas na nossa aparncia.
Na publicidade contempornea, onde as aparncias e a representao de si
dominam, tudo uma questo do indivduo se revestir com os smbolos apro-
priados e convencionados. Em situaes de gurao em que os indivduos
inferem qualidades, caracteres e identidades pela apresentao que recebem
atravs da sua percepo e sensibilidade de acordo com quadros de sentido
estabilizados, a circulao e passagem entre uma identidade social virtual
e uma identidade social real recorrente. Os signos e os smbolos, atravs
dos quais o indivduo reclama possuir um dado carcter, aquilo que os outros
observam e que constitui a matria-prima das inferncias acerca da sua identi-
dade, isto , a identidade social virtual, no deve apresentar discrepncias com
a identidade social real como vimos, aqui reside a dimenso moral da gu-
rao. O actor social debate-se com percepes que anseiam interpretaes.
Procura informao nos restantes actores em especial dados socioeconmicos
que permitam perceber o que dele esperar. A estigmatizao operada na so-
ciedade, especialmente na esfera pblica, esboroa, desmancha, faz colapsar o
espao entre o virtual imputado e o real conrmado impossibilitando a normal
interposio dessas duas identidades. Em consequncia a recta aceitao so-
cial do indivduo que se faz perigar.
O que caracteriza a dimenso estigmatizada do indivduo a sua aprova-
o pelo todo social. Acontece que aqueles que se lhe relacionam fracassam
em lhe reconhecer o respeito e a considerao que os aspectos no contamina-
dos da sua identidade social lhe garantem; e faz-se eco a esta recusa admitindo
que certos dos seus atributos o justicam (Goffman, 1975: 19). Ora na publi-
cidade o mtodo encontrado para lidar com esta situao passa pelo controlo
da informao, como to prontamente as Relaes Pblicas o exercem. As
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 109
regies goffmanianas da fachada e dos bastidores (Goffman, 1993: 129-167)
so perfeitas metforas da esfera pblica e da esfera privada, do salvar e do
perder as aparncias, de dispor dos regimes I e Me do self. Porm, a
dicotomia entre exibir e no-mostrar, dizer e omitir encontra-se em risco de
extino com a mediatizao. A esfera pblica chega fundura da intimidade
resgatando-a para a superfcie dos olhares, assim como a intimidade ultra-
passa a importncia dos assuntos pblicos. A gesto da informao societal
que decorre ao longo de suposies torna-se agora mais ampla e mbil. Por
informao social entende-se a informao emitida intencionalmente por uma
pessoa susceptvel de ser conrmada ou desmentida pela expresso corporal
ou por contradies informacionais posteriores. Trs tipos de smbolos de in-
formao social esto envolvidos (Goffman, 1975: 58-64). Os smbolos de
estatuto e prestgio reivindicando uma honra e distino so os menos fre-
quentes ainda que a indstria do consumo os vulgarize. A aquisio de bens
e servios hoje uma forma predilecta de simbolizar-se prestgio, como por
exemplo os cartes de crdito gold, os automveis de elevada cilindrada e
dispendiosos, as viagens de grande custo a supostos parasos exticos, et ca-
etera. Existem depois os smbolos de estigmatizao que atraem a ateno
sobre defeitos vergonhosos da identidade e que destroem a coerncia da re-
clamao de uma identidade, como por exemplo o caso de um indivduo que
se anuncia rico mas que se faz transportar por um veculo obsoleto. O terceiro
tipo de smbolos de informao social engloba os desidenticadores, aque-
les mais frequentes e estreitamente ligados aos de prestgio. So os smbolos
que atestam a normalidade estatstica do indivduo fazendo-o parecer-se com
toda a gente. Eles relacionam-se com os smbolos de prestgio na medida em
que muitos desses smbolos engrandecedores se difundem pelo tecido social
medida que a massa pretende distinguir-se. Porm, essa convergncia para
um bem ou servio apenas torna o indivduo portador de um smbolo de desi-
denticao porque todos os outros indivduos so detentores, igualmente, do
inicialmente smbolo de prestgio.
A visibilidade , portanto, um factor crucial da gurao pblica identi-
cando as alegaes individuais, conrmando ou desmentindo os smbolos de
informao social. A perceptibilidade aqui cardinal. O sujeito aquele que
mostra ser algo, apresenta uma idealizao de si, reclama uma identidade
alteridade, no fundo, sociedade. S na sua dimenso relacional o indivduo
existe e s manipulando simbolicamente a sua interaco ele reconhecido
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
110 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
pelos seus pares. O self do sujeito uma frmula mutante, transguracio-
nal que encontra nos outros a sua nascente e que est dependente da forma
como se lhes apresenta publicamente. Ele a representao de uma perso-
nagem, um efeito dramtico produzido colectivamente. O indivduo possui
tantas personagens quanto a disparidade de crculos sociais em que participa,
sendo o trabalhador, o cliente, o espectador, o amigo, o patro, o conhecido,
por a fora. esta dimenso plstica de uma mscara que preenche os espaos
soltos do self.
O indivduo uma relao de consigo mesmo com si mesmo e de consigo
mesmo com os outros. no produto desta equao, no cruzamento da perso-
nalidade e da alteridade, daquilo que era privado e se torna pblico e do que
era pblico e retornou ao privado que podemos entend-lo. como se pela re-
lao aos outros o indivduo se relacionasse simultaneamente consigo mesmo.
Recordemos a famosa denio de Sren Kierkegaard no Sygdommen til d-
den. En christelig psychologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvkkelse (A
doena para a morte: uma exposio psicolgica crist para edicar e aler-
tar), de 1849 (embora numa reexo no mbito da losoa da religio): O
self a relao que se relaciona a si consigo mesma. Queremos ns assertar
que o self uma relao com os outros de que resulta um si; e que esse si
regressa ao self para de novo partir relacionalmente.
Eplogo
Como derradeira considerao, e a ttulo de resenha ou de exposio sinptica,
sublinhamos dois princpios que subjazem a toda a argumentao acerca da
preponderncia de uma esttica da gurao da esfera pblica contempornea.
Sugerimos que a esfera pblica cumpre uma tarefa anloga a duas das seis
funes da comunicao identicadas por Roman Jakobson: a funo conativa
e a funo ftica
18
.
18
A nossa proposta inspira-se no antroplogo Bronislaw Malinowski que tendo passado lar-
gas temporadas na Menalsia escreveu, em 1923, um artigo intitulado The Problem of Me-
aning in Primitive Languages onde conclui que a linguagem utilizada para desempenhar
funes sociais. Dito de outro modo, as relaes sociais e a interaco esto anexadas s
expresses lingusticas. Em consequncia, ns procuramos estabelecer um paralelo entre a so-
ciologia e a lingustica, entre uma funo da linguagem e uma funo da sociedade, ou mais
exactamente, de uma sua estrutura: a esfera pblica.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 111
Tal como a funo conativa, a publicidade gurativa dirigida alteri-
dade, a interpretantes da aco simblica individual, atraindo-os para si, insi-
nuando-lhes a visibilidade fenomnica da sua existncia. A gurao da es-
fera pblica um tipo social de vocativo, uma convocatria ou chamamento,
uma invocao e um despertar da percepo alheia sobre a sua personagem
pblica, aquela construda com o explcito m de ser vista e admitida na es-
fera pblica. Conatividade da esfera pblica mediatizada assente na perfoma-
tividade, isto , no desempenho perlocutrio do indivduo e no efeito obtido
na audincia que lhe assiste. Ela pretende inigir uma impresso e sensao
naqueles que recepcionam a sua mensagem gurativa bem como o despole-
tar de uma atitude am. O sujeito torna-se volio, a sua inteno erige-se no
emprego consonante da sua conscincia com a conscincia do outro. As estru-
turas de conscincia so experienciadas na primeira pessoa e caracterizam-se
pela sua intencionalidade, por se dirigirem a um objecto em virtude do seu
sentido. A construo proposicional articula a forma bsica da intencionali-
dade da experincia: sujeito, aco, contedo e objecto.
A funo conativa nomeia, assim, a interpelao da alteridade. Porm, ela
deve ser associada funo ftica, a principal funo que atribumos publi-
cidade gurativa hodierna. o carcter ftico que garante as condies para
um livre-trnsito comunicacional e que deixa os canais de sociabilidade em
aberto com o m de providenciar a possibilidade de intercmbio simblico
de toda a sociedade. Ao manter um elo de conexo entre os elementos da
sociedade, est a entrever que os laos de coeso e de solidariedade possam
passar de eventuais a efectivos. Assim, a publicidade contempornea gura-
tiva cumpre a tarefa ftica ao no permitir o encerramento da comunicao.
Mostrando-se, encenando-se, ao indivduo consentida a sua integrao na
sociedade, ele recebe a aquiescncia social da sua identidade pelo contacto
constante a que se faz submeter. O contacto processa-se em termos simb-
licos, no apenas discursivamente mas gurativamente e dramaturgicamente
onde a conectividade da ulterior interaco se baseia na estereoscopia, no pa-
nopticismo, na percepo visual de uma aparncia. Trata-se de um contacto
fugaz mas duradouro porque a ele ningum pode escapar. Mau grado a sua
precariedade em termos de contraditrio crtico-racional, esse contacto da ob-
servao mtua mais frequente e universal possibilitando a mais tnue mas
tambm a mais primria e abrangente forma de integrao social. Ao protela-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
112 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
mento do debate antecede a amplitude do contacto visual e com ele a rpida e
imediata assimilao do indivduo no seu grupo.
A funo ftica aplicada aos domnios da esfera pblica revoluciona-se
num gnero de comunho. Em 1923, no artigo The Problem of Meaning in
Primitive Languages, Bronislaw Malinowski apelida de comunho ftica
(fatic communion) uma funo da linguagem utilizada para perpetuar um sen-
tido de pertena comunidade, de um sentido de solidariedade que permita a
reciprocidade entre a admisso dos outros e a admisso de ns pelos outros.
Tal est na origem de uma engendrao colectiva de uma actividade comum
onde o indivduo participa (e participado) na criao e rememorao de si-
tuaes e contextos sociais. Assim, a funo ftica um instrumento de que
as sociedades dispem para dinamicamente fazerem cooperar todos os seus
elementos de forma a evitar cesuras no tecido conjuntivo da estrutura social.
Ela reinventa umestatuto revolutivo para a comunicao, preocupada tanto em
tornar comum, como em manter as vias de reciprocidade e de sociabilidade
operantes.
A faticidade desenrola-se numa copiosidade de frmulas e dilogos ritua-
lizados com o mero propsito de prolongar a comunicao. O espao pblico
muitas vezes empregado de forma ftica cumprindo essa tarefa da publici-
dade. As sadas domingueiras e rotineiras do domiclio na direco dos par-
ques e jardins, inclusivamente na deambulao dos centros comerciais, tem
contornos gurativos mas tambm fticos na medida em que conrma a dis-
ponibilidade e a necessidade que o indivduo sente em contactar, ver, observar
os seus pares mesmo que sob um pretexto, mesmo que de forma supercial,
disfarada ou encoberta. No contexto dessa gurao ftica, entende-se por
inteiro o costume antigo de usar a melhor indumentria ao domingo: no s
por ser um dia de celebrao religiosa, como tambm por ser o dia dedicado
gurao do indivduo, representao honrosa da sua condio perante
os outros indivduos, tambm eles ocupando-se ociosamente dessa actividade
pblica. No fortuito que esse seja o dia em que mais gente faz uso do es-
pao pblico. Com esta atitude, os indivduos manifestam sub-repticiamente
pelo no-dito que esto disponveis interaco e ao reconhecimento de si.
Uma palavra de precauo quanto funo ftica. Esta no imune a
crticas. De facto, como escreveu Jean Baudrillard em De la Seduction, a
comunicao ftica nsitamente disfuncional. Ao manter o contacto e os
canais de comunicao abertos ela arrisca a comunicao genuna. Todavia,
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 113
sem ela a comunicao franca e genuna no teria lugar para existir. O risco
mais remunerador do que a sua abolio. Isto demonstra como por vezes a
riqueza est para l da certeza absoluta e do seguro. Orisco que a funo ftica
traz em adenda no justica que dispensemos esta contribuio conceptual
para pensar a guratividade da publicidade empreendida pelo indivduo.
Na transio da esfera pblica, a indstria cultural incentivou o indivduo
a alcanar a visibilidade e a procurar o olhar da alteridade. Em concomitn-
cia com o tipo guracional de esfera pblica, a actividade de consumo dever
submeter-se a uma avaliao a partir dos valores dramtico-expressivos. Por
este motivo, urge reectir, na parte II da dissertao, sobre o consumo como
corolrio da transmutao da esfera pblica sobrevinda no Sc. XIX que cul-
mina na contemporaneidade. O consumo ir fornecer os recursos sgnicos e
simblicos que permitiro ao indivduo munir-se de instrumentos de indivi-
duao e gurabilidade de si no seio da publicidade. Ele interpretado como
prtica simblica que corresponde s demandas societais da esfera pblica
entendida segundo a sua dimenso de esttica da gurao.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 2
Para uma Interpretao
Socio-Antropolgica do
Consumo
The horseman serves the horse,
The neat-herd serves the neat,
The merchant serves the
The eater serves his meat;
Tis the day of the chattel,
Web to weave, and corn to grind,
Things are in the saddle,
And ride mankind.
Emerson, Ode inscribed to W. H. Channing, 1899
Each man has an enormous number of articles passing through his
hands during his life time, of which he enjoys a temporary possession,
and which he keeps in trust for a time. This possession hardly ever
makes him use the articles, and he remains under the obligation soon
again to hand them on to one of his partners (. . . ) And all this forms
one of the favourite subjects of tribal conversation and gossip, in which
the feats and the glory in Kula of chiefs are constantly discussed and
re-discussed.
(Malinowski, 2002: 94)
115
i
i
i
i
i
i
i
i
116 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
Prembulo
Sociedade de Consumo. A expresso categrica e, na sua refulgncia, pa-
rece no dar azo a hesitaes na sua interpretao. Vivemos numa sociedade
em que tudo se consome: produtos, bens, ideias, conceitos, estilos de vida,
relaes sociais. Eis o principal modo contemporneo de experienciar a soci-
edade.
O consumismo, e a ele arrolado o consumerismo (isto , a aco social das
instituies e grupos sociais que procuram defender os valores legtimos do
consumidor, protegendo o seu sistema de valores atravs do protagonismo
cvico e poltico) so dois dos atributos das sociedades ocidentais da mo-
dernidade tardia que conrmam a incontornabilidade que a sociedade de con-
sumo adquiriu no programa temtico das cincias humanas. Ele incentiva a
aquisio reiterada de bens e servios como forma de sustentao do aparelho
produtivo, pilar indissocivel do capitalismo e do concatenante crescimento
econmico. Marechal da poltica econmica neoliberal, o consumo torna-se
vigente fazendo da comunicao tcnica societal a sua guarda avanada.
O fenmeno hegemnico do consumo fruto das transformaes da or-
dem social moderna que resultam da conuncia histrica de vrios factores
tais como o desenvolvimento do comrcio e da cidade, bem como o da indus-
trializao que fomentar um conjunto de tcnicas de produtividade que esto
na origem da abundncia de bens e produtos. Entre elas, destacam-se a parce-
larizao e a diviso das tarefas, a separao hierrquica do trabalho, a fabri-
cao serial e estandardizada, ou o escoamento dos stocks. A industrializao
assume-se como uma das facetas da racionalizao e do desencantamento do
mundo de que falava Max Weber no qual a superstio, a espontaneidade e a
originalidade empalideceram face ecincia, prognostibilidade e renta-
bilidade.
O aumento do poder de compra associado exponenciao da classe m-
dia releva o assunto do lazer, que renuncia ao carcter de cio e liberdade para
se tornar uma verdadeira aco de consumo onde a necessidade, e no a liber-
dade, o dene. O lazer j no se forma na utilizao livre do tempo mas na
sua circunscrio, no imperativo de espartilhar o dia de modo a realizarem-se
as mais variadas actividades recreativas. A ideologia do lazer funcional criada
pela sociedade de consumo justica-se na sua reivindicao compensatria
(lazer como compensao ao trabalho) e utilitria (lazer como recuperao
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 117
teraputica da capacidade de trabalho). Assim, o lazer conrma-se como tra-
balho, alis, tal como o consumo, qual actividade prometeica que absorve o
princpio de desempenho em todas as actividades do homem.
Relacionada com a ascenso do lazer e das classes mdias, aparece a im-
presso de participao do indivduo no processo de fabrico atravs do incen-
tivo escolha e personalizao dos objetos que se revelam, tambm, como
caractersticas basilares na consolidao das prticas de consumo. De facto, a
inovao e a criatividade constantes suscitam a actualizao da compra, onde
o indito, o novo, o transformado e o reformulado assediam a curiosidade e
seduzem o oramento individual. Motor do consumo e sustento do ciclo de
renovao da produo, este lonesmo estimula a diferenciao, a opulncia
e a demonstrao de poder de compra e de capacidade aquisitiva. A sociedade
assenta, desse modo, num fundamental duoplio de princpios: a liberdade le-
gislativa da hiper-escolha e a liberdade executiva da normalizao social ine-
rente massicao da cultura. Ambos os princpios provocam uma hipers-
tesia generalizada, uma metamorfose da natureza dos objectos e das relaes
humanas. Quando tudo constitui uma opo, tudo transitrio e tudo culmina
na epifania do efmero, da volutibilidade que impede a slida sedimentao
das subjectividades. O culto da neonatalidade, esse carcter sagrado do novo,
daquilo que vem continuadamente ao mercado constitui, pois, um vector pivot
do fenmeno do consumo.
Por seu turno, serializao provocada por uma economia de escala cor-
responde uma abundncia de produtos e mercadorias que est na origem de
uma certa banalizao do objecto. A desmultiplicao dos objectos conrma
a perda de uma certa sacralidade aurtica e de uma autoridade que o objecto
ainda detinha quando ainda era possvel identicar o original e as suas c-
pias. A reproduo objectual e as suas innitas variaes e verses em termos
de forma, cor, tamanho ou funcionalidade conduzem a um apobrecimento na
medida em que a sua profuso os esvazia de importncia e de signicado. O
objecto difunde-se formando um xodo dirigido a todas as dimenses da vida
individual e colectiva, ao ponto de quase poder armar-se que no existe vida
social sem a existncia concomitante de objectos. Estes no s conguram a
relao do homem ao mundo, como delimitam a sua experincia. Com efeito,
na sociedade de consumo, o objecto extravasa todas as fronteiras e instala-
se pletoricamente em todas as actividades humanas. Tal ubiquidade implica
uma progressiva perda da resistncia e da opacidade do objecto em relao ao
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
118 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
homem. Ambos se nutrem numa simbiose que introduz uma mutao funda-
mental na ecologia humana. O indivduo faz-se rodear, no tanto por pessoas
mas por objectos, sobretudo objectos tcnicos que se substituem, na sua me-
diao e mediatizao, s relaes intersubjectivas. Por exemplo, ao contrrio
do indivduo marcar um encontro, ele interage com o objecto tcnico infor-
mtico que o computador, conversando distncia por vdeo-conferncia.
Tal como uma rvore se curva na sua verticalidade por fora dos ventos que
constituem o seu ambiente, tambm os indivduos paulatinamente se moldam
objectualidade seguindo a sua direco e ritmo. A panplia de objectos
emergentes com a industrializao, que conquistou o homem na sociedade de
consumo, no forma uma ora nem uma fauna mas no deixa, no entanto, de
contribuir para o ambiente proliferante, mesmo luxuriante, de que o homem se
foi revestindo e fez revestir o seu mundo simblico. Vivemos entre objectos,
por consequncia, em relaes sociais objecticadas.
A coleco, o amontoamento, o mercado, o centro comercial so termos
pregnantes numa anlise dos objectos e formam o mago conceptual da soci-
edade de consumo. Os objectos impem um efeito de totalidade em cadeia,
um excesso, um feixe conjuntivo de instrumentos que inauguram uma nova
organizao do social e do individual, espcie de via ordenadora de novas di-
rectrizes. Como efeito dessa homilia dos objectos, isto , dessa explicao
sagrada que os objectos parecem possuir acerca do homem e da sociedade,
o ciclo de vida da sociabilidade altera-se profundamente, sofre uma drstica
diminuio em que a articializao estandardizada se substitui aos moldes
artesanais e idiossincrticos do estabelecimento da empatia, relegando a sim-
patia aptica para o lugar cimeiro das relaes interpessoais. Esta tendncia
vai a par com a registada no domnio dos objectos: onde antes o artce cosia
demorada e aturadamente o calado, hoje cola-se, remendo temporrio trans-
formado em permanente at que venha a prxima moda e se adquira um par
novo. A necessidade v-se, assim, desenhada em contornos pouco utilitrios
e funcionais para sucumbir a imperativos de outra ordem que tm muito a ver
com a integrao social pela emulao. O consumo relaciona-se, no tanto
como resposta a carncias naturais (como o alimentar-se ou o vestir-se) mas,
sobretudo, com indigncias societais onde os indivduos integram um sistema
de manipulao colectiva do sentido e de valores que recrutam recursos es-
senciais em termos de esforo, dedicao, dispndio de tempo e dedicao
emocional. O consumo erige-se como matriz fundadora da signicao e da
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 119
importncia das actividades sociais, bem como uma constelao de referncia
dos valores identitrios.
No obstante a sua predominncia, a associao da prtica do consumo,
no actividade econmica mas actividade societal, no livre de espaos
intersticiais que ocultam a transparncia do termo. A aplicao do termo da
teoria econmica praxis social acarreta incertezas, ambiguidades, espaos
livres, lacunas em branco que esperam ser preenchidas e avaliadas. Ao nvel
da sociedade, o consumo carece de uma determinao e pede um inqurito
analtico.
O objectivo da parte II da nossa dissertao passa por investigar a prtica
do consumo e interrog-la nos seus pressupostos indagando-lhe os fundamen-
tos. Na parte I, estudmos a consolidao de uma nova congurao da pu-
blicidade que requisita uma reexo sobre os nexos que se formaram entre
uma sociedade inegavelmente de consumo e uma publicidade mais gurativa
do que crtica. Todo o nosso percurso neste segundo grande ncleo terico
tem por motivao a iluminao da relao entre uma publicidade gurativa
e uma sociedade de consumo. Intui-se que os centros comerciais se fundam
como uma contribuio para o estabelecimento de uma ponte entre ambas as
realidades, permitindo explorar teoricamente a forma como a guratividade
da publicidade se entrelaa com o consumo exercido nos centros comerciais,
e inversamente, como o consumo se apoia na gurao para se tornar um facto
social de carcter pblico.
Para a concretizao desse objectivo, importa distinguir a dimenso eco-
nmica e a dimenso social do consumo, no olvidando a construo histrica
da sociedade de consumo. Nessa medida, o primeiro captulo concentra-se
sobre a genealogia losca, religiosa e econmica da sociedade de consumo
em que contemporaneamente participamos e para a qual contribumos. O se-
gundo captulo ocupa-se da apreciao da teoria econmica do fenmeno do
consumo, enfatizando a razo econmica do homo oeconomicus. O terceiro
captulo versa a discusso de uma outra interpretao do consumo que privi-
legie uma razo simblica fazendo da consumao uma actividade societal
por excelncia. Surge, desse modo, a concepo de um homo consumans em
que se torna imperativa a distino entre consumo e consumao. O quarto e
derradeiro captulo naliza este tema incidindo sobre o centro comercial como
hiptese explicativa da imbricao entre consumao e publicidade.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
120 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
2.1 A Procedncia da Sociedade de Consumo
Como que o consumo se tornou uma prtica generalizada? Como que a
acumulao material se pde transformar num objectivo de vida? Que mxi-
mas sustentam o edifcio da aquisio de bens? O capitalismo, modelo do-
minante da teoria poltico-econmica, distingue-se pela direco teleolgica
da aquisio, ou seja, da compra pela compra desvirtuando antigas premissas
onde as posses e o dinheiro eram valorizados na estrita condio daquilo que
se podia fazer com eles. Na era moderna, o dinheiro vale, no por aquilo por
que trocado, no pelo que se pode comprar, mas pelo seu valor nsito. O
dinheiro compra dinheiro e surge a agiotagem como actividade prossional
fundamental da economia
1
. Desencadeiam-se efeitos perniciosos j que a or-
dem natural modica-se: o dinheiro j no classicado como valor pelas
coisas porque trocado, mas as coisas tornam-se valiosas pela quantidade de
dinheiro que custam.
Averiguemos a ascendncia e o percurso de tais axiomas. A nascente do
pensamento ocidental situa-se inquestionavelmente na Grcia Antiga e na tra-
dio crist pelo que iniciamos a o nosso estudo. Ironicamente a sociedade
contempornea justamente contrria s reexes gregas acerca do dinheiro
e do consumo. Se somos herdeiros do pensamento helnico em muitos dom-
nios, no certamente o da economia que nos identica como tal.
2.1.1 A Doutrina Aristotlica da Esterilidade do Dinheiro e a F
Crist
A losoa grega viveu um aceso debate acerca da natureza da vida boa mas
nenhuma corrente conhecida defendeu que a felicidade tica (eudaimonia) se
1
Karl Marx criticava no Capital justamente essa passagem da relao Mercadoria-
Dinheiro-Mercadoria para a frmula Dinheiro-Mercadoria-Dinheiro que representa a forma
de circulao em que o dinheiro se converte em capital. Como tal, j no se vende para com-
prar (vende-se uma mercadoria para com o dinheiro resultante da sua cedncia comprar outra
mercadoria) mas sim compra-se para vender (o dinheiro trocado por mercadoria que por sua
vez trocada por dinheiro). Comprar para vender a transaco em que o dinheiro trasveste-se
de capital supondo o seu regresso ao ponto de partida. No capitalismo o dinheiro pode agir,
apenas, como meio de circulao.
Um centnio mais tarde, a Systemtheorie, sobretudo de Talcott Parsons e de Niklas Luh-
mann, conrmou esta ideia quando defendeu o dinheiro como um medium funcional de troca.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 121
conseguia atravs do xito material e da dilatao do peclio. Quando Plato,
na Repblica, esboou uma sociedade ideal, por intermdio do seu comu-
nismo utpico, f-lo sem privilegiar a propriedade. Ningum possuiria nada,
nem sequer a sua prpria habitao para que, isentos da corrupo monetria,
todos vivessem na mais acabada comunidade e harmonia.
No entanto, Aristteles objectava que, nos termos platnicos da proprie-
dade comum, o trabalho no seria equitativamente distribudo, sustentando,
antes, a hiptese de um certo nvel de aquisio prpria que estivesse de
acordo com a capacidade de trabalho demonstrada. O Estagirita separou duas
variantes da aquisio: uma ordem natural que fornece os recursos necess-
rios subsistncia e gesto domstica, em que a acumulao de dinheiro no
viciosa na medida em que sendo um meio para um m est limitada pela na-
tureza desse prprio m; e uma ordem que, longe de suprir as insucincias
materiais, estimula a reproduo monetria com vista deteno de riqueza.
A arte da obteno de bens reveste-se, assim, de duas peles: uma domstica,
necessria e recomendvel, e uma censurvel e abominvel por se realizar a
expensas alheias. Aristteles exproba a crematstica que no governa a casa e
que se dene pela capacidade de utilizar o dinheiro como meio confundindo-
o com o m: (. . . ) algumas pessoas so levadas a crer que fazer dinheiro
constitui o objecto da gesto domstica e pensam que tudo o que h a fazer
na vida aumentar o seu peclio sem limites (. . . ); alguns homens transfor-
mam qualquer qualidade ou arte num meio de fazer dinheiro: concebem isto
como m e todas as coisas tm de contribuir para a promoo desse m
(Aristteles, 1998: 83). Esta crena no dinheiro como riqueza no seno
uma iluso porque a abundncia material no gera a abundncia de uma vida
boa, uma vez que se coloca como actividade que introduz um corte entre o
homem e a natureza, e entre o homem e o prprio homem. Quando se cultiva
os campos ou se criam animais obtm-se o ganho a partir da natureza au-
mentando a quantidade de bens disponveis subsistncia do homem. Porm,
quando compramos algo e o tornamos a vender por mais dinheiro, no esta-
mos a aumentar o valor do produto, com a agravante de que ganhamos o nosso
dinheiro custa da explorao do outro, disposto a comprar a um preo supe-
rior ao da aquisio original
2
. O Estagirita enuncia, assim, a sua doutrina da
esterilidade do dinheiro (Singer, 2006: 113-117) reprovando o comrcio do
2
Na teoria da mais-valia de Marx encontram-se claras inuncias de Aristteles. Alis o
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
122 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
dinheiro, sobretudo a prtica do juro. Ora o dinheiro foi institudo para troca,
enquanto que o juro multiplica a quantidade do prprio dinheiro. essa a
origem do termo juro: os seres gerados assemelham-se aos seus progenitores
e o juro dinheiro nascido do dinheiro. Assim, de todos os modos de adquirir
bens, este o mais contrrio natureza (Aristteles, op.cit: 87). Aproveita-
mento injusto do prximo, ruptura com a natureza ou vituperao da usura,
assim que Aristteles entende a acumulao e a reproduo de dinheiro, con-
siderado estril assim que ultrapassa as fronteiras da necessidade domstica
e assim que subjuga o prximo ganncia individual. O dinheiro que gera
dinheiro empresta o exemplo da mitologia do Rei Midas, contada por Ov-
dio nas Metamorfoses. Recebendo o dom de transformar em ouro aquilo em
que tocasse, Midas acabou por perceber que nem toda a abundncia impede
o sofrimento e a morte. De nada serve ter dinheiro sem com ele melhorar
materialmente a condio de vida. Assim tambm a ambio desmedida de
ganho que gera dinheiro mas que no supre as necessidades domsticas. No
s a riqueza pelo juro prejudica, como tambm se mostra desvirtuosa porque
comercializa o dinheiro.
Ao considerar a outra fonte do pensamento ocidental constatamos a mes-
ma averso usura. Quando o cristianismo se imps entre os judeus procla-
mando uma tica universal onde cada um deve fazer o bem e emprestar o que
seu sem esperar nada em troca, ento, ganhou fora a ideia do comrcio do
dinheiro como actividade ilegtima. Mas ganha solidez sobretudo a ideia da
agiotagem como aco delapidatria do homem. Quando o jovem Jesus ex-
pulsou do tempo de Jerusalm no s os cambistas, como todos aqueles que
ali compravam e vendiam alegando que tal actividade transformava um local
de orao num covil de ladres
3
, estava consumada a orientao religiosa
do cristianismo face sumptuosidade e utilizao do dinheiro como m em
si mesmo. Dirigindo-se aos oprimidos, o cristianismo via na pobreza uma
sublime dignidade e encontrava na temperana um valor de elevado apreo.
Alm disso, a f numa vida depois da morte, no Cu, levou a que a vida
terrena, precria e difcil, fosse desconsiderada ao ponto de se insistir na fru-
galidade. A atitude no que diz respeito aos bens terrenos ilustrada pelas
palavras de Jesus: Falta-te s uma coisa: vai, vende tudo, d os bens aos po-
tema da explorao do homem pelo prprio homem que Marx e Engels faziam coincidir com
a burguesia capitalista recobre as formulaes primognitas do Estagirita.
3
Mateus, 21:13.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 123
bres e ters um tesouro no Cu
4
. A relao entre a esfera religiosa e a esfera
econmica revelou-se tensa e culminou na rejeio dos bens econmicos. Os
mosteiros e os conventos exemplicam o ascetismo cristo face riqueza. O
monge renunciava aos prazeres corpreos negando a si mesmo a propriedade
individual. A sua existncia baseava-se nesse repdio e consagrava-se na par-
cimnia, na sobriedade do seu prprio trabalho e na devoo ao Pai Criador.
Na f crist, a economia de lucro foi relegada para o campo do tabu e
constituda como uma ofensa directa a Deus. O no ser capaz de agradar a
Deus (Deo placere non potest) est na origem das advertncias contra o apego
aos bens materiais e pecunirios (Weber, 1982: 380). A prpria Igreja, que
se ocupou da manuteno da f crist, defendia uma atitude anti-crematstica.
Gregrio Magno armou mesmo que, tal como existem tarefas que sujam o
corpo (por exemplo, o limpar dos esgotos), tambm h outras que mancham
a alma, e o cmbio uma delas (Singer, op.cit: 119). O lucro no era bem
estimado. No sc. V, o papa Leo I condenciava ao bispo de Narbonne o
quanto era custoso evitar o pecado no processo de compra e venda (idem).
A usura era condenada e identicada com a avareza, um dos setes pecados
mortais. A insistncia sobre a pobreza e a condenao da riqueza no par-
tilhada, isto , da propriedade individual, relaciona-se com um outro pecado
mortal, o da gula. O excesso dos prazeres corporais era criticado e constitua
uma condio de impossibilidade de acesso vida eterna a menos que fosse
partilhada com os pobres. Sobre o louvor da distribuio da riqueza nasce a
lenda medieval de Robin Wood, um homem que luta contra a corrupo dos
costumes e da Igreja repartindo o dinheiro dos ricos com os pobres. Se existiu
realmente, Wood poderia ter perfeitamente sido um padre que, cansado da po-
drido e desigualdade social, cumpriu escrupulosamente os desgnios da sua
f, tal como praticados pelo Messias.
Na tradio crist dicilmente pode um mercador agradar a Deus.
2.1.2 O Princpio do Fim: a Disputa entre Rosseau e Smith e a
Orientao Crematstica da Sociedade
Poder-se-ia armar que at ao sc. XVIII a concepo helnica e crist acerca
do dinheiro perdurou. Isto no signica que no tenha existido actividade co-
4
Marcos, 10:17-25.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
124 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
mercial intensa com ns de riqueza. A tendncia reproduo do dinheiro
como meio equiparou-se com a propenso a ver o dinheiro como m, ambas
degladiando-se num equilbrio instvel mas sempre renovado. Foi com o Re-
nascimento, o Iluminismo e depois com a Industrializao, que esse equilbrio
se perdeu dando incio orientao crematstica que hodiernamente impera.
Jean-Jacques Rosseau notou a precariedade desta igualdade de foras e
defendia, em 1755, no Discours sur lorigine et les fondements de lingalit
parmi les hommes, no seguimento das suas leituras de Plato, Aristteles,
Epictecto, Sneca e Plutarco, uma viso do mundo desprovida da avareza ma-
terial e egosta. Ela consistia num ideal de civilizao que mesmo sendo j
impossvel de atingir completamente deveria constituir uma referncia da con-
duta do homem nos assuntos econmicos. De acordo com Rosseau, existem
dois tipos de desigualdade: uma desigualdade natural ou fsica estabelecida
pela natureza e que consiste nas dissimilitudes da aparncia (idade, altura,
vigor, qualidades do esprito et caetera); e uma desigualdade moral ou pol-
tica que depende de uma espcie de conveno e do consentimento colectivo
(Rosseau, 1995). Somente a desigualdade moral, ou seja, social, se ope
igualdade pois a desigualdade natural acaba por auto-anular-se
5
(a diferena
de alturas pode ser compensada ou invalidada pela diferena de agilidade). A
degradao moral do homem que Rosseau observa na civilizao advm das
desigualdades sociais e encontra na propriedade um importante fundamento.
Apropriedade privada permitiu ao homemreunir mais do que o necessrio, f-
lo comparar-se com o seu vizinho, tendo como efeito o desejo de o suplantar
em riqueza. Glosando Aristteles, o lsofo suo identica na acumulao
de riquezas uma fonte de desigualdade e de violncia contra a natureza, pre-
ferindo tomar como modelo de civilizao aquela onde o estado de natureza
mais vincado e onde, alega, existe a paridade. A gura do bom selvagem
6
encarna um estado de natureza onde as necessidades e a sua satisfao vo
de par em par, e onde a felicidade reina porque o homem utiliza a natureza
em seu proveito sem que precise de possuir alguma coisa. Foi o desenvolvi-
5
Oponto de vista defendido por Rosseau naturalmente simplista. No entanto, por questes
de pertinncia, conservamo-lo intacto abstendo-nos de consideraes crticas.
6
As sucessivas formulaes do bom selvagem so ilustradas pelo Robinson Cruso
(1717) de Daniel Defoe, Lettres Persanes (1721) de Montesquieu, Candide (1752) de Vol-
taire, Le Supplment au voyage de Bougainville (1772) de Denis Diderot e mile (1762) de
Jean-Jacques Rosseau.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 125
mento da procura de luxo, da propriedade e do poder que atiraram o homem
primitivo para a civilizao, o arrancaram natureza e o enclausuraram num
espao social que se caracteriza por um pacto de associao a favor dos prs-
peros. A prevaricao da civilizao um vcio que corri o homem e o faz
ansiar por mais posses que o impedem de estar em harmonia consigo e com a
natureza. contra este pacto ilegtimo que Rosseau ir, mais tarde, defender
um Contrato Social (1966) onde cada um pode exercer directamente a sua
soberania.
Insurgindo-se contra a perspectiva ingnua de Rosseau, Adam Smith
ir em The Theory of Moral Sentiments (2000) argumentar a favor dos be-
nefcios da multiplicao das necessidades e da reunio de posses, porque
esse desejo o motor da inveno humana que permitir melhorar o bem-estar
individual. Na obra mais inuente do professor escocs de Moral, Inquiry
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1981), desenvolvida
uma linha de argumentao que advoga o princpio que, para servir os inte-
resses individuais, se deve procurar produzir bens mais baratos e ecientes do
que aqueles existentes. A posse de bens e produtos, bem como o comrcio
monetrio so vistos como formas socialmente teis de atingir o bem-estar,
contribuindo para a paz e a harmonia sociais. A produo econmica torna-
se, deste modo, no um factor de desigualdade social mas um instrumento a
favor da melhoria das condies de vida, providenciando no s os produtos
que beneciam a vida do indivduo, como tambm oferecendo milhares de
empregos que possibilitaro aos indivduos obter o seu sustento.
Em nome do interesse pblico, a crematstica alcana o mais elevado re-
conhecimento tornando-se num fundamento basilar do funcionamento das so-
ciedades modernas. O desenvolvimento econmico gerado concilia-se com
o mote bblico: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei e submetei a terra;
dominai os peixes do mar, as aves do cu e todos os seres vivos que rastejam
na terra
7
. Com Smith, descobre-se o lo da economia de livre iniciativa
abrindo a caixa de Pandora dos desejos e das necessidades humanos aos im-
perativos da felicidade. Riqueza, produo, ecincia e rentabilidade entram
no vocabulrio quotidiano medida que coincidem com o objectivo social do
bem comum. Adam Smith , assim, o primeiro a fazer uma inverso da atitude
anti-crematstica ao mesmo tempo que enceta o processo de alargamento da
7
Gnesis, 1:28.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
126 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
economia s estruturas da sociedade. Foi o professor de Moral e no Rosseau
quem foi ouvido. Smith forneceu a primeira grande matriz do capitalismo
que culmina no que chamamos hoje sociedade de consumo. Comea a o
princpio do m da inuncia dos ensinamentos helnicos e da religio crist.
A histria subsequente indica-nos uma radical viragem de direco ironi-
camente tambm consubstanciada por uma religio. A sede de ganho ou o
instinto de lucro sempre existiu. A questo acerca da atitude crematstica e
do capitalismo reconhecer o carcter especco do racionalismo ocidental
e, dentro deste, as formas do racionalismo ocidental moderno, assim como ex-
plicar o seu aparecimento (Weber, 2005: 20). A originalidade do capitalismo
ocidental caracterizou-se pela incidncia em crenas religiosas singulares que
determinaram o aparecimento de um ethos econmico.
2.1.3 O Esprito do Capitalismo
A conexo entre a Reforma e o capitalismo moderno foi j sugerida por al-
guns autores. Friedrich Engels, de acordo com a tradio marxista, derivava o
protestantismo do reexo ideolgico das transformaes econmicas. A no-
vidade da interpretao de Max Weber rejeita essa explicao. Ele destaca a
complexidade das inuncias recprocas entre as bases materiais, as formas
de organizao social e poltica e o contedo espiritual da Reforma (Weber,
2005: 63).
Resistindo tentao de separar um mundo material do capitalismo de
um mundo no material da religio, Weber, em 1905, em Die protestan-
tische Ethik und der Geist des Kapitalismus faz convergir o secular e o re-
ligioso. O protestantismo, longe de se alhear das actividades materiais quo-
tidianas, integra um elemento religioso em todos os aspectos do crente, em
especial, nos aspectos materiais (Giddens, 2005:182).
O atributo caracterstico do capitalismo ocidental moderno consiste na or-
ganizao racional do trabalho livre, uma espcie de alocao de recursos por
intermdio, no da coaco mas da dissoluta pr-disposio do indivduo que
encaixa o esprito do capitalismo em si mesmo como dever moral. O es-
prito do capitalismo consagra o aumento do capital como objectivo em si,
caracterizando-se por uma dedicao integral ao ganho econmico e activi-
dade lucrativa que no passa por uma aplicao esbanjatria desse rendimento
na prossecuo de interesses individuais. Apenas no negcio deve ser apli-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 127
cado j que a que o indivduo pode provar a sua ecincia prossional e
dignidade moral. A aquisio de cada vez mais dinheiro combinada com uma
privao severa de todo o hedonismo um m em si. O ganho considerado
como objectivo de vida do homem e j no como meio de satisfazer as suas
necessidades materiais (Weber, 2005: 38-39). Axiomas como tempo di-
nheiro, o dinheiro tem uma natureza reprodutora e fecunda ou o crdito
dinheiro (Weber, op.cit: 36) reproduzem explicitamente em que consiste o
capitalismo moderno que se apoia num dever do indivduo cuja no dedica-
o aos negcios pecunirios sancionada.
Ser o conceito protestante de vocao (Beruf ) a operar a assimilao dos
negcios profanos ao domnio religioso. A vocao do indivduo mais no
signica do que o estabelecimento de uma relao com Deus em que a sua
prova de respeito passa por se dedicar inteiramente sua prosso (Beruf )
de forma pessoalmente desinteressada e asctica. O protestantismo substitui,
desse modo, o ascetismo monstico catlico, e rejeio da vida temporal
ope o integral interesse pelos assuntos mundanos. Os deveres ascticos pro-
testantes ligam-se, no rejeio da vida material mas sua subordinao, no
enquanto sumptuosidade mas enquanto humildade. Weber nota a frugalidade
aparente dos capitalistas protestantes como entrega do seu sacrco em prol da
produo e da acumulao de riqueza. O sucesso e a prosperidade econmica
fundam-se religiosamente. A vocao um chamamento para Deus, um cami-
nho espiritual ao seu encontro que deve necessariamente passar pela acabada
disponibilidade do indivduo para o mundo carnal mundano. Ela a quali-
cao moral da actividade prossional. O dever para com Deus inscreve-se
como aco moral somente se se desenvolver no quadro da actividade tempo-
ral, enquanto tarefa. O acesso a Deus, sobretudo no Luteranismo, j no passa
por um recolhimento das actividades quotidianas mas estas so mesmo a con-
dio primordial do crente protestante estar entre os eleitos para a salvao.
Para os protestantes ascticos, o mercador no s agrada como preferido por
Deus. que a direco da relao alterou-se: j no se trata da existncia
de um Deus protector para o Homem, mas o Homem dedicado aos assuntos
mundanos para Deus.
Atica protestante da vocao agura-se-nos com alguns aspectos preg-
nantes que merecem uma considerao adicional. A anidade que o Protesta-
nismo asctico estabelece entre a religio e a vida quotidiana desenvolveu-se
historicamente como uma propenso laicizao. Na disseminao destas
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
128 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
crenas, a secularizao apagou as suas origens religiosas experimentando
uma gigante aceitao, por parte do tecido social, do vigor econmico que
exigido a cada indivduo. Independentemente dos seus motivos, este esp-
rito do capitalismo foi paulatinamente sendo partilhado tornando-se no es-
prito de todos. Um dos interesses do trabalho de Weber a tentativa de de-
monstrao da dimenso irracional da racionalizao que acompanha a vida
econmica do capitalismo moderno. Trata-se do facto de ser a crematstica
a dirigir a conduta individual e social, e no o contrrio. O negcio, a pro-
sso e a empresa ganham foros de objectivos de vida, puros ns apesar da
sua qualidade de meios. Esta intuio antecipou, desde logo, o conito entre
a tica do dever e a tica da responsabilidade que eclodiria nas sociedades
capitalistas.
A tese apresentada por Weber do esprito do capitalismo congura-se, em
trao gerais, pela orientao crematstica contrariamente ao pensamento grego
e cristo. No entanto, no se deve op-las sem aturada ponderao. O protes-
tantismo no deixa de possuir uma elevada dose de ascetismo; no obstante a
entrega aos negcios, os indivduos inclinam-se a utilizar os seus ganhos em
termos da sua vocao e no enquanto formas estratgicas de diferenciao de
classe social ou de conspicuosidade. Eles no fazem a prdica do consumo,
tal como hoje parece existir. Entregam-se ao trabalho e ao lucro mas o seu
intento no passa por fazer do lucro uma forma de consumir. Pelo contr-
rio, o capital conseguido pela limitao do consumo e pela poupana. Este
facto leva-nos a assumir prudncia na aplicao do esprito do capitalismo ao
capitalismo hodierno que, como veremos, se recobre de formas dspares em
relao s relatadas por Weber. Actualmente, o capitalismo reveste-se menos
de um ethos religioso do que de uma forma de alcanar o prestgio social.
Assim, esta incurso sumria s tem a ambio de expor a transio entre
uma tradio anti-crematstica, o capitalismo (com o seu foco no lucro) e a
sociedade de consumo. Interessou-nos exprimir a inuncia deste esprito na
transformao do capitalismo e, por conseguinte, na formatao das prticas
de consumo. O protestantismo asctico deve, pois, ser compreendido como o
modo de funcionamento do capitalismo ocidental, um catalisador de energias
sociais que no resume por inteiro o capitalismo.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 129
2.1.4 A Estrutura Socio-Econmica do Capitalismo
Identicado o impulso basilar que a convergncia do religioso e do secular
deram origem, convm descrever com propriedade a passagem lenta e gradual
das formas do capitalismo como mtodo de introduzir a sociedade aquisitiva
contempornea. Tal no deixar de enfatizar as consequncias ao nvel indi-
vidual e social.
Nos sc. XVII e XVIII, a indstria e a tcnica no existiam de forma
acabada, e as ideias medievais, embebidas dos ensinamentos clssicos, ainda
detinham assinalvel inuncia. Tal como Rosseau advertia, a prdica mer-
cantil do lucro ainda era tida por um engodo, uma actividade sem tica e no-
crist. Por outro lado, o olhar sobre a mecanizao era ainda cptico. Mesmo
Montesquieu era incapaz de deixar de crer que as mquinas, cujo efeito a di-
minuio do nmero de trabalhadores, eram perniciosas (Montesquieu, 1979:
115). O progresso econmico seria benco e enriquecedor desde que no
violentasse o equilbrio social e no ameaasse o homem.
A partir do sc. XIX, exactamente o indivduo que ser colocado no cen-
tro do sistema econmico medida que a mecanizao se generaliza. Umcada
vez maior nmero de produtos chega s classes mdias urbanas animando,
com o seu consumo, os processos de produo em larga escala. Com o for-
talecimento da produo e do consumo, o indivduo deixa de ser o critrio
de todas as medidas para se tornar mais um recurso ou instrumento de pro-
duo, operando-se a transmutao de trabalhador (labor manual e natural)
em operrio (labor mecanizado, articial e tendencialmente urbano). O sis-
tema econmico capitalista neste sculo, aquele que Weber descreveu como
uma tica da vocao, caracteriza-se pelo recrudescimento industrial e pela
intensa explorao operria j que o detentor de capital supunha agir moral-
mente bem na perseguio do lucro, mesmo que tal implicasse a abstrao da
humanidade dos operrios. O princpio de que se cada um procurar o lucro
contribuir para o bem-estar de todos, enunciado por Adam Smith, torna-se o
axioma por excelncia da atitude capitalista.
O mercado erige-se como instncia mediadora da distribuio do produto
social. A lei do mercado passa a dominar a vida econmica e social como
meio de conciliar as necessidades e os produtos. Como as necessidades so
sempre maiores que a soma total da satisfao dos produtos, necessria uma
estrutura que regule a procura e a oferta sob a forma de distribuio dessa
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
130 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
relao entre necessidade e satisfao. Ao contrrio das sociedades tradicio-
nais onde era o poder nobilirquico, coercitivo, a distribuir e a apropriar-se do
produto do trabalho social, na modernidade o mercado assume funes seme-
lhantes mas mais democrticas (toda a gente lhe pode aceder). O moderno
mercado o mecanismo auto-regulado de distribuio que torna desnecessrio
dividir o produto social de acordo com um plano tradicional e premeditado, e
que, assim, bane o constrangimento do uso da fora na sociedade (Fromm,
1991: 88).
A lei do mercado apesar de seduzir o indivduo com uma maior liberdade
aquisitiva no deixa de ter uma liberdade ilusria uma vez que ele obrigado
a submeter-se s leis do mercado e s coagentes procura e oferta. Estas no s
limitam a escolha e a deciso individual como incentivam uma extrema com-
petitividade medida que a compra e a venda se efectuam diferencialmente,
a partir da existncia ou no, de produtos mais atractivos. A competitividade
econmica estendeu-se sociedade onde cada um ensaia ultrapassar o outro
com vista sua prpria satisfao. Conforme a luta pelo sucesso econmico
se imiscui na sociedade, as regras morais da solidariedade humana corroem-
se a expensas do lucro e do auto-provimento das necessidades que fazem do
dinheiro um atributo pessoal. a quantidade de dinheiro alcanado custa do
esforo especco de cada um que determina a qualidade moral do carcter do
indivduo. E ele no olha a meios para se revestir dessa aura pecuniria que,
cr, o transforma numa pessoa melhor, respeitada e reconhecida pela socie-
dade. No admira por isso que a propenso propriedade privada tenha re-
gistado nveis elevados. O carcter do homem tende acumulao (hoarding
orientation), o que traduz um ser metdico, econmico, prtico, obsessional e
possessivo (Fromm, 1971: 66).
A corrupo dos laos de solidariedade social teve, tambm, importantes
consequncias ao nvel da relao entre o indivduo e o trabalho. O traba-
lho e a explorao feudais do indivduo eram regidos segundo um sistema de
obrigaes mtuas que incluam a proteco pessoal e a garantia de um nvel
de vida mnimo. No dcimo nono centnio, a explorao adquire tonalida-
des outras a par com a transformao do operrio num recurso de mercado
ou mercadoria. No h nenhum sentido de reciprocdade entre empregador e
trabalhador. As obrigaes despersonalizam-se, tornam-se contratuais e for-
mais e a explorao laboral sofreu um efeito de anonimizao. O operrio
usado abstractamente como uma mquina produtiva que se pode (e deve) uti-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 131
lizar com vista ao lucro. O indivduo no avaliado em si mas como mbil,
torna-se no um m em si mesmo mas um meio de satisfao de interesses
privados. A mquina econmica ostracizou a moral e relegou o imperativo
categrico kanteano para o quadro das curiosidades loscas. O detentor
de capital maneja o operrio na sua produtividade, energia fsica e psquica,
vitalidade e creatividade para fazer das coisas e dos objectos aspectos mais
importantes do que o homem. O sistema econmico capitalista, surgido pro-
priamente no sc XIX, foi motivado pela melhoria das condies materiais
do homem oferecendo-lhe mais comodidade, mais poder de compra ou mais
domnio sobre as foras naturais. No entanto, tal implicou uma sujeio do
social economia, do homem s coisas, do parecer ao fazer, do ser ao ter.
Na passagem de sculo, a direco cumulativa e explorativa deecte em
direco a uma maior exterioridade e partilha e exibio de riqueza que re-
querem uma maior capacidade de ajustamento social e aprovao (Fromm,
1991: 99). A obstinao da posse (a que corresponde a colonizao europeia
de frica no sc. XIX) e a represso das ideias e dos pensamentos (como o
tabu da vida sexual que Freud viria a romper) com vista concentrao nos
processos de produo, sofreram uma transformao que tornou a sociedade
mais permevel e aberta (open-minded) a par e passo com o crescente impe-
rativo de escoamento da produo e da insistncia nos processos de consumo.
No decurso, regista-se a concentrao empresarial e de capital com o cresci-
mento tecnolgico (motor de combusto, electricidade, energia atmica) e a
reduo dos trabalhadores que se vem substitudos por uma cada vez maior
prolixidade de mquinas que comutam a inteligncia humana pela inteligncia
articial sob a justicao de um maior controlo do processo produtivo.
O que est em causa, no sc. XX, a rematada concluso dos mtodos de
abstracticao e quanticao principiados no centnio anterior. O dinheiro
torna-se o smbolo desta sociedade e com ele emerge a urgncia da aquisio
produtiva, isto , do consumo como resposta econmica produo e da pro-
fuso de objectos que juntos garantem a subsistncia do sistema econmico,
tanto no plano da produo como no do consumo.
No fundo, o que se observa com a chegada do capitalismo a transfor-
mao da vida social que passou de um predomnio da Gemeinschaft Ge-
sellshaft. Avida social deixou de se caracterizar como uma comunidade unit-
ria ou agregado de conscincias aglutinadas em torno dos mesmos valores. J
no se funda no consenso (Verstndnis) e nas vozes unssonas. Com o cresci-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
132 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
mento demogrco, a sociedade vai pesando menos sobre o indivduo, e este
torna-se-lhe lasso, emancipa-se, individualiza-se
8
. Wertrationalitt (von-
tade natural) da Gemeinschaft ope-se uma Zweckrationalitt (vontade racio-
nal) da Gesellschaft, uma racionalidade de ns, solidariedade j no mecnica
mas orgnica onde os homens vivem separados e procuram individualistica-
mente o seu prprio bem sem considerao do prximo
9
(Tnnies, 2002: 77).
A estrutura socio-econmica do capitalismo que ensaiamos expor permite
compreender a realidade contempornea. Ela forma o pavimento sobre o qual
se construu o edifcio do consumo, e traduz um facto essencial: a abstracti-
cao das relaes sociais (a produtividade, o trabalhador como mercadoria,
a acumulao e a propriedade) e o concomitante predomnio das relaes ma-
teriais que o homem leva a cabo em si e entre si.
Os objectos sobre os quais o consumo existe passam a formar um modo
de relao ao mundo que funciona a nvel psicolgico (reforo ou graticao
individual) e a nvel sociolgico (como relao totmica de solidariedade).
este duplo movimento intra e inter-pessoal que fundamental reter.
Eis a hiptese que nos guiar no restante percurso. O consumo comea por
ser um fenmeno da teoria econmica mas rapidamente alastra teoria so-
cial por fora da sua inuncia no tecido societal. No entanto, a maioria das
abordagens da prtica do consumo ca-se pela interpretao econmica de
suprimento das necessidades e justica-o pela teoria econmica do valor, en-
tranhada pelo conceito de utilidade.
A contaminao entre os processos da prtica econmica e da sociedade,
tal como explicada pela teoria econmica, no leva a concluses que permitam
compreender os paradoxos que hoje vivenciamos: se o indivduo compra com
vista a satisfazer as suas necessidades, como aceitar a mltipla redundncia do
consumo? Se o homem econmico racional, porque escolhe produtos que
apresentam os mesmos atributos tangveis? Se no existem outras motivaes
para alm das econmico-racionais como se pode escolher? Ou seja, se a
compra se dene pela satisfao da necessidade porqu continuar a produzir?
Se vivemos numa sociedade de abundncia como arma Kenneth Gallbraith
8
A sociedade pesa menos mas no deixa de se fazer notar. A progressiva racionalizao da
vida humana arremessa o indivduo para uma jaula de ferro na terminologia de Max Weber.
A jaula no pesa no indivduo mas condiciona-o, constrange-o e inibe-o.
9
A distino entre Gemeinschaft e Gesellshaft recobre um tipo de sociedade semelhante
respectivamente sociedade hegeliana e sociedade benthamniana.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 133
(1976), porque continua o trabalho a dominar os nossos dias, porqu produzir
mais?
2.2 Uma Apreciao da Razo Econmica Radiogra-
a do homo oeconomicus
Ainda antes de ponderar as questes supra-enunciadas, e tendo-se revisto al-
guns factores da gnese e desenvolvimento do sistema econmico capitalista,
importa estudar a abordagem tradicional do consumo, ou seja, a teoria econ-
mica. Urge reectir sobre os seus princpios de modo a apurar a sua acabada
pertinncia para o fenmeno do consumo contemporneo.
Existem dois modos capitais de questionamento dos processos societais,
nomeadamente da prtica do consumo. O padro utilitarista, universal e uni-
forme, que procura na realidade emprica as funes, as relaes instrumen-
tais e as normas. E um padro socio-cultural, dos valores, da comunicao,
da intersubjectividade, que apreende a realidade como relao signicativa de
indivduos e coisas. O que at agora tem sido privilegiado na investigao
do consumo tem sido o padro utilitrio-econmico, at porque o consumo,
nascido com o capitalismo moderno ocidental, insere-se dentro dos processos
de aquisio e de venda de produtos.
A questo que aqui nos traz , tambm, averiguar se o econmico pode
constituir uma base credvel e completa para a anlise do papel do consumo
nas sociedades contemporneas. Este captulo visa diagnosticar os postulados
da teoria econmica de forma a destacar os seus dces e a sua falncia no
que diz respeito explicao da sua incontornabilidade nas sociedades da
modernidade tardia. O consumo uma prtica de todas as culturas humanas
e no pode ser perspectivado apenas no espartilho dos processos econmicos,
qua lgica utilitria. Ele detm, de igual modo, um padro scio-cultural de
questionamento. O consumo no se esgota na produo e na troca pecuniria
de mercadorias; ele passa igualmente pela ddiva e por actividades, do ponto
de vista econnimo, improdutivas mas socialmente muitssimo relevantes
10
.
Como se atingiu o sobre-determinismo econmico e o defeito da valoriza-
10
Os trabalhos de T.Veblen, G. Bataille e mesmo J. Baudrillard constituem referncias ina-
balveis desta abordagem.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
134 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
o das relaes socio-semiolgicas e socio-antropolgicas na considerao
do consumo?
2.2.1 O Imaginrio Utilitarista
Temos vindo a dissertar sobre a economia e o capitalismo mas no chegmos
a sistematizar os seus atributos. Tal tarefa de especial utilidade para a apre-
enso da relevncia de considerar o consumo a partir do padro socio-cultural.
O imaginrio utilitarista, que domina grande parte dos fundamentos da
teoria econmica, aquele dominante na nossa sociedade em que a utilidade,
a eccia, a funo e o ganho so critrios primrios de avaliao de qualquer
assunto. Os cannes do pensvel e do possvel esto-lhes restringidos.
O projecto utilitarista tem inico com Jeremy Bentham e com a sua clebre
armao de que as aces so desejveis, justas e racionais se permitirem a
maximizao da utilidade colectiva ou seja, se produzirem a maior felicidade
para o maior nmero de indivduos. Para Bentham e o seu discpulo John
Stuart Mill, os homens, na procura da sua exclusiva felicidade, guiam-se pela
lgica egosta do clculo entre o prazer e a dor, entre benefcios e malefcios,
entre ganhos e custos.
Adam Smith, ao fundar uma nova cincia a Economia retomou os
princpios utilitaristas reforando a ideia de um individualismo metodolgi-
co. No da bondade do homem do talho, do cervejeiro ou do padeiro que
podemos esperar o nosso jantar, mas da considerao em que eles tm o seu
prprio interesse (Smith, 1981: 95). Inspirado por Bernard Mandeville que
na The fable of the bees or, private vices, public benets, em 1714, argumenta
que das libertanagens ou vicos privados nascem benefcios pblicos, Adam
Smith escreve que do egosmo individual resulta uma sinergia em que todos
cam a ganhar. Objectivos diferentes e mesmo antagnicos podem provocar
um equilbrio em que ambos tm sucesso. como se houvesse uma mo
invisvel a organizar as parcelas dessa operao aritmtica cujo resultado se-
ria sempre conforme. Na realidade, [o homem] no pretende normalmente
promover o bem pblico, nem sabe at que ponto o est a fazer. Ao preferir
a indstria interna em vez da externa s est a pensar na sua segurana; e ao
dirigir essa indstria de modo a que a sua produo adquira o mximo valor,
s est a pensar no seu prprio ganho; e neste, como em muitos outros casos,
est a ser guiado por uma mo invisvel para atingir um m que no fazia parte
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 135
das suas intenes (Smith, op.cit: 757-758). Os propsitos mais dspares e
especcos de cada um dos indivduos combinam-se, respeitam-se e geram a
harmonia naturalmente.
Daqui retiram-se dois postulados essenciais da teoria econmica: o pos-
tulado da racionalidade (Smith apelida-o de interesse prprio) em que cada
indivduo, nas suas decises, tenta escolher o que lhe parece melhor, ou dito
de outro modo, eciente. Isto , ele recusa o desperdcio e selecciona a opo
que envolva os menores custos em proporo com os maiores lucros; e o pos-
tulado do equilbrio ou harmonia que atesta que quando confrontadas entre
si, as decises interajem da melhor forma possvel de modo a que cada uma
signique uma oportunidade de ganho. Em sntese, o homo oeconomicus a
dimenso humana que compreende a aco (econmica) por referncia s de-
cises individuais e egostas inspiradas por uma necessidade e baseadas num
clculo racional que tem em conta o seu prprio interesse. As escolhas so
motivadas, decidem-se pela deliberao entre ofertas diferenciadas e determi-
nam uma hierarquia de preferncias consonantes com os ns pretendidos.
Aparentemente amorais (por se concentrarem apenas na satisfao pr-
pria), as aces econmicas justicam-se moralmente de acordo com a teoria
do equilbrio, o argumento de que das aces interessadas privadas provm
um interesse colectivo, comum, pblico. O mercado o mecanismo regula-
dor, essa mo invisvel enigmtica de que os participantes (ou consumido-
res) auferem vantagens mtuas e benefcios comparativos. De acordo com o
utilitarismo da teoria econmica, o verdadeiro contrato social no aquele
rosseauniano que ultrapassa um estado de natureza mas aquele que se es-
tabelece e reestabelece todos os dias no mercado quando os consumidores
se encontram para comprar e vender. Com efeito, o mercado o paradigma
da liberdade
11
: ao consagrar um encontro impessoal, evita discriminaes;
ao dispersar o poder pelos agentes da procura e da oferta, providencia uma
certa proteco das liberdades civis e polticas; ao assentar na posse de bens,
o mercado acautela o direito de propriedade.
11
No podemos deixar de fazer notar que a formulao utilitarista do mercado como liber-
dade comporta debilidades ntidas. A liberdade que propicia dene-se no na sua positividade,
mas como liberdade negativa, isto , ausncia de constrangimentos e imposies. Por outro
lado, o mercado no , nem pretender ser, tico. Ele no actua seno com o objectivo de-
clarado de gerar lucro. Por si s ele no gera uma relao social mas uma relao mercantil,
negligenciando, ou melhor, abstraindo a dimenso humana das suas prticas.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
136 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
2.2.2 O Dce da Denio Econmica do Consumo
A anlise econmica do consumo no deixa de ser vlida mas revela debili-
dades. O consumo aparece por inteiro integrado em processos de ndole eco-
nmica como se a Economia no participasse das cincias humanas. Porm,
ele s poder ser cabalmente compreendido sob o fundo das cincias sociais
e, ante tudo, da sociedade. A lgica econmica do consumo no mais do
que um subconjunto da lgica social. Qualquer autonomia que possa adqui-
rir s pode existir na comunho com uma interpretao social. Contudo, do
ponto de vista da teoria econmica, no s o econmico se torna independente
do social, como tambm o comanda. A praxis social e os valores culturais
progridem sob o cu do interesse utilitrio e das constelaes do calculismo
individualista e atomizado. Nessa viso redutora, o econmico seria condio
necessria e suciente do social. Todavia, a gura do homo oeconomicus trata
somente de uma dimenso da actividade (social) humana. Nessa medida de
incompletude ele no seno uma co (Casal, 2005: 41).
O discurso que passa por dotar o homem de necessidades que precisam ser
providas por bens simplista e ingnuo. Como , de igual modo, a suposio
de que os produtos de consumo so escolhidos e negociados pela superiori-
dade funcional e pragmtica. Se assim fosse, os bens prestigiantes e prezados
socialmente seriam os mais acessveis (baratos) e simples
12
. Nada, a princ-
pio, provou ser mais incmodo na explicao dos preos, isto , valores de
troca, do que o facto, difcil de aceitar, de que algumas das coisas mais teis
tm o menor valor de troca e algumas das menos teis possuem o maior valor
de troca. Como Adam Smith observou: Nada mais til do que a gua; mas
com ela praticamente nada se comprar; praticamente nada se pode ter em
troca dela. Um diamante, pelo contrrio, praticamente no tem utilidade mas
com frequncia pode-se ter uma quantidade muito grande de coisas em troca
dele (Smith apud Galbraith, 1976: 150). Os objectos seriam, para a abor-
dagem utilitria, funo das necessidades que s alcanariam o seu sentido
na relao econmica do homem com o mundo fsico (Baudrillard, 1995: 9).
12
Se algum quiser simplesmente proteger-se do frio (razo funcional da indumentria) no
ir racionalmente usar um vestido cheio de folhos. Se algum deseja abrigar os ps das irregu-
laridades do piso (motivo funcional do calado) no ir usar sapatos de salto alto. No entanto,
a nossa sociedade no plagia o racionalismo postulado pela teoria econmica, o que conrma a
falncia do modelo explicativo funcional de que a Economia faz uso para justicar o consumo.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 137
Contrariamente, sujeito e objecto vivem intimamente, existem por correlao,
pelo que interpor entre ambos uma simples necessidade os destruiria, pelo
menos, na sua constituio social. Mas tal o vcio do simplismo econmico.
Por contraste, exercita-se nesta reexo a hiptese de que o consumo
um fenmeno no apenas do domnio econmico mas tambm, e essencial-
mente, socio-cultural que exerce funes inelutveis de comunicao. A cul-
tura institui-se, sobretudo, como cultura material. Os objectos, os bens e os
produtos no servem apenas propsitos funcionais mas tambm semiticos. A
antropologia social, ao inscrever o indivduo-consumidor no espao social e
cultural, advoga que consumir produzir o sentido, ancorar a uma identidade
e a uma pertena sociais.
Se observada pelas lentes da praxis social, a actividade do consumo re-
jeita a abordagem estritamente econmica pautando-se, antes, por uma socio-
semiologia ou uma socio-antropologia. O seu estudo deixa de se centrar na
mercadoria, nos produtos fabricados tendo em vista a sua insero no mercado
e a sua consequente compra e venda por intermdio do dinheiro. A indagao
do consumo deve prezar, em contrapartida, o objecto, essa materialidade
cultural que efectua a mediao da relao do homem consigo mesmo e com
os outros. Os objectos so entidades que exorbitam a mera funcionalidade
e o utilitarismo econmico. Constituem-se como tijolos semiticos, sistema
de signicaes diferenciais cuja utilizao nda na construo cultural de
uma sociedade que, pela existncia objectual, reata os laos de sociabilidade
e solidaridariedade.
Para o zoon politikon que o homem, o consumo consiste na actualizao
de relaes sociais activas, virtuais ou potenciais servindo-se dos objectos
com propsitos de assimilao social e manuteno da dimenso conativa de
toda a interaco. Os objectos adquirem, assim, uma importncia societal
caindo fora das interpretaes da teoria econmica de que seria um processo
eminentemente individual e egosta. Pelo contrrio, o consumo, ainda que
concretizado ao nvel de cada indivduo, faz parte de processo social holista de
tessitura e fabrico do social, uma empresa colectiva interpelante que convoca
todos os seus membros a participar ritualmente na comunidade
13
. O consumo
refora o estar junto, fortalece uma solidariedade que caminha na direco
13
Claro que o consumo ter outras utilizaes por parte dos membros de uma sociedade,
como iremos estudar. No obstante, esta dimenso solidria constitui o seu fundo.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
138 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
oposta solidariedade mecnica, refora uma identidade colectiva, insere o
indivduo tendencialmente anmico das sociedades urbanas contemporneas
no seio de uma instituio e de um sentido comungado.
A descrio do encontro mercantil permite dissolver todas as dvidas
quanto ao carcter socio-identitrio do consumo. O discurso mercantil des-
creve a transaco comercial como um encontro interactivo no mesmo espao
(mercado) de sujeitos que representam os seus produtos. Cada sujeito em-
presta a sua voz mercadoria de forma a expressar o seu valor (Casal, 2005:
215-216). No entanto, a relao social de mercado aqui estabelecida no
genuna, apenas uma relao formal, no espao social, dos representantes
dos respectivos objectos-mercadorias. No espao mercante no pode haver
relao social forte, plena ou maiscula porque o que ali existe apenas capi-
tal, mercadoria e transaco. Porventura o conceito marxista de alienao
o que melhor expressa a ruptura que a mercadoria e o consumo (interpretado
economicamente) introduzem na conexo entre os homens, e entre os homens
e o mundo. Nesta medida, a dimenso socio-cultural, aquela que contribui
para as identidades e para o fortalecimento de uma robusta solidariedade so-
cial do consumo, s pode emergir quando transferimos o consumo do mercado
entidade abstracta para o espao pblico espao concreto , corao de
todo o funcionamento estrutural da sociedade.
Por conseguinte, sobretudo a troca e no a compra ou a aquisio que
privilegiada. No pretendemos armar que as transaces econmicas no
existem. Longe disso. Aspira-se a insinuar que essas transaces revelam uma
nfase sobre o valor de troca a desfavor do valor de uso. Face ao comrcio de
bens, sublinhamos o comrcio de smbolos e de signos na esfera pblica. A
aquisio por intermdio do dinheiro no se basta a si prpria, no um m.
Congura-se como uma etapa da integrao na sociedade conforme ela vai
estipulando novas regras de conduta e novas axiologias (muitas delas inuen-
ciadas pelo utilitarismo reinante). No fundo, o consumo societal congura-se
como uma teoria da prestao social por oposio s anlises baseadas nas ne-
cessidades e na sua satisfao. Quando um indivduo enche o guarda-vestidos
com diversas opes de indumentria no est a satisfazer displicentemente
a sua necessidade de proteco, mas sim a integrar o acordo social e ci-
vilizacional que tem implcita a regra de no usar a mesma roupa dois dias
seguidos. A prevaricao resulta numa certa excluso social ou estereotipia,
facto alis demonstrado pela estigmatizao dos sem-abrigo que acabam por
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 139
ser o exemplo mais evidente deste no-cumprimento e desta no-participao
no pacto social do consumo.
Interpretado socio-culturalmente, o que se chama (indevidamente como
veremos) consumo no se consolida no valor econmico mas no valor simb-
lico de troca. A denio de valor econmico defende que os produtos no
tm valor intrnseco e que so as pessoas que lhe atribuem valor. Todavia,
glosando a teoria econmica, o que confere valor a um produto a utilidade
que as pessoas retiram dela (Csar das Neves, 2003: 53). Mas a utilidade
um conceito secundrio face fundao do sentido que os objectos encetam
na cultura humana. O valor no tanto utilitrio quanto uma formulao
simblica que exprime as relaes culturais de uma sociedade. Fora da teoria
econmica do valor (utilitrio) no concebvel pensar os objectos como pro-
dutividade, como relao de clculo tangvel e mensurvel. S no mercado a
produtividade e o valor econmico podem ser relevantes. No domnio da cul-
tura, o consumo no se enquadra em moldes produtivos tangveis. Mas possui
uma produtividade, embora intangvel, porque formada simblica, pblica e
comunicacionalmente A lgica por que se rege j no a utilitria, da conten-
o do desperdcio e do excesso mas justamente uma lgica da prodigalidade,
da ostentao, de prticas delapidatrias. Na ordem econmica o domnio
da acumulao, da apropriao da mais-valia que essencial. Na ordem dos
signos (da cultura), o domnio do dispndio, ou seja, da transubstanciao
do valor de troca econmico em valor de troca/signo, a partir do monop-
lio do cdigo, que decisivo (Baudrillard, 1995: 111). A racionalidade e a
frugalidade dos gastos cedem lugar ao (explcito) desperdcio de recursos e ao
exorbitante que s do ponto de vista utilitarista irracional. As carncias do
consumo no tm origem na bio-psicologia do indivduo mas na sua constitui-
o social. Com efeito, uma racionalidade cultural tal como a antropologia
da ddiva nos demonstra.
A produtividade que pode ser constatada no consumo entendido como fe-
nmeno scio-antropolgico a produtividade da improdutividade, no o
esforo porado mas o esforo conspcuo que aproxima os indivduos em vez
de os separar. A harmonia social no surge do consumo desinteressado, indi-
vidual e egosta, mas do consumo como prdica societal em que uma espcie
de dever social se sobrepe satisfao individual. Por isso o consumo he-
donista descredibilizado a favor de um consumo eudemonista (cf. Casal,
2005).
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
140 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
2.2.3 A Razo Simblica do Consumo
Face ao dce da razo econmica do consumo, imperioso reectir sobre
um outro tipo de razo que suporte as actividades de consumo e que seja um
complemento socio-antropolgico ao tipo de razo utilitria.
Armamos que o que distingue essencialmente o homem no reside no
facto de ele habitar um mundo ao qual tem de retirar recursos materiais que
preencham as suas necessidades fsico-biolgicas, mas a atribuio de um
campo de signicaes, cdigos e signos ao mundo natural, recriando-o e
adaptando-o ao seu mundo simblico. Os objectos produzidos, trocados e
consumidos dirigem-se a sujeitos sociais concretos e determinados. O ho-
mem no consome os objectos extrados directamente da natureza mas, con-
tra esse processo de asseptizao, a natureza e os seus objectos so recursos
seleccionados e consumidos imagem do homem. A produo material no
governada pela vantagem material ou utilidade. O processo de produo ma-
terial obedece a um processo de reproduo cultural (Sahlins, 1976: VII). O
consumo como possesso material uma dimenso inegvel da cultura sendo
mesmo o local onde ela se congura (Douglas e Isherwood, 1996: 37). Os ho-
mens no produzem apenas subsistncias, no suprimem somente necessida-
des naturais. Os bens e o consumo representam especularmente a vida social
atravs da qual os homens se denem. Por isso, a produo relaciona-se no
apenas com uma eccia material mas igualmente com uma intensa inteno
cultural (Casal, 2005: 83). Os valores conferidos aos objectos do consumo
no so propriedades intrinsecas mas atributos simblicos e arbitrrios que
as sociedades e as culturas alcanam na sua praxis. O seu verdadeiro valor
no naturo-econmico mas, sobretudo, socio-cultural. O consumo situa-se
alm das fronteiras do comrcio primando por ser, no apenas um fenmeno
econmico, mas uma prtica etnolgica. A utilidade dos produtos sempre
enquadrada por um contexto cultural. A escolha do indivduo no soberana,
nem um assunto exclusivamente privado: trata-se de uma deciso envolta pelo
fundo cultural e devidamente promulgada pela sociedade como prtica publi-
camente legtima e aceitvel. A partir da teoria econmica no possvel
explicar porque as calas satisfazem, por regra, as necessidades masculinas,
ou as saias as necessidades femininas. A dimenso material do consumo
s por si no existe. As foras materiais da produo no contm nenhuma
ordem cultural mas meramente um conjunto de possibilidades fsicas e cons-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 141
trangimentos selectivamente organizados pelo sistema cultural (. . . ) (Sahlins,
op.cit: 207).
O consumo assenta em necessidades mas no se pode ignorar que essas
necessidades variam de acordo com um sistema cultural. As mesmas necessi-
dades enviam o consumo para sistemas simblicos diferenciados. Eis porque
os homens usam as calas como smbolo da masculinidade ou as mulheres as
saias como smbolo da feminilidade. Os objectos disponveis para o consumo
s existem se forem dotados de signicao que providenciar que eles pos-
suam utilidade. Portanto, a concepo de utilidade socio-cultural diverge da
denio econmica. O que til so apenas os objectos que contenham sig-
nicao social previamente instituda pelo sistema simblico-cultural. A uti-
lidade enderea-nos para a satisfao de intuitos sociais e no exclusivamente,
como pretende a teoria econmica, para a satisfao biolgica ou natural. O
consumo s pode ser compreendido a partir das suas premissas culturais como
sistema diferencial de signicaes socialmente atribudas. Neste caso, a so-
ciedade, e no tanto o indivduo, a avaliar as vantagens e as desvantagens dos
produtos de consumo e a decidir o seu valor.
Se a produo um momento funcional do processo cultural, ento, a ra-
zo econmica deve partilhar o seu domnio no consumo com um outro tipo
de razo: uma razo simblica ou cultural que codica em termos de signi-
cao social o desenvolvimento da relao entre procura e oferta
14
. Uma
razo cultural signicante que salienta no tanto o mundo material (que no
distinguiria o homem dos outros seres vivos) mas de uma cultura material
que esquematiza antropomorcamente o consumo dos objectos. A qualidade
decisiva da cultura no a conformao a constrangimentos materiais, mas a
adaptao a um determinado esquema simblico, um de entre vrios possveis
(Sahlins, op.cit: VIII).
Tentando aproximar as duas racionalidades a econmica e a simblica
sublinhamos que o lugar hodierno da produo simblica se situa em estreitos
laos com o mercado econmico, ao contrrio do que acontecia nas socie-
dades orais (ditas primitivas) em que o lugar institucionalizado da produo
simblica era o parentesco e a ddiva. Assim, estas duas racionalidades con-
vivem de perto, no podendo ser compreendidas isoladamente, ou colocando
14
De acordo com esta sugesto, a publicidade demonstrativa com os seus anncios comer-
ciais (advertisement) ocupar-se-ia exactamente da gesto da procura e da oferta pela inculcao
de signicados sociais privados e comerciais, mas que aparentam ser pblicos e consensuais.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
142 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
entre parnteses essa relao simbitica. Necessidades naturais e valorizaes
simblicas so, pois, indiscernveis nas sociedades contemporneas, embora,
seja a dimenso simblica que subordine a dimenso econmica.
2.2.4 A Prodigalidade
Acrescentemos um argumento de penalizao de uma abordagem exclusiva-
mente econmico-utilitria do consumo. O consumo, perspectivado segundo
uma razo simblica ou cultural, admite outras lgicas de funcionamento para
alm das de amealhamento e de conteno do supruo ou da despesa. A in-
terpretao do consumo marcado pelo signo socio-cultural deixa de se reger
pela produtividade para consignar o dispndio, o esbanjamento, a improduti-
vidade, ou se quisermos ser mais rigorosos, a despesa improdutiva. Trata-se
de uma radical inverso dos princpios e fundamentos da teoria econmica.
O princpio da utilidade reivindica a aco humana racional, reduzida s
necessidades fundamentais de conservao. Todavia, a actividade do homem
no inteiramente redutvel aos processos puros e simples de produo e con-
servao. Do outro lado do princpio da utilidade est o princpio da perda
e das despesas aparentemente aprodutivas e improdutivas, forma de excluso
dos modos de produo que fazem derivar o consumo. Tal como a energia so-
lar metaforiza o princpio do desenvolvimento exuberante, essncia de riqueza
que oferece tudo sem nada receber, tambm a acumulao tem como contra-
partida uma natureza efervescente, radiante e perdulria (Bataille, 1967: 66).
A uma economia onde a raridade e o lucro so os ditadoras, existe essa econo-
mia do cosmos, matria dinmica que se avulta em excesso e em pura perda.
A perca deve ser a maior possvel para que adquira verdadeiro sentido social.
Os luxos, as guerras, os cultos, as imolaes, os espectculos, os monumen-
tos, os jogos e as festas, as artes ilustram o princpio da perda. O colar de
diamantes adquire o seu valor devido implicitao da perda de um enorme
valor material; os desportos (em especial os perigosos) so estimados pela
inerente perda da vida saudvel e segurana manifestando a magnanimidade
com que arrisca o indivduo perder a competio (ou a vida).
O carcter funcional da despesa improdutiva a manifestao nietzschea-
na de soberania social que se permite destruir recursos e bens, consumi-los e
consum-los. A luta pela existncia social a beligerncia pela ambio, pelo
ter mais, melhor e muitas mais vezes, mas t-lo ostentando-o e desperdiando-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 143
o. A despesa inclui uma aura de poderio, superioridade e mesmo autoridade,
conforme observa Marcel Mauss: o chefe da tribo no faz perdurar a sua
autoridade sobre a aldeia se no manifestar a sua fortuna e no pode provar
essa fortuna seno gastando-a, distribuindo-a, humilhando os outros, pondo-
os sombra do seu nome (Mauss, 2001: 116). Todo o instinto de conservao
cede superioridade do homem que despende a sua fora na superuidade. A
riqueza no tem, em nenhum caso, a funo de situar aquele que a possui ao
abrigo da necessidade. Ela permanece, e com ela o possuidor merc de
uma necessidade de perda desmesurada que existe num estado endmico em
qualquer grupo social (Bataille, op.cit: 35). Os patrcios romanos pagavam
(patrocinavam
15
) jogos de gladiadores e corridas de aurigas como sintoma da
sua riqueza e poder que se dava ao luxo no de produzir ou acumular mas
de levar uma vida ociosa e dissipatria em termos materiais. O prestgio
individual de um chefe e o prestgio do seu cl esto mais ligados ao gasto
(. . . ) O consumo e a destruio existem a sem limites (. . . ) ver quem ser
o mais rico e tambm o mais louco gastador. O princpio do antagonismo e da
rivalidade funda tudo (Mauss, op.cit: 109).
O homem encontra-se na encruzilhada entre a alternncia da austeridade
cumulativa e da prodigalidade consumatria, dito por outras palavras, entre
uma racionalidade econmica e uma racionalidade simblica. Mas esta tende
a sobressair. A moral dilapidatria de Bataille (claramente glosando o ber-
mensch) um atentado terico feliz contra o pensamento utilitrio dominante.
A questo basilar, conrmada pela sociedade de abundncia, pois: como
utilizar o excedente?
O carcter secundrio da produo e da aquisio face despesa impro-
dutiva facilmente reconhecido na economia primitiva das sociedades no-
letradas onde o sistema de intercmbio recproco, simultaneamente livre e
obrigatrio, de objectos se pode considerar como uma perda sumpturia
16
.
A ddiva formula-se na aquisio de prestgio exactamente pela perda mate-
rial, pela sua cedncia ao sistema inter-tribal de troca. O poder do homem
caracteriza-se como o poder de poder perder, o poder de possuir muito que
15
Talvez a etimologia da palavra patrocnio derive da palavra patrcio.
16
Atente-se que deste ponto de vista a economia mercantil fundada na troca de mercado
no poder ser considerada como descendente da troca antropolgica primitiva, como ensina
a cincia econmica. Ancorando-se na despesa sumpturia, a troca primitiva exactamente o
contrrio da troca mercantil.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
144 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
esbanjar ligando, assim, a honra e a glria capacidade perdulria. A des-
truio solene, o sacrifcio do sobejo o desao social entre indivduos que
os aproxima pela partilha e se congura, no como prtica economicamente
vexatria mas socialmente estimada.
A troca j no tem um m aquisitivo e produtivo mas dilapidatrio e im-
produtivo. Firma-se na relao social. A despesa improdutiva assume-se
como um dever funcional da riqueza, a ostentao da prodigalidade preen-
chendo a lacuna deixada em aberto pelas explicaes economicistas das rela-
es entre o homem, o objecto e o consumo.
Os indivduos aanam a sua subsistncia material e a sua soberania so-
cial, no em termos cumulativos e utilitrios mas em termos da capacidade de
exercer a despesa insubordinada e livre.
2.3 A Lgica Social do Consumo Radiograa do ho-
mo consumans
Pelas consideraes que temos vindo a tecer podemos concluir que, se exis-
tem duas racionalidades antagnicas que operam no fenmeno do consumo,
temos, tambm, de separar duas concepes de consumo. Esta palavra tornou-
se imprecisa e insuciente, mostra-se curta perante aquilo que vimos disser-
tando.
Duas denies de consumo implicam que em cada uma delas sejam con-
vocadas diferentes entidades. Com efeito, se a abordagem da cincia econ-
mica disseca um homo oeconomicus, o consumo perspectivado sob o olhar
da razo simblica e de um panorama socio-cultural ou socio-antropolgico
requer que pensemos numa outra dimenso humana: o homo consumans. A
utilizao prosaica do termo consumo esconde dissidncias fundamentais
no seu signicado aglomerando na mesma palavra acepes muito dspares.
Ora esses sentidos correspondem justamente s duas signicaes que con-
sumo pode abranger para o homo oeconomicus e para o homo consumans.
At agora temos, por uma questo de clareza de exposio, ignorado am-
bas as acepes mas incontornvel a sua distino. O consumo do homo
oeconomicus pauta-se pela sua funcionalidade, enquanto que o consumo do
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 145
homo consumans versa um consumo societal identitrio e experiencial, ou
seja, caracteriza-se por ser consumao
17
.
Discriminemos que para a anlise econmica, o homem consome (do la-
tim consumere), isto , gasta, faz desaparecer pelo uso, desfaz, emprega o seu
tempo numa actividade, esgota o seu oramento nalguma actividade. Nesta
acepo, o homem consome comprando, isto , troca o seu dinheiro por um
produto, utiliza-o, aproveita-o e usa-o. O sujeito econmico relativiza o ob-
jecto a si, apropria-se dele, ininge-lhe o seu manuseamento tornando-o uma
mera matria inerte e instituindo uma relao simplesmente instrumental. O
indivduo consome, no o produto ou a mercadoria, mas a sua utilidade, con-
some a prpria valorizao que lhe adjudicou. Neste entendimento, consumir
um acto de suprimento individual de necessidades especcas, pilar da estru-
tura de produo e do mercado. Consumir sinnimo de riqueza, de possuir
dinheiro e opera no mbito do crescimento da economia.
Porm, o homo consumans no consome, ele consuma. Em vez da pro-
duo fsica do mundo, a consumao rege-se improdutivamente em torno da
construo simblica. Na enunciao socio-antropolgica, o homem social
(zoon politikon) separa-se da dimenso econmica do mundo, autonomiza-se-
lhe para empreender um acto colectivo de consumao (do latim consumare),
acabar, somar, devorar, esbanjar, destruir ou dissipar. Acto de completao
e ultimao, aco de concluso, a prtica social de consumar corresponde
prodigalidade, a esse modo de funcionamento que inverte as polarizaes
da economia a favor do excesso e da perdularidade. O dispndio e o esban-
jamento correm paralelos concluso, ao acabamento e destruio. Mas
derruba para, de seguida, erigir, para logo depois demolir, e sucessivamente
construir de novo, crculo de vcios e de virtudes que mantm e faz perdurar as
relaes do homem sociedade. Atitude continuada e permanente que permite
a acabada reconstruo do social, ciclo de feitura que passa pela sua prpria
anulao. Porque se a consumao fosse consumo, ela consumia-se a si pr-
pria, sufocava-se, impedia-de de estabelecer e restabelecer os laos societais.
A consumao no se consome, destri-se como etapa da sua reconstruo.
17
Poder-se-ia distinguir entre um animal consumans, prprio da compulsividade natural que
deve prover sustento ao corpo, de um homo consumans, agente societal e poltico (na acepo
aristotlica) que se implica colectiva e intersubjectivamente numa cultura material objectual.
Assim, o animal consumans apenas pode consumir, enquanto que ao homo consumans est
reservada a capacidade de empreender processos de consumao.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
146 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
Como uma planta que crescendo no tem mais terra disponvel para espraiar
as suas razes, assim o esboo traado pela teoria econmica do consumo.
Por oposio, a consumao fortalece as relaes intersubjectivas
18
medida
que se faz e destri, obtendo espao para novas subjectividades surgirem.
Ao contrrio do consumo, as matrias-primas da consumao no so es-
cassas nem se esgotam. Na consumao, o objecto j no se gasta, no se
perde, troca-se. um puro veculo de circulao dos sentidos, de transitivi-
dade das relaes sociais, de passagem de identidades colectivas partihadas
reunidas sobre um objecto. Consumar experimentar sacricar o aparente
insacricivel (para a teoria econmica): a identidade individual, que con-
frontada com outras identidades individuais numa interaco consensual de
reciprocidades. Para l da estrita consumao (consumation) que signica
essencialmente a destruio de um bem, pode-se compreender a consumao
de forma mais genrica como um conjunto de prticas pelas quais os indiv-
duos manipulam e cambiam o valor e o sentido. Por este facto, a consumao
no reenvia unicamente a um processo econmico de optimizao da utilidade
em funo de recursos limitados, mas tem em conta um processo existencial
(no sentido em que no afecta a existncia seno na periferia) englobando di-
menses afectivas, hedonistas, emocionais, simblicas, logo, sociais (Heil-
brunn, 2005: 15).
Devemos reconhecer a consumao como prticas signicantes e identit-
rias pelas quais os indivduos se denem pela criao conjunta do signicado.
Ela , acima de tudo, uma cambiao do sentido. No a utilizao funcional
de bens e servios. Consumar coloca-se na esfera das signicaes culturais,
no mundo simblico do homem; est muito distante do mundo natural do
homo oeconomicus.
A consumao gura como um mecanismo de transmisso socio-cultural
associado a esquemas culturais relativos aos objectos. Ela inscreve-se no con-
junto de meios que os homens dispem para moldar uma memria colectiva,
ao mesmo tempo que enceta uma cultura material com modos prprios de
representar e categorizar os objectos de consumao, e por conseguinte, as
prprias relaes intersubjectivas. Os objectos esto carregados de histria,
18
Se as revigora muito ou pouco isso assunto para uma outra oportunidade. Repare-se que
esta armao no entra em contradio com o que foi armado na parte I. Adorno e Horkhei-
mer no negavam os processos intersubjectivos na cultura de massa, apenas os reduziram a um
mnimo inconsequente, de uma intersubjectividade sem sujeitos.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 147
afectos e sentimentos formando um depsito sedimentar de memrias pesso-
ais que possibilita a abertura de uma passagem do tempo e do espao na direc-
o de episdios j acontecidos. Os objectos formam, assim, um dos pilares
da organizao do mundo sentimental ntimo, fragmentando a nossa experin-
cia social segundo acessos mnmnicos ordenados materialmente. Esta faceta
anamnsica que os objectos possuem obriga-nos a pensar nas suas proprieda-
des relacionais e na sua tarefa mediadora das relaes interpessoais. Focali-
zado sobre a necessidade e a utilidade, o consumo (econmico) no foi capaz
de perceber que o principal motor da consumao societal e que propulsi-
onado pelo desejo. certo que necessidade e desejo tendem a resvalar entre
si deslizando-se reciprocamente. Como declamava Fernando Pessoa na voz
de Bernardo Soares, no Livro do Desassossego, humano querer aquilo que
nos necessrio, como humano desejar, no aquilo que necessrio mas
aquilo que consideramos desejvel. Trata-se do desejo colectivo eudomonista
e no individual hedonista. A consumao movida pelo desejo, no o desejo
ntimo ou singular mas o desejo desejado. A utuao desejante impede que
ele seja denido a no ser como triangulao, alis como vimos na parte I. O
que fascina no objecto de desejo, fazendo dele um aspecto pregnante da con-
sumao, o facto de ele aparecer como objecto de desejo de outra pessoa. O
outro assinala-me como cobivel o objecto do meu desejo que eu seria inca-
paz de pretender s por mim mesmo, sem indicao do seu elevado grau de
desiribilidade. O desejo , assim, um produto constitudo pelo social e cons-
tituinte do social. Porque o que algum tem por cpido serve como modelo
para os restantes. E o que algum ambiciona j modelo. a falta, o fosso
entre o desejar, o ter e o ser desejado por outrm que inaugura a consumao.
O desejo no deseja a satisfao; o desejo deseja o desejo (Bauman, 2000:
47), mantm o sujeito em ebulio e aberto seduo de ser seduzido.
Na verdade, o que o desejo revela a consumao da ideia ou do valor
cobiados, no propriamente o objecto em si. O produto o pretexto do m
maior que a colocao considerao dos indivduos de ideias geradoras
de solidariedade social. A consumao da ordem das relaes entre signi-
caes, da ordem do estabelecimento de conexes entre pontos afastados.
O papel do desejo no consumo (consumption) moderno importante porque,
sem consumidores ou potenciais consumidores socializados de tal forma que
procuram a satisfao dos seus desejos nos bens e experincias de consumo
modernos, as relaes sociais e culturais que sustentam o sistema econmico
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
148 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
do moderno capitalismo iriam colapsar (Bocock, 1993: 75). O indivduo
pretende assimilar o desejo de outrm desejando-o, e s nessa medida acaba
por pretender consumir uma mercadoria ou produto. O desejo um uxo que
progride uidamente. Consumar envolve signos e smbolos, no coisas ou
produtos materiais (Bocock, op.cit: 68). um processo ldico de smboliza-
o, no a satisfao de necessidade materiais.
A consumao opera na actualizao do desejo prodigalidade e funci-
ona como prova ritual da vontade de integrao societal do indivduo. Por
outro lado, o desejo um complemento dos anncios comerciais, da moda e
das relaes pblicas, j que fornece a orientao daquilo que pode e deve ser
apropriado, fazendo um trabalho de transferncia e de associao de atributos
simblicos aos atributos funcionais dos produtos. As condutas de consumo
19
,
aparentemente orientadas e dirigidas para o objecto e para o prazer, correspon-
dem, na realidade a nalidades muito diferentes a da expresso metafrica
ou desviada do desejo, a da produo por meio de signos diferenciais de um
cdigo social de valores. No determinante a funo individual de interesse
atravs de um conjunto de objectos, mas a funo instantaneamente social de
troca, de comunicao e de distribuio dos valores atravs de um conjunto de
signos (Baudrillard, 1995a: 78). No fundo, o desejo que se move navegando
pelo tecido social assinala as axiologias que preciso respeitar com vista as-
similao do indivduo no seio da sociedade. Em sociedades desprovidas, ou
melhor, enfraquecidas de instituies que assegurem a coeso social, a consu-
mao, por intermdio do desejo, opera essa funo reagrupando os sujeitos
volta dos objectos.
tendo o conceito de desejo no centro da problemtica que possvel
aproximar a publicidade e a consumao. Esse apetite da volio tanto cons-
ta da guratividade da publicidade enquanto anseio de assimilao, como da
consumao enquanto anseio de aprovao societal. Se na publicidade est
em jogo o reconhecimento das identidades, na consumao arrisca-se um dos
meios de reconhecimento dessa identidade. A consumao passa pela emula-
o social tal como a publicidade. tambm por isso que se pode pensar a
consumao como possuindo essencialmente uma lgica social, isto , com-
19
A diferena terminolgica entre ns e os autores referidos obriga a fazer uma advertncia.
Mantemos o termo da traduo portuguesa embora a citao deva ser compreendida no seio do
que temos vindo a defender. Portanto, o consumo , nesta situao, sinnimo de consumao.
O mesmo vlido para as citaes subsequentes.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 149
pleta uma funo estrutural da sociedade providenciando recursos ao indiv-
duo para que atinja a integrao social pela manipulao de signicantes de
acordo com um cdigo simblico.
O processo de consumao pode ser avaliado sob trs aspectos basilares.
Em primeiro lugar, relevamos a consumao como processo de classicao,
delimitao e diferenciao social em que os signos, ou melhor, os objectos-
signos se ordenam como valores diferenciais e opositivos que contribuem, em
grande medida, para um sistema estaturio. Nunca se consome o objecto em
si (no seu valor de uso) os objectos (no sentido lato) manipulam-se sempre
como signos que distinguem o indivduo, quer liando-o no prprio grupo
tomado por referncia ideal, quer demarcando-o do respectivo grupo por refe-
rncia a um grupo de estatuto superior (Baudrillard, 1995a: 60). Em segundo
lugar, a consumao pode ser apreciada como um processo de signicao e
de comunicao. Ela revela-se como um sistema de permuta equivalente a
uma linguagem que pretende signicar estruturadamente objectivos sociais
muito concretos. Neste caso, a consumao articula-se como uma actividade
socio-semiolgica. O terceiro aspecto a ter em linha de conta so os fenme-
nos identitrios individuais de integrao social totmica e tribal que se ligam,
directa ou indirectamente, ao acto de consumar e que euem uma dimenso
mitopotica.
Todos estes pilares da consumao sofrem o efeito intenso da mediatiza-
o concretizada pelos dispositivos tecnolgicos de mediao simblica. A
representao tecnolgica da consumao contribui para a difuso e conso-
lidao da dimenso social da consumao, reproduzindo prticas, relevando
valores e rejeitando hbitos. Porm, igualmente um agente activo na produ-
o de necessidades sociais. Assim, os dispositivos tecnolgicos de media-
o simblica desempenham, na cultura de massa das sociedades contempo-
rneas, uma funo especular de divulgao da prdica social, mas tambm
uma funo caleidoscpica que a partir desses reexos das sociedades cria
e implementa efeitos de sentido e tonalidades que geram novas prticas e a-
xiologias. A lgica social da consumao no deve, por isso, ser dissociada
da sua dimenso tcnica, nem das estratgias da indstria cultural que nela
perpassam. De facto, observa-se uma propenso a uma certa colonizao da
cultura por parte do econmico (nomeadamente na prerrogativa da rentabi-
lidade). A lgica econmica tende a operar a partir de dentro da lgica da
cultura.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
150 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
Principiemos pela anlise da consumao do ponto de vista da demarcao
social e do seu efeito nas estruturas societais de classe.
2.3.1 A Consumao como Discriminao
O acto de consumar, isto , a atitude de utilizar, pela aquisio ou troca, um
objecto com ns eminentemente societais, passa pela classicao, categori-
zao e ordenao das classes sociais que compem a estrutura societal. A
consumao assegura uma visibilidade dos indivduos que por esse acto se
fazem incluir ou excluir numa dada estraticao social. O consumo social
de um objecto funciona segundo convenes, graduaes e hierarquias que
visam distribuir inequivocamente os indivduos por conjuntos homogneos de
caractersticas socio-econmicas e de estilos de vida que permitam socie-
dade a rpida identicao dos indivduos. A consumao passa, assim, por
estratgias dos actores sociais que tm por objectivo a sua distino honorca
e a sua integrao em crculos sociais determinados. A utilizao dos objec-
tos que cada um desenvolve contribui, em larga medida, para a quadrcula da
sociedade, para a fomentao de lgicas de conformidade, e para a dinami-
zao e reconstruo de estruturas sociais que se caracterizam pela rigidez e
imobilidade (status quo).
Os objectos consumam-se. Signica isto, no seu mago, que participam
de uma lgica circulatria que serve de sustentao manuteno material e
social da cultura. Desse modo, os prprios objectos no s materializam a
cultura como permitem pensar sobre ela denunciando os princpios que es-
to por detrs da sua valorizao como objectos. A desiribilidade dos bens
est na dependncia de um sistema cultural de regras de percepo em que as
fronteiras do consumvel coincidem com as fronteiras socio-culturais. Essa
composio mental induz prticas sociais que inscrevem o indivduo no seu
grupo social, ou o excluem se transgride as perscries implcitas. A consu-
mao uma prtica classicatria que existe num sistema prescritivo entre a
imposio e a interdio de obrigaes e de normas. Os objectos de consuma-
o so objectos culturais pois o seu uso submete-se a trs tipos de regras que,
de acordo com Claude Lvy-Strauss, permitem organizar uma cultura: regras
de interdio que proscrevem os modos do fazer, do pensar e do ter; regras de
permisso que autorizam a prtica social; e regras de prescrio, regras com-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 151
portamentais que so implicitamente aceites, como por exemplo o cdigo da
indumentria e da alimentao (Heilbrunn, 2005: 58-60).
O modo como uma classe social desenvolve a sua ociosidade em ntima
articulao com as prticas da consumao, bem como o conceito de gosto,
fornecem-nos dois modelos de anlise da consumao como actividade de
categorizao. Esta discrimina (discretio): no s porque separa e interrompe
as ligaes entre diferentes classes sociais, como discriminando ela permite a
assimilao, unio e coeso de uma dada classe social.
Aquilo a que Thorstein Veblen designou por classe ociosa (leisure class)
no apenas nos permite ilustrar empiricamente a dimenso perdulria da con-
sumao, como tambm nos oferece a possibilidade de constatar o fenmeno
discriminativo da consumao.
Do ponto de vista das prticas de consumo, a nossa sociedade pode ser
vista como uma variao da vida tribal que uma cultura predatria (preda-
tory culture). Esta adoptou uma diviso do trabalho segundo a ideia de que
os indivduos com maior estatuto social monopolizavam as tarefas blicas de
caa e de conquista ou manuteno de territrios, enquanto que o cultivo e o
cozinho eram vistos como formas menores de trabalho. Assim que o grupo
social blico conquistava novos domnios, ele subjugava os seus habitantes
entregando-lhe as tarefas menos importantes do trabalho. A sociedade mo-
derna uma adaptao funcional destes princpios de classicao social
20
(Veblen, 1994: 1-13). Tambm os patrcios romanos, e antes deles os gre-
gos, praticavam a abstinncia do labor como forma de distino social, modo
peculiar de assinalar pela improdutividade a sua ascendncia social.
Do mesmo modo, a sociedade moderna, que resulta da passagem de uma
cultura predatria ou brbara para uma cultura pecuniria, apresenta uma
classe ociosa que longe de se preocupar com a acumulao, dispende o seu
tempo em tarefas fortuitas visando criar uma distncia simblica entre si e o
mundo da necessidade de trabalhar a que pertence o vulgo da populao. Ao
pretender demarcar-se, a classe ociosa rejeita os determinismos econmicos
(que esto na base da sua possibilidade aprodutiva) a favor do dispndio que
elevam o indivduo a uma dignidade que a maioria no possui. O fausto in-
sgne e prestigiante da ociosidade conspcua (conspicuous leisure) consiste,
20
Um argumento a favor deste esquema de pensamento ancestral o facto dos trabalhadores
manuais auferirem, em mdia, menos rendimentos dos que os trabalhadores do sector tercirio
cuja funo menos importante do ponto de vista da subsistncia naturo-siolgica.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
152 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
pois, na absteno conspcua do trabalho e na iseno da empregabilidade do
seu esforo fsico na tarefa de prover o sustento biolgico. O labor um tabu.
A absteno conspcua o ndice do sucesso pecunirio, da riqueza e, conse-
quentemente, da respeitabilidade social. A absteno do labor no apenas
um acto meritrio e honorco como um requisito de decncia (. . . ); a
prova convencional de riqueza e , por isso, a marca convencional de estatuto
social (Veblen, op.cit: 26). O conceito de utilidade reformulado: a utili-
dade, concebida como lazer, o meio de reputabilidade. Em completo anta-
gonismo tica protestante ou aos prncipios da cincia econmica, o tempo
sob a forma de lazer consumido no-produtivamente. Em vez de tempo
dinheiro, difunde-se a crena de que o tempo meritrio. Em vez de per-
seguir a maximizao da riqueza, pretende-se a optimizao do estatuto social
mesmo que isso contradiga o princpio do prazer individual.
Paralelamente ociosidade conspcua, existe um segundo mtodo de tor-
nar uma classe social egrgia face s restantes. Se o lazer sinnimo de
desperdcio de tempo e de esforo, a dissipao de bens d pelo nome de
consumo conspcuo (conspicuous consumption). A reputao dessa classe
de lazer no s alcanada pela sua natureza perdulria em relao ao tempo,
como pela sua extravagncia em relao ao uso pecunirio. O dinheiro torna-
se o medium abstracto e universal de medio da respeitabilidade e da digni-
dade sociais. A base na qual os bens dignicam numa comunidade industrial
altamente organizada rma-se na fora pecuniria; e os meios de mostrar a
fora pecuniria, e desse modo ganhar e reter um bom nome, so o lazer e um
consumo conspcuo de produtos (Veblen, op.cit: 52).
O consumo conspcuo evidencia o esbanjamento de dinheiro e de recursos
econmicos na aquisio social em ordem a apresentar uma magnicncia e
uma sumptuosidade que engrandea o seu proprietrio. Trata-se de uma pr-
tica de consumao que dene as fronteiras entre uma classe ociosa e ilus-
tre e as restantes classes sociais prosaicas. Este consumo sinnimo de um
consumo aprodutivo que, portanto, se norteia pela lgica da prodigalidade.
Consome-se, assim, segundo uma motivao inequivocamente social de dis-
tino e riqueza de acordo com um padro de esbanjamento. Para que [o
indivduo] seja honrado tem de ser perdulrio (wasteful) (Veblen, op.cit: 60).
As regras de etiqueta, os cuidadosos adereos de indumentria, e o cultivo
esttico de que a classe abastada se faz signicar socialmente, exemplicam
a meticulosidade e os preciosismos que simbolizam o luxo dessa classe con-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 153
sumatria de no-labor podendo, assim, dedicar-se a pormenores nmos que
mais no querem dizer do que a total disponibilidade para o cio. Gostos
renados e gestos comedidos mostram como s aqueles que se distinguem
socialmente pela riqueza podem consagrar tanto tempo e energia a essas acti-
vidades.
Algumas observaes podem ser feitas quanto aos corolrios do consumo
conspcuo na sociedade. Tal como as mulheres foram, ao longo dos tempos,
trofus de guerra
21
, a dona-de-casa serve como trofu ostentatrio do su-
cesso do seu marido. O seu consumo vicrio (vicarious consumption) em
todo o tipo de produtos e reas, desde a domesticidade at aparncia pes-
soal funciona como uma prtese conspcua do homem que, por intermdio da
esposa, delega o consumo engrandecendo, ainda mais, o seu prestgio pelo
modo como pode dispensar recursos pecunirios. Por outro lado, escreve Ve-
blen, a grandiloquncia das igrejas pode ser observada como um desperdcio
de espao fazendo da religio uma forma de consumo conspcuo.
Em relao convivncia entre a classe da prodigalidade e as classes tra-
balhadoras, pode-se armar que no existem beligerncias uma vez que entre
ambas se estabelece um certo pacto social. A hostilidade que o luxo, a ociosi-
dade e a ostentao poderiam suscitar apaziguda pela oferta, por parte desse
homem-conspcuo, da sua vida privada curiosidade divertida e recreacional
das classes trabalhadoras (Herpin, 2004: 25). Presenteando a sua prpria vida
em revistas de sociedade, publicaes ou programas televisivos e radio-
fnicos de entretenimento a classe ociosa consegue a manuteno do seu
estatuto ao mesmo tempo que alvo de incontida admirao e de reconhecida
emulao pela classe trabalhadora. No entanto, esse acordo subtil envolve que
a classe ostentatria seja prisioneira da sua prpria inactividade, obrigando-
a a produzir incansavelmente a sua prpria improdutividade, o seu cio, a
sua dedicao innita a si mesma em constantes cirurgias plsticas, dietas hi-
pocalricas e obrigaes sociais. O excesso de que frui hipoteca o indivduo
ocioso a elaborar em permanncia a representao social da sua distino com
o ensejo de manter a ordem social em harmonia.
O consumo conspcuo uma forma de trabalho social aprodutivo que con-
tribui para o estabelecimento de relaes sociais estraticados baseadas na
distino conseguida por intermdio da aquisio de objectos. Estes possuem
21
Pense-se no rapto das Sabinas pelos Romanos festejado nas Consulias.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
154 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
a tarefa de categorizar o tecido societal criando um fosso entre si e as restantes
classes sociais. Mas a conspicuidade do consumo pode igualmente ser exa-
minada como um modo de integrao social. De facto, ela uma lmina de
dois gumes. Se, por um lado, ela diferencia pela prodigalidade, esta mesma
dissipao contribui decisivamente para um sentimento de pertena e iden-
tidade colectivas logrados a partir de um sistema rigoroso de prescries de
cannes, padres de consumo e despesas. A pertena classe ociosa supe a
obedincia a uma severa lei de dispndio conspcuo na qual o indivduo mos-
tra a sua grandeza e riqueza no consumo seguindo um estalo de despesas e de
empregabilidade do tempo e do esforo pessoais. Toda a aquisio e destrui-
o ostensiva dos bens obedece a um sentido muito preciso de integrao na
classe social e aceitao por parte de todos da sua dignidade. Na maioria dos
casos o motivo conspcuo do detentor do aparelho de esbanjamento conspcuo
(conspicuous waste) est na necessidade de se conformar ao uso estabelecido
e de viver segundo o padro acreditado de gosto e reputabilidade (Veblen,
op.cit: 104). Hbitos de pensamento e de comportamento invadem o homem
conspcuo inuenciando toda a sua apreciao da vida e instituindo um verda-
deiro cdigo pecunirio de honra. O carcter de cada um dos seus membros
adquire um sentido de comunidade que se coaduna com as normas em vigor
e que opera como um omnipresente aparelho de vigilncia sobre o comporta-
mento de cada um. H uma identidade colectiva a ser preservada evoluindo,
nesse quadro, uma sociabilidade especca rmada no consumo conspcuo ou
consumao. Existe, portanto, uma propenso ao conformismo do indivduo.
Vulgarmente a sua causa um desejo de conformar-se aos usos estabeleci-
dos, de evitar comentrios e reparos desfavorveis, de viver de acordo com os
cannes aceites de decncia no tipo, quantidade e grau de bens consumidos,
assim como no emprego decoroso do seu tempo e esforo (Veblen, op.cit:
71). A estima dos seus semelhantes s obtida pela concisa dedicao de
todas as dimenses da vida ao estatuto pecunirio em vigor e pela sua mime-
tizao com vista sua aceitao plena.
Aclasse ociosa elucida como o consumo pode ser consumao e se apresta
no apenas a uma lgica perdulria, como a uma discriminao positiva e ne-
gativa onde o sentimento de classe se avoluma e engole todas as dimenses
sociais do indivduo. Na sociedade moderna, j no a propriedade dos meios
de produo que importa como clamavam Marx e Engels mas a proprie-
dade dos meios de consumo. Pois mais do que satisfazer necessidades natu-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 155
rais, cumprem-se necessidades sociais de categorizao e de pertena em que
a consumao dirige o indivduo para um sistema de reciprocidades e solida-
riedades.
Um aprofundamento do consumo como lgica social, envolvendo um sis-
tema de atribuies discriminatrias, pode ser granjeado atravs do conceito
de gosto, conceito esse que Veblen intui mas que ser desenvolvido por
Pierre Bourdieu de forma muito inuenciada pelo autor da teoria da classe
ociosa. O gosto a matriz que controla a signicao social dos bens a partir
dos quais as classes sociais se denem. Atravs dele, os indivduos altercam-
se pela melhoria da sua posio na hierarquia social manipulando, atravs do
consumo social ou consumao, as representaes culturais no campo social.
O gosto pode ser considerado como um fenmeno societal e no individua-
lista.
O gosto , por excelncia, um marcador da classe social classicando e
classicando aquilo que classica: os sujeitos distinguem-se pelas distines
que operam fazendo nesse movimento uma sedio de posicionamento social
diferencial. Nesta perspectiva, o gosto a chave-mestra da organizao dos
recursos simblicos jogando, a este nvel, um papel crucial na reproduo
social. Ele a armao prtica e emprica de uma diferena inevitvel que
se forma ao nvel objectivo. Os gostos no so decises subjectivistas ou
produtos individuais mas antes fenmenos sociais resultantes de uma herana
socio-cultural internalizada pelo indivduo. Os gostos no se discutem no
porque todos os gostos estejam na natureza mas porque cada gosto se funda
naturalmente (. . . ), o que o leva a rejeitar os outros como escndalos de contra-
natura (Bourdieu, 2003: 60). Eles determinam o uso dos bens simblicos
e so um operador de distino da classe social que, como escreve Marcel
Proust, se explica como a arte innitamente varivel de marcar as distncias.
O gosto a instncia legitimante das decises, materializa-se no consumo e
dene a pertena a uma classe social que se afasta e distingue das demais.
Ele cria uma distncia contnua que simultaneamente identica e diferencia
as classes sociais.
Resgatando o gosto das doutrinas essencialistas da esttica de modo a po-
der transform-lo em ferramenta da anlise contigente da sociedade, Bourdieu
separa uma esttica kanteana das elites de uma esttica anti-kanteana da cul-
tura popular. Esta caracteriza-se, no pela recusa do prazer sensual imediato
ou pela contemplao, mas pela preferncia do divertimento instantneo e sen-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
156 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
sorial sem tempo contemplao transcendente. A diferena de gostos entre
as classes sociais deriva da experincia esttica e emprica que os indivduos
possuem do mundo: a imediatez do gosto das classes operrias emana da ime-
diatez da sua experincia laboral. As condies objectivas so interiorizadas
num princpio que medeia as condies materiais e as prticas observveis do
grupo social (Miller, 1987: 150-151): o habitus.
Etimologicamente, habitus particpio passado do verbo habere e designa
o modo de ser, a postura aparente e constituinte do indivduo
22
. Ele aponta, de
igual modo, para uma incorporao advinda de um processo de aprendizagem
to visceral quanto natural, um conjunto de formas subtilmente inculcadas de
avaliao do mundo. Os habitus so os aspectos no-discursivos da cultura
que cingemos indivduos aos grupos sociais actuando como uma estrutura que
estimula mas tambm inibe os possveis, uma orquestrao sem orquestra
dotada de improvisaes a partir de um esquema de determinaes. Ele forma
o enquadramento dinmico do senso-comum, uma tbua rasa sobre a qual
o indivduo age na liberdade relativa de acolher o que deseja mas s o que
essa tbua permite receber, pois funciona como manancial das percepes e
apreciaes. O habitus , com efeito, princpio gerador de prticas objectiva-
mente classicveis e sistema de classicao (principium divisionis) dessas
prticas. na relao entre estas duas capacidades que se dene o habitus,
capacidade de produzir as prticas e as obras classicveis, capacidade de di-
ferenciar e de apreciar estas prticas e os seus produtos (gosto), que se cons-
titui o mundo social representado, o mesmo dizer, o espao dos estilos de
vida (Bourdieu, op.cit: 190). O habitus uma estrutura estruturante (modus
operandi) que organiza as prticas e a sua percepo, e uma estrutura estru-
turada (opus operatum) que incorpora essas mesmas estruturas. Denotando
a inuncia do Estruturalismo francs, Bourdieu declara que cada condio
denida pelas propriedades intrnsecas e pelas propriedades relacionais que
d a sua posio no sistema de diferenas distinguindo tudo aquilo que ela no
e tudo aquilo a que a condio se ope. A identidade social emerge na dife-
rena (Bourdieu, op.cit: 191). A identidade social dene-se, na diferena, por
prticas classicatrias que se ligam interiorizao do conjunto de prdicas
que permitem distinguir uma classe. Os estilos de vida so produtos sistem-
22
No provrbio portugus o hbito faz o monge a palavra hbito tem o sentido etimol-
gico original que signica aparncia, aspecto exterior ou carcter.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 157
ticos do habitus que, nas suas relaes mtuas, se tornam signos socialmente
qualicativos.
O habitus uma necessidade feita virtude, uma naturalizao das prefe-
rncias que se forma quando um sujeito social se inclui num estilo de vida
e, por consequncia, numa classe social. Como tal, o sistema de necessida-
des insere-se por inteiro na coerncia sistematizada de um habitus. Este ,
como se percebe, o princpio que preside aos gostos. O gosto a propenso
e a predisposio apropriao (material e simblica) de uma determinada
classe de objectos e prticas classicatrias e classicadas; a frmula gene-
rativa do estilo de vida que se entende como conjunto unitrio de preferncias
distintivas que se exprimem simbolicamente na indumentria, no mobilirio,
et caetera. Portanto, o gosto o operador prtico da transmutao das coi-
sas em signos distintos e distintivos, das distribuies contnuas em oposies
descontnuas: ele faz aceder as diferenas inscritas na ordem fsica dos corpos
ordem simblica das distines signicantes (Bourdieu, op.cit: 194-195).
No fundo, a relao de distino est objectivamente inscrita.
Dito de outra maneira, o habitus um mecanismo enrazado no sujeito
social de internalizao de normas e (pre-) disposies materiais pelas quais
os indivduos alentam a diligncia de melhorar as suas posies no campo
social pelo consumo e pela manipulao de bens e representaes culturais.
A lgica do estigmatizado lembra que a identidade social uma luta na qual
o indivduo ou o grupo estigmatizado (. . . ) no pode ripostar percepo
parcial que o encerra numa das suas propriedades seno enfatizando, para
se denir, a melhor das suas propriedades lutando, geralmente, para impor o
sistema de classicao mais favorvel s suas propriedades ou, ainda, dando
ao sistema classicatrio dominante o contedo que melhor caracteriza aquilo
que ele (Bourdieu, op.cit: 554).
Tal conseguido pela reclamao da superioridade dos seus gostos como
modo caracterstico de legitimar e reconhecer a sua prpria identidade. Os
objectos sociais so consumidos, ou melhor, consumados, de acordo com um
gosto previamente determinado por um habitus, com o intuito de actualizar o
sentido pessoal de identidade e classe social a que o indivduo pertence. O
indivduo conspcuo de Veblen consumia socialmente de acordo com cannes
de conscupiosidade ditados pela pertena classe ociosa. Os conceitos de
habitus e de gosto de Bourdieu permitem perceber o funcionamento pro-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
158 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
fundo dessa pertena de classe e o modo como ela determina, e determinada,
por condies objectivas de que faz parte o consumo social ou consumao.
Os gostos so, pois, disposies adquiridas que servem para apreciar e
diferenciar estabelecendo um campo de diferenas por uma operao de dis-
tino (diacrisis (grego) ou discretio (latim)), entendida como faculdade de
separao discriminante que tanto rene como exclui. Sinteticamente, pode-
se interpretar o habitus e a distino social como discriminao segundo dois
sentidos fundamentais: o habitus como matriz das classicaes, gostos, ne-
cessidades e estilo de vida. Neste sentido, o conceito de Bourdieu um com-
plemento importante anlise de Veblen j que os objectos so manipulados
estrategicamente como ndices de estatuto social, como pees no tabuleiro de
xadrez; num segundo sentido, o habitus um mecanismo classicado, agluti-
nador do indivduo emclasses sociais que desempenhamumpapel municiador
de identicao social e conformismo. Neste caso, a distino opera, no por
segregao mas por agregao de identidades sociais partilhadas em oposio
s outras classes. A obra de Bourdieu permite ir mais alm do que Veblen
no consumo como prtica discriminativa. O consumo envolve uma basilar
dimenso social gurando como consumao. Ele um conjunto de prti-
cas societais e culturais que no apenas expressam diferenas (Veblen), como
tambm estabelecem diferenas entre grupos sociais. A consumao como
discriminao implica pensar na distino e no distinguido, sabendo separar
(modus operandi) mas sabendo agregar aquilo que foi separado devido a uma
distino prvia (opus operatum).
A identidade colectiva que ocorre na actividade da consumao conce-
bida como sendo diferencial (adquire-se a identidade na diferena), dialgica
(negoceia-se a identidade com os outros actores sociais) e temporal (a identi-
dade no um estado mas um processo) (Heilbrunn, 2005: 104). Ela articula
trajectrias que integram lgicas referenciais de pertena e lgicas diferen-
ciais de outros grupos sociais. H uma acesa tenso entre uma tendncia
assimilao e uma vontade de diferenciao
23
. Estes instintos completam-se
num ciclo de retorno pois a vontade de diferenciao de um grupo social im-
plica a vontade de assimilao num outro grupo social. Nunca se pode escapar
a estes dois plos.
23
O mesmo registado a nvel individual com os instintos de assimilao (pertencer ao
grupo dos fumadores) e de diferenciao (no pertencer ao grupo dos fumadores mas pertencer
ao grupo dos saudveis).
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 159
Com vista manuteno das identidades sociais, necessrio manter a
distncia social de modo a que as prticas de consumo no sejam apropriadas
por outras classes eliminando, dessa maneira, o carcter distinto da classe.
Neste contexto, o conhecimento dos modos de armar o estilo de vida im-
portantssimo como meio de evitar a colagem de classes sociais a essas pr-
ticas, o que provocaria a anulao da distino entre classes. As revistas, os
livros prticos, os programas televisivos, as actividades de conhecimento pes-
soal e de lazer so actualmente os modos que as classes sociais encontram
para gerarem valor cultural e social e desse modo continuarem a criar um
fosso emprico nos estilos de vida como forma classicante e classicada. As
empresas dos dispositivos tecnolgicos de mediao simblica encarregam-
se, assim, de municiar os indivduos com valores distintivos e discriminativos
(cf. Featherstone, 1991: 19).
2.3.2 A Consumao como Processo de Signicao e de Comu-
nicao
Ainda que discernamos entre processo de discriminao e de classicao
e processo de signicao e de comunicao, existem aspectos comuns que
permitem estudar estas duas faces da consumao a partir de uma certa con-
tinuidade. Quando um indivduo consome com propsitos eminentemente de
distino, estatuto ou de expresso magnicente da despesa, ele est a co-
municar intenes muito claras de discriminao, tanto da sua classe para as
outras, como no seio dos indivduos da sua prpria classe social. A prtica
do consumo um impulso consttuido socialmente que forma um enunciado
quanto s intenes sociais do indivduo. Com efeito, a diferenciao social
s pode ser entendida cabalmente luz de uma teoria semiolgica que arraste
o objecto de consumo das malhas de uma economia poltica sustida pelo valor
de uso e valor de troca da mercadoria, para uma economia poltica do signo
onde o prestgio associado mercadoria emerge do valor-signo. Enquanto
que a Economia Poltica funciona a coberto da utilidade (necessidade e va-
lor de uso) que se subordina a uma racionalidade econmica onde se ergue
um sistema lgico e coerente de produtividade, a Economia Poltica do Signo
exerce-se a coberto da funcionalidade (nalidade objectiva homloga da uti-
lidade) e construo da signicao no quadro de um sistema diferencial e
opositivo (Baudrillard, 1995: 198). O novo princpio a funcionalidade, ou
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
160 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
seja, a qualicao da coerncia de um objecto-signo com todos os outros, a
sua comunicabilidade e adaptao ao sistema de valor-signo. A funcionali-
dade de modo nenhum qualica a subordinao a um objectivo mas a adap-
tao a uma ordem ou sistema (. . . ) A funcionalidade do objecto o que lhe
permite transcender a sua funo principal na direco de uma segunda, de
tomar parte, de se tornar um elemento de uma combinatria, um item ajustvel
dentro de um sistema universal de signos (Baudrillard, 2005: 67).
A consumao no se sela pela possesso dos objectos, nem tampouco
como simples atributo de prestgio pessoal. As diferenas tornam-se material
de troca e o consumo dene-se como sistema de comunicao e permuta,
como cdigo e signo continuamente emitidos, recebidos e inventados como
linguagem (Baudrillard, 1995a: 94). Tal como os fonemas se constituem em
unidades signicativas e distintivas num sistema lingustico, assim os objectos
conquistam sentido na diferena com os outros objectos.
esta funo de troca social de signicados que apartam os objectos de
consumao de uma lgica no-produtiva para os inserirem num sistema de
trocas simblicas em que os indivduos se encontram reciprocamente implica-
dos. Os princpios do consumo social, ou consumao, traduzem-se na lgica
do signo e da diferena e envolvem a distino entre a lgica funcional do
valor de uso ou lgica das operaes prticas, a lgica econmica do valor
de troca ou lgica da equivalncia, a lgica da troca simblica ou lgica da
ambivalncia, e a lgica do valor-signo ou lgica da diferena. Em cada uma
destas lgicas, o objecto toma a forma respectivamente de utenslio, mercado-
ria, smbolo e signo (Baudrillard, 1995: 55).
Os objectos distinguem, no pelo seu valor de uso mas pelo seu valor-
signo o valor de uso torna-se um libi ou um satlite que existe na sua
gravitao em torno do valor-signo organizado em torno de um cdigo es-
trutural no decifrvel pela lgica do capital mas pela semiologia. guisa de
uma estrutura de signicados de um aparelho lingustico, os objectos podem
ser analisados segundo as suas oposies binrias, regras e padres de forma-
o, de maneira que emerge um mundo estruturado de signicados. O con-
sumo de objectos no uma actividade passiva de absorpo e apropriao;
congura-se, pelo contrrio, como uma forma activa de relacionamento so-
cial, uma verdadeira instituio social que constrange e inuencia os compor-
tamentos individuais.
A consumao a organizao objectiva de um discurso coerente e prima
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 161
pela manipulao sistemtica de signos. Para que um objecto possa integrar
o processo de consumo social ou consumao, ele tem imperiosamente de
converter-se em signo. O seu signicado deriva da relao oposicional em
relao aos outros objectos-signos. Como tal, um objecto s pode ser con-
sumado, no na sua materialidade ou utilidade, mas na sua diferena ou fun-
cionalidade. O objecto-signo manipulado como signo, o mesmo dizer,
como diferena codicada. A sua profuso evidencia a imposio do cdigo
como regedor do valor social o que signica a opacidade das relaes inter-
pessoais. O objecto tornado signo no ganha o sentido a partir da relao
concreta entre dois indivduos mas na relao diferencial com os outros sig-
nos. As signicaes no so nsitas materialidade do objecto mas nascem
da indexao de propriedades que o objecto-signo adquire nas suas relaes
estruturais diferenciais. A consumao no opera por referncia objectuali-
dade mas em relao relao social a inaugurada na signicao ausente do
objecto-signo.
Mais uma vez, a prpria ideia de relao que consumida tal como os
objectos se fazem apresentar. O cdigo do consumo torna os produtos em sig-
nicantes sociais ao mesmo tempo que incentiva no a produo mas a troca.
Em si o produto no possui interesse primordial; s adquire importncia e se
torna fonte de cobia, quando a sociedade, pelas trocas simblicas, lhe atribui
um conjunto de signicados que lhe no so inerentes institundo uma verso
societal do desejo mimtico. A pertinncia do consumo, neste caso, ad-
vm da consumao: da partilha de valores societais que pela sua raridade so
trocados por intermdio dos objectos. Estes tornam-se os rbitros principais,
no apenas das relaes sociais, como dos processos de inter-subjectividade.
Cumprem a tarefa basilar de comunicar e trocar valores que tendem a escas-
sear. Quando um anncio publicitrio de um refrigerante coloca objectiva-
mente (isto , as relaes materiais atravs das enunciaes semiolgicas) o
valor comunidade atravs de um conjunto de pessoas de diferentes raas e
idades a beber o produto, estamos perante o facto de que consumir esse refri-
gerante passa por consumir no a sua utilidade mas o seu signicado, a sua
dimenso sgnica. Num reclamo, um valor que se vai tornando rarefeito ou
menos assduo na sociedade -lhe devolvido pela prtica da consumao. Que
o refrigerante amargue ou prejudique gravemente a sade, ao indivduo isso
secundrio em relao ao valor ali trocado, difundido e socialmente aceite. A
consumao , pois, uma mensagem da sociedade para a sociedade exercida
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
162 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
em termos individuais. O homem troca signos que constituem diferencial-
mente o sentido, mais do que compra satisfaes de necessidades. A lgica
social da consumao reabre os canais da sociabilidade e da identidade co-
lectiva projectando-os ao nvel macrosocial contribuindo, dessa maneira, para
o reequilbrio e para a recuperao das solidariedades perdidas na transio
da tradio para a modernidade
24
. Os dispositivos tecnolgicos de media-
o simblica desempenham, a esse nvel, um papel especialmente saliente
ao deterem um efeito congregador e ecumnico na medida em que ampliam
a reproduo societal dos valores da consumao. De certo modo, o que
corrodo pela sociedade recrutado articial mas culturalmente sob a forma
de objectos-signo. A astcia dos anncios comerciais passa exactamente pelo
despertar da sociabilidade de que cada sujeito precisa para se sentir social-
mente integrado. Os reclamos funcionam com o intuito de atingir o indivduo
em funo dos outros, tanto nas suas ambies de prestgio social, como de
identidade colectiva. O homem hodierno nunca interpelado isoladamente;
ele posto em perspectiva com os seus pares na sua relao diferencial, con-
vocando os conceitos de colegas, vizinhos, amigos e familiares para servirem
de mestres-de-cerimnia da sua prpria relao com o mundo.
O princpio que alimenta a consumao o da movncia utuante dos
signicantes que vogam pelo tecido societal entrando em processos interacti-
vos de atribuio e partilha de sentido de acordo com as suas diferenas. A
lgica social da consumao uma lgica de diferenciao social mas tam-
bm comunicativa. Quando o que est em jogo a dimenso social, a con-
sumao faz-se total e intensica-se, no por necessidade individual mas por
concorrncia. O seu horizonte a produo de um cdigo social de valores e
sociabilidades, essa funo de troca, atravs de um conjunto de signos. Re-
cuperando o supra-mencionado papel do desejo na consumao, salientamos
que a fuga sistmica de signicante para signicante nas suas relaes diferen-
ciais instaura o processo desejante nos objectos de consumo. A necessidade
no a do objecto mas a necessidade social de reconhecimento, da simult-
24
O modo como certos sentimentos sociais, por exemplo o nacionalismo e o patriotismo, se
concentram nas seleces nacionais de futebol exemplica a qualidade de objecto-signo que o
desporto actualmente possui, fazendo gravitar sua volta verdadeiras euforias que atestam o
quanto esses sentimentos escasseiam. Esta referncia ilustra, igualmente, a importncia social
dos objectos-signos: basta observar que numa altura em que se empolou o patriotismo nunca
se venderam tantos smbolos nacionais (sobretudo bandeiras).
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 163
nea similitude e dissemelhana, do desejo de receber e oferecer signicado
social. A consumao traduz-se numa funo colectiva, numa estrutura socie-
tal extra-individual que se impe socialmente pelo conjunto de indivduos. A
consumao a ordenao societal dos signos com vista absorpo no grupo
constituindo, ao mesmo tempo, uma moral e um sistema comunicativo que se
materializa como um sistema de permutas (Baudrillard, 1995a: 78).
Acordemos sem hesitaes na sua signicao instrumental. Do objecto
esperamos um determinado desempenho, uma funo transitiva que permite
completar alguma tarefa. Mas acordemos tambm numa prtica signicativa
que confere ao objecto uma outra concepo. A apropriao dos objectos
um fazer-valer, uma prtica comunicativa, um mostrar-armar de alguma
coisa. Os objectos no veiculam somente informaes mas constituem, como
constatmos, sistemas estruturados de signos, ou seja, sistemas de oposies,
diferenas e contrastes. Os objectos de consumo transmitem sentido havendo
sempre uma signicao que extravaza a funcionalidade primria do objecto.
Nenhum objecto escapa ao sentido. Este torna-se-lhe um suplemento da fun-
o atravessando de lado a lado o homem e o objecto. Mesmo o objecto mais
funcional transpira signicados. A funo utilitria suporta o sentido que lhe
aplica a desactivao do objecto tornando-o intransitivo (Barthes, 1987: 171-
180). A polissemia prpria ao objecto decifrada pelo cdigo sgnico. Porm,
este movimento tem um retorno que devolve o objecto do signo funo.
Mesmo sugerindo um sentido, o objecto parece-nos transitivo e funcional.
Achamos que o cadeiro s serve para albergar o director mesmo quando
signo da hierarquia em vigor. E portanto, o sentido um facto de cultura que
sofre esse vai-e-vem de naturalizao e de ruptura da funo. Acreditamos
ter domesticado o objecto mas o seu sentido nunca se amansa, irrompe brava-
mente. A funo interrompida pelo sentido que lhe devolve o objecto mas
desta vez de forma sgnica, ostentatria, classicatria, logo, comunicacional.
O sentido que trespassa a forma material contm igualmente uma com-
ponente emotiva, espcie de estabilizador da afectividade. Os objectos so
investidos de signicado, no s semiolgico mas tambm sociolgico asse-
gurando ao indivduo um certo grau de segurana afectiva em situaes so-
cialmente desconfortveis, apaziguando tenses que um ambiente hostil pode
acarretar. Assim, os objectos adquirem um sentido pessoal que funciona como
substituto dos ambientes ntimos. No raro que se levem objectos pessoais e
intransmissveis, (como por exemplo, molduras de fotograas) para o local
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
164 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
de trabalho como meio de personalizar esse ambiente rido, conferindo-lhe
um sentido pessoal e ajudando, atravs dos objectos, a encetar uma relao
mais prxima e agradvel entre a esfera domstica e a esfera do trabalho.
Se dvidas houvessem, um argumento mais a favor da comunicabilidade
e da signicatividade da consumao poderia ser aduzido. Semiologicamente
os objectos formam sintagmas e paradigmas no momento em que amoldam
uma sintaxe e se constituem como linguagem, tal como mostrou Rolland
Barthes com Le Systme de la Mode. Os objectos que servem a consumao
podem ser articulados entre si pelo sujeito que com eles assina enunciados
materiais muito evidentes. Os homens fazem frases atravs dos objectos. A
consumao um tipo material de narratividade. No fundo, o que o consumo
conspcuo ou o gosto operavam era esta organizao de objectos signicantes
com vista a ordenar uma preposio: a da distino e identidade de classe.
O primeiro dos planos em que, para Ferdinand de Sausurre, se desenvol-
vem os termos lingusticos o sintagmtico onde cada termo retira in pra-
esentia o seu valor da oposio do que est antes e depois de si. O segundo
plano o das associaes ou plano paradigmtico em que os termos se renem
in absentia. Consumando o indivduo ordena estes dois planos numa preposi-
o. Por exemplo, em relao ao vesturio, ele escolhe entre um paradigma,
ou conjunto de peas, aquela que possui o sentido ou conotao que intenci-
ona comunicar (por exemplo, o gorro em vez do chapu). Ao fazer associar
simultaneamente uma pea de vesturio (por exemplo, um gorro para a ca-
bea) com outra qualquer pea ou sintagma (por exemplo, umas calas largas)
o sujeito est a compor o enunciado de um amante do rap. Se a isso acres-
centarmos uma sintaxe dos movimentos, gestos e posturas, compreendemos
como os objectos funcionam como enunciados comunicacionais. Recorde-se
que o mesmo indivduo poderia ter optado por um chapu de feltro e umas
calas de bombazine mas no o fez (Barthes, 1988: 49-74).
Os objectos so marcadores no-verbais de identidade (Douglas e Ish-
erwood, 1996: 50). Ao serem compostos em unidades de sentido e serem
dotados de uma sintaxe prpria, os produtos no s dizem, como permitem ao
homem dizer-se. O indivduo pode com ele exprimir-se ajustando o seu estilo
e a sua maneira de (aparentar) ser, bem como, denir o que so e como que-
rem ser vistos. Desse modo, os indivduos remetem-se a sistemas de pertena,
de interesses e de singularizaes. Os bens de consumao so sinalticas
que apresentam uma ponta visvel do iceberg que a vida social e mental do
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 165
indivduo. Figuram como meio de classicao que marca a provenincia e a
descendncia dos actos do homem.
A consumao pode ser vista como uma anexao aos objectos dos ndi-
ces de pertena social, mas tambm como tctica social dos indivduos e gru-
pos. Ela no pode ser interpretada como consequncia de uma necessidade
de consumir mas tendencialmente como produto de uma necessidade social,
como estrutura contempornea de troca do prprio sentido e do prprio valor.
Numa palavra, sob o signo dos objectos, sob o selo da propriedade privada,
sempre de um processo social contnuo do valor que se trata. E os objectos
so, tambm eles, sempre e em toda a parte, alm de utenslios, os termos e a
consso deste processo social do valor (Baudrillard, 1995: 20).
Acirculao de produtos e a apropriao de bens e de signos diferenciados
constituem um cdigo universal por intermdio do qual todas as sociedades
ps-industriais ocidentais se fazem entender. Sociedades multi-tnicas e poli-
culturais, espcie de melting pot da globalizao, as sociedades contempor-
neas fazem da permissividade sgnica dos objectos o signicante pelo qual o
cdigo de uma cultura material se difunde. A consumao torna-se aproxi-
madamente uma lngua-franca, linguagem por todos compreendida, que apro-
xima (talvez perigosamente) as axiologias e que estabelece um ponto de -
xao e interaco dessa teia comunicativa. A comunho dos povos , ainda,
simblica mas processa-se em termos eminentemente materiais numa litur-
gia da circulao de objectos que empenha cada um dos indivduos no ritual
colectivo da consumao. Ao po e vinho sobre a mesa substituiu-se a pan-
plia de vveres que estendem a amplitude comunicativa do cdigo. O mesmo
dizer que face produo e ao consumo, emerge a troca generalizada de
signos, tanto na sua vertente signicativa e comunicacional, como na sua di-
menso classicatria de discriminao das identidades pela posse material e
signicante de signos, isto , dos valores estaturios.
2.3.3 A Ligao Comunitria: Relaes Rituais, Totmicas e Tri-
bais da Consumao
Uma das ilaes que se pode retirar do que temos vindo a coligir que as vidas
sociais dos homens no sobreviveriam pelo menos, nos seus actuais moldes
simblicos sem a existncia de objectos ou coisas. As coisas necessaria-
mente possuem vidas sociais (Appadurai, 1986). Os bens de consumao no
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
166 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
so meras mercadorias, socialmente incuas que merecem apenas uma con-
siderao sumria e displicente. Os objectos pelos quais a consumao se
efectiva so elementos dinmicos, continuamente investidos e reinvestidos de
valorizaes. Completando a anlise de Douglas e Isherwood, podemos ar-
mar que a consumao envolve no apenas o envio de mensagens sociais como
a recepo dessas mensagens. A consumao um processo activo, social e
relacional (Appadurai, op.cit: 31). Os objectos adquirem e perdem relevncia,
so cambiveis ou no, dependendo das relaes socio-temporais que se vo
rmando. Eles dispem de diferentes modos de criao de identidades sociais
e de condicionar as relaes interpessoais. Os objectos comportam regimes
de valor, tantos quantas as arenas sociais onde entrem. Outorgar-lhes uma
vida social no signica ingressar num animismo andino, mas tem a preten-
so de enfatizar a sua qualidade determinante na interaco homem/mundo
dos processos sociais. Envolve armar, no que os objectos produzem o seu
prprio sentido, mas que auxiliam e participam na emergncia e na manuten-
o dos processos de sentido que o indivduo confere realidade social.
Se as coisas tm vidas sociais, as vidas sociais tm coisas (Lury, 1996:
10). Os objectos incluem signicados tornando visveis as categorias da cul-
tura. na aquisio, uso e troca societais, no fundo, na consumao que
os indivduos manifestam as suas vidas sociais. Os bens materiais carregam
sentido, so portadores de signicado pelo que o seu uso amplamente co-
municativo. Esquea-se que os produtos se destinam fundamentalmente a
ser comidos, vestidos ou utilizados. Ignore-se a sua utilidade e destaque-se,
antes, que os bens materais servem para pensar e para conhecer sociologica-
mente o homem: arme-se a sua mediao no-verbal das interaces sociais,
enuncie-se o seu papel na construo social da realidade. Os bens da consuma-
o permitem construir um mundo inteligvel a partir de uma viso conjunta
da sociedade. Os objectos, seleccionam, e tornam aparentes e manifestos os
juzos dos processos uidos de classicao da realidade e das pessoas. A
consumao , por isso, uma actividade ritual cuja funo primria tornar
compreensveis o uxo incipiente de eventos (Douglas e Isherwood, 1996:
43).
Um ritual dene-se como um conjunto de actos formalizados, expressivos
e portadores de uma dimenso simblica que se caracteriza por uma con-
gurao espacio-temporal especca atravs do recurso a objectos, a sistemas
de comportamento, a uma linguagem especca e a smbolos emblemticos.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 167
O rito , pois, um conjunto codicado de condutas simblicas individuais e
colectivas de carcter repetitivo. Ele produz a forma e a substncia das rela-
es sociais ancoradas em mecanismos de solidariedade e identicao que
impedem a deriva cultural. A repetio de gestos ligados a um objecto e o
seu investimento afectivo e emocional que ocorre na consumao permite-nos
pensar nela como um processo ritual cuja funo essencial assegurar a cir-
cunscrio das categorias sociais. Ela estanca a verborreia da signicncia
impondo sentidos estveis que possibilitam a memria colectiva e a compre-
ensibilidade. A consumao um ritual
25
que forma o estrato mnimo do
consenso e dos signicados concertados assumindo a forma de convenes
sociais que tornam visveis (conhecidas) as denies pblicas. A escolha
de bens que se opera na consumao cria um padro de segregao que re-
fora algumas crenas e valores mas que exclui outros e que deve, por isso,
ser perspectivada como um processo activo no qual todas as categorias so-
ciais so continuamente redenidas. Os objectos de consumao so, assim,
meios de tornar evidentes e duradouras as categorias bsicas pelas quais a
sociedade classica os seus indivduos. Os bens servem para distribuir em
classes os indivduos sendo, neste sentido, promotores de identidade social.
Os ritos conferem realidade uma facticidade ou objectividade das crenas e
princpios culturais tal que leva Douglas e Isherwood a falarem de concretude.
Como ritual, a consumao um mecanismo colectivo capaz de transferir o
sentido, um estabilizador das relaes humanas socio-culturais. O signicado
social da consumao relacional e tecido nos meandros da intersubjecti-
vidade. O sentido reside nas relaes entre todos os objectos, tal como a
25
McCracken identica trs grandes tipos de rituais de consumo (que correspondem ao que
nomemos como consumao): os rituais de troca que implicam a escolha e a oferta de um
objecto por parte de um indivduo a um outro, como por exemplo o Natal; os rituais de posses-
so ligados s actividades do coleccionador em que o indivduo, projectando signicados no
objecto, transforma o produto num modo de expresso da individualidade. Vide a este prop-
sito a anlise ensastica de Baudrillard acerca do coleccionismo (2005: 91-114); o terceiro tipo
de rituais de consumo o de desinvestimento em que o indivduo retira os valores do objecto
para lhe atribuir novas valorizaes, simultaneamente mais pessoais e socialmente expressivas.
O objectivo a separao simblica do indivduo do objecto para que o possa apropriar. Por
exemplo, a limpeza e a redecorao de um apartamento para o qual o indivduo se mudou ilus-
tram esse desinvestimento dos anteriores valores e da re-atribuio de signicaes de modo a
que o indivduo se possa inserir e sentir confortvel no seu uso (McCracken apud Heilbrunn,
2005: 45-47).
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
168 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
msica est nas relaes advindas dos sons entre si e no de uma nica nota
(Douglas e Isherwood, 1996: 49). A faceta ritual da consumao, bem como a
sua insero cultural, permite que aproximemos as sociedades modernas e as
sociedades primitivas, j que ambas denotam a tentativa de produzir o sentido
atravs dos bens materiais.
Um outro aspecto onde se pode observar a universalidade dos fenmenos
de consumao retirando a primazia da modernidade do consumo conforme
a cincia econmica postula o carcter totmico que os objectos de con-
sumao podem congurar no balisamento da relao do indivduo ao outro.
O totemismo das sociedades no-literrias reenvia associao simblica de
animais ou plantas a comunidades de homens que partilham entre si a mesma
genealogia e identidade simblicas, sendo garantidas pelo animal ou planta
representados. Um totem um objecto material ao qual o selvagem presta
um respeito supersticioso porque ele cr que entre a sua prpria pessoa e o
totem existe uma relao particular (Freud, 1993: 231). Os membros de um
mesmo totem identicam-se reciprocamente entre si, reconhecendo-se e par-
tilhando entre si os mesmos processos sociais. O totem integra os indivduos
em linhagens de parentesco que agregam realidades heterogneas. De acordo
com Lvi-Strauss, em Le Totemisme Aujourdhui, o totemismo a aco orga-
nizadora do mundo natural pela qual este seccionado em diferentes grupos
de uma maneira que cria uma evidente diferenciao social. Um objecto natu-
ral tende a representar toda uma estrutura social. A tribo ser identicada em
referncia a esse objecto totmico que d aos membros da tribo um fundo de
partilhas que os aproxima e lhes confere uma identidade colectiva.
As sociedades contemporneas operam, ainda hoje, formas transmutadas
de totemismo conforme se pode perceber se tivermos em conta o modo como
os indivduos se posicionam face a um objecto de consumao. Estes so
substitutos articiais dos objectos naturais que preenchem a mesma funo
integradora e diferenciadora. Os objectos, devidamente distinguidos segundo
a sua marca, so uma derivao de totem sobre os quais os indivduos se abri-
gam e se fazem associar de modo a marcar o seu prprio posicionamento na
quadrcula social. Os logtipos e os emblemas apresentam, muitas vezes, ani-
mais e plantas, espcies de mascotes, que relembram perfeitamente o carcter
totmico da consumao hodierna. Acresce, a emergncia de associaes de
consumidores de um tal produto traduz a mesma ligao social que os homens
das sociedades no-literrias experimentavamsob a representao totmica. O
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 169
totem, tal como o produto de consumao, recolhe sobre si uma dada percep-
o do mundo que estrutura as relaes interpessoais a partir da apropriao e
da ostentao do objecto (Lury, 1996: 16).
Os consumidores das marcas respondem como os homens tribais a um
totem: identicam-se, possuem cdigos de comportamento uniformizados,
estilos de vida comuns, um cdigo de conduta e a partilha de anidades elec-
tivas importantes. A indumentria, o calado, os adereos, a alimentao, os
objectos que usam, funcionam todos como um cdigo simblico que os faz re-
conhecer entre si e que operam como elementos classicadores e distintivos.
Por exemplo, o drago, a guia ou o leo dos emblemas dos clubes recrea-
tivos e desportivos colocam sob a mesma umbrella identitria o conjunto he-
terogneo de sujeitos que pela sua reverncia a esse totem contemporneo se
aproximam e reabrem os canais de comunicabilidade e afectividade. No ra-
ras vezes se iniciam relaes afectivas e emocionais a partir da partilha de
um mesmo totem. Como segunda ilustrao, atentemos que um motociclo
representa um totem moderno para o grupo de jovens que pertencem a um
motoclube. A indumentria de cabedal, a aparncia uniforme onde os culos
escuros e os cabelos compridos predominam, e os valores da liberdade e da
autonomia, permitemver os motociclistas desses clubes como sendo membros
desse grande totem tcnico que a moto. Esta fornece uma outra organizao
da percepo do mundo que permite distinguir os seus membros dos outros
clubes de objectos tcnicos. Willis, estudando um motoclube no incio dos
anos noventa escreve: As motos so personalizadas de modo a acentuar os
traos de reconhecimento. Os cornos que adornam os guiadores e os guarda-
lamas cromados do moto um aspecto feroz (. . . ); este conjunto compsito
e mvel de barulho, metal e ornamentos vestimentrios d uma formidvel
expresso identitria a esta cultura e contribui fortemente para desenvolver os
seus valores fundadores (Willis apud Heilbrunn, 2005: 65). Como se v, a
relao destes homens no a da funcionalidade ou da instrumentalidade mas
a de uma expresso identitria que tende a enfatizar os valores convencionais
da masculinidade: virilidade, agressividade, temeridade e intrepidez.
Em certa medida, o totem um feiticismo, uma ordem religiosa na qual
os objectos de culto participam da virtude divina obrigando a verdadeiros sa-
crifcios (de tempo, de disponibilidade et caetera). Todavia, no um feitio
j que, no totem, nunca se confunde a matria bruta e fsica com as suas
qualidades superiores atribudas. No totem, como na consumao, a relao
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
170 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
transparente e o que se joga um lao social de aceitao, reconhecimento e
integrao social por lgicas de discriminao positiva e negativa.
A consumao faz transparecer os relacionamentos interpessoais ao ponto
de se poder acrescentar dimenso totmica uma dimenso tribal (Heilbrunn,
2005: 80). Identicar a marca ou os clubes de consumidores como uma tribo
permite perceber como a ligao do indivduo ao objecto no passa tanto por
cartes de delidade como por uma experincia comunitria que aglutina o in-
divduo em volta de anidades importantes capazes de gerarem verdadeiros
pblicos
26
. Em termos precisos, falamos de neo-tribalismo, como os agrupa-
mentos comunitrios que emergem na modernidade tardia e que decorrem das
tribos descritas pelos antroplogos. As neo-tribos so marcadas pela uidez:
geogracamente dispersas raramente se condensam no espao. Mas apesar
da sua instabilidade no deixam de afectar envolvimentos emocionais (Lury,
1996: 250)
A ligao tribal ao objecto traduz-se na capacidade de raciocinar e dar
sentido ao mundo a partir de uma comunidade que se funda na partilha de
um interesse comum, e envolve a estimulao da sociabilidade em sociedades
desagregadas (e desagregadoras). No fundo, a ligao emocional totmica
e tribal que o indivduo cultiva vem responder necessidade de preencher
os espaos omissos deixados em aberto pela progressiva eroso dos laos de
parentesco e de solidariedade tradicional. Radicalizando, e em ltima an-
lise, poder-se-ia declarar que os objectos e as marcas so empossadas de um
valor de ligao social, comutador simblico das relaes interpessoais que
permite ao indivduo retomar contacto com os outros mas, de igual modo,
consigo mesmo. As relaes estabelecidas entre o indivduo e o objecto de
consumao podem ser explicadas como o substituto simblico das relaes
pessoais nas sociedades estandardizadas de cultura material, ocupando o vazio
ocorrido na passagem Gesellschaft. Os consumidores no compram regular-
mente aquela marca devido sua superioridade funcional (seja em utilidade,
26
No seria irrelevante devotar uma reexo sobre o grau de emergncia do pblico em
associaes que se concentramemtorno de umproduto, marca ou ideal. Quanto sociabilidade
multitudinria ou de massa, parecem existir ilustraes que conrmam o seu aparecimento por
intermdio da consumao. A questo de averiguar at que ponto a sociabilidade pblico,
mesmo que em sentido fraco, pode nascer das relaes totmicas e tribais da consumao
permanece em aberto.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 171
preo ou disponibilidade) mas porque se sentem comprometidos e implicados
nos valores que essa marca encorpora e transmite; sentem-se consumadores.
O que est em causa o restabelecimento do lao comunitrio que a con-
sumao pode gerar sabendo o indivduo que naquele momento outros indiv-
duos consumam o mesmo objecto, perlhando todos o mesmo sentimento de
integrao. Partilhando-se o mesmo ethos, a experincia individual insere-se
numa experincia colectiva de acordo commodos de socializao particulares.
As marcas dos produtos criam comunidades que compreendem um complexo
estruturado de relaes sociais entre os utilizadores cuja anidade, relaciona-
mento e histria de vida relevam da consumao dessa marca. Como tribo, os
indivduos apresentamalgumas caractersticas fundamentais: a natureza hostil
para com marcas concorrentes como forma de coeso, um comprometimento
afectivo e uma disponibilidade horria para o apoio pblico marca, e um
conjunto de rituais (tal como a indumentria ou os sociolectos) que lembram
a identidade de cada cl.
As tribos so refgios para aqueles que tentam escapar da solido do pri-
vado (Bauman apud Lury, 1996: 253). Elas so a soluo annima, privada
e formal de se chegar ao domnio do pblico por forma a estabelecer laos de
sociabilidade recproca. Os objectos e a consumao so o modo contempo-
rneo, por excelncia, de atingir a publicidade das relaes intersubjectivas e
comunitrias. So os media abstractos pelos quais o indivduo, preservando a
sua intimidade, d a cara e se faz existir. Assim, o homem apenas d a conhe-
cer metonimicamente a sua faceta de consumidor (e consumador). Esta, sendo
parte, d-se como o todo. A intimidade guardada do pblico e o indivduo
pode entrar em relaes sociais (ainda que frgeis) sem entrar em conito com
o seu interior. Eis como a atomizao do privado se observa nas prticas de
consumao.
A relao de sociabilidade outrora delegada, por exclusivo, na publici-
dade contemporaneamente exercida na consumao, nomeadamente, nos
processos relacionais entre consumidor e marca. Penetrando no mais pro-
fundo mago da sociabilidade, as marcas logram uma importncia e inuncia
decisivas na organizao das relaes interpessoais e da intersubjectividade,
entrando em quezilenta concorrncia com os modos tradicionais de regulao
da vida social dos indivduos. O objecto de consumao substitui-se ao ser
humano, interpe-se-lhe, copiando ou talvez mais exactamente simulando, a
ligao comunitria. Porm, no somente a relao social que a consuma-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
172 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
o vem inuenciar. Os prprios processos da identidade individual sofrem
completas remodelaes.
2.3.4 A Dimenso Mitopotica da Consumao
Estabelecemos que a consumao um modo de expresso identitria. Mas
zmo-lo do ponto de vista social, de uma identidade colectiva que classica e
classicada e que empreende actos de diferenciao social como forma de se
preservar. Investiguemos, desta feita, a identidade especicamente individual,
aquela que recorrentemente interpelada pelas enunciaes das marcas dos
produtos.
Retomando o Interaccionismo Simblico, a identidade pode ser interpre-
tada como um desenrolamento da apresentao individual aos olhares pbli-
cos, a qual permanentemente negociada nas interaces levadas a cabo com
o intuito de dar ao interlocutor uma certa impresso. O self no uma en-
tidade homognea, apresenta-se como estrutura cognitiva que se modela s
interaces, podendo-se separar um self, tal como o indivduo se v, um self
especular que o modo como o indivduo pensa que os seus pares o consi-
deram, e um self ideal, a imagem social idealizada que o indivduo tenta ob-
ter. Quando consuma o indivduo leva em linha de conta estes trs regimes do
self projectando nos objectos adquiridos a imagem que possui de si, a imagem
que ele prprio aspira fundar, e a imagem que deseja que os outros possuam
dele. Os objectos servem como moduladores de identidade, tanto enfatizando-
a, como tornando-a discreta e subtil, conforme o posicionamento identitrio
que o indivduo pretende oferecer ao olhar dos seus pares. Um consumador
pode adquirir um artigo desportivo, no porque leve uma vida desportiva mas
porque, como sedentrio que , necessita de interiorizar uma faceta mais sau-
dvel e desportiva para si. F-lo, no praticando desporto mas adquirindo
uns tnis de corrida. Os objectos asseguram aquilo que o indivduo deseja ser.
O consumidor, consciente ou inconscientemente, identica produtos que tm
signicados desejveis que ele intenciona apropriar, adquirindo, assim, esses
produtos (Holbrook, 2005: 91)
Os objectos possuem, assim, propriedades mgicas que, pela sua sim-
ples aquisio, envolvem o indivduo na crena de possuir uma outra identi-
dade, para si e para aqueles com quem interage. Evoquemos a alter-direccio-
nalidade para melhor percebermos que o indivduo utiliza as suas posses para
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 173
comunicar aquilo que e deseja ser, tendo por motivao bsica a possibi-
lidade de acomodar-se, na sua conduta, s expectativas alheias. Deste modo,
os objectos de consumao no servem propsitos funcionais mas objecti-
vos claros de modulao e administrao da identidade. A consumao
um campo de possibilidades sociais que autoriza o indivduo a alargar a sua
narrativa biogrca ao disponibilizar objectos e experincias que espraiam os
recursos identitrios.
A identidade uma relao social discursivamente constituda articulada
segundo narrativas do self (Miller et all, 2005: 20) . As matrias-primas da
identidade deixam de ser relativas apenas prosso e ao parentesco, como
nas sociedades tradicionais, mas podem ser encontradas na diversidade de
produtos adquiridos. A consumao, que simblica, signica que se tenta
melhorar certos coecientes biogrcos pela aquisio e utilizao social de
bens e smbolos.
O self remodelado medida que operada uma transferncia de signi-
caes e de sentidos socialmente aceites desde o objecto ou marca at ao
indivduo. Os prprios marketeers reconhecem-no quando tentam associar os
valores da marca a certos eventos ou personalidades, de forma que os consu-
midores os recuperem no acto de consumo (aquisio) e consumao (partilha
social). Tal como em certas tribos ancestrais se bebia o sangue do adversrio
derrotado de forma a receber a sua valentia e capacidade blica, na actualidade
bebem-se os signos e os smbolos dos objectos como meio de corporalizar os
valores vicariamente associados marca. O sangue que d vida aos objec-
tos so os smbolos a eles atribudos por uma sociedade que substitui o ritual
ancestral do canibalismo pelo ritual contemporneo da consumao. A seme-
lhana ainda explcita. Onde antigamente se dava coeso comunidade pelo
ritual que a consagrava vencedora, hoje d-se-lhe sociabilidade na consuma-
o. Onde antigamente se obtinha o valor do adversrio, consegue-se hoje o
valor do objecto por transferncia directa. Marcel Mauss refere a propsito
do sistema de troca de objectos dos Maori, a existncia do hau, do esprito da
coisa dada, componente essencial dos objectos e parte inalienvel do doador
do objecto. Este esprito do objecto, porque no se desprende do seu pro-
prietrio original, justica a livre obrigao de retribuir, de dar e de receber
27
.
27
Referimo-nos interpretao de Marcel Mauss. Marshal Sahlins (Cultural Reason) e Mau-
rice Godelier (Lnigme du Don) colocaro objeces tese maussiana do hau salientando
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
174 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
A coisa recebida no um objecto inerte; mesmo alienada do proprietrio,
conserva qualquer coisa dele, uma sua parte que acompanha o objecto e o faz
regressar (mesmo que numa outra forma material) (Mauss, 2001: 63).
Os objectos so recursos sociais que devem ser acumulados por forma
a erigir biogracamente um self coadunante com a imagem ideal do indivi-
duo
28
. Na consumao, a identidade um caso de denir a trajectria de uma
narrativa pessoal (Heilbrunn, 2005: 99). A identidade traduz-se num processo
social. A consumao erige-se como possibilidade de extenso do self, onde
os bens se constituem protesicamente na identidade individual. Parece existir
uma continuidade entre o ser e o ter em que o sujeito responde social-
mente por aquilo que possui. A totalidade das minhas possesses reecte
a totalidade do meu ser. Eu sou aquilo que tenho (Sartre, 1943: 100). H
uma periferizao ou exteriorizao da vida psquica onde os processos de
formao de identidade se constroem na circulao entre a vida mental e a
vida material, onde a existncia social parece, ela prpria, fundar a esfera psi-
colgica. Os sujeitos percebem e so percebidos em dialctica com o que so
e o que tm. Ser e ter no so sinnimos, todavia, so inseparveis. Ns
somos aquilo que temos, os outros perspectivam-nos de acordo com as posses
e objectos com que oferecemos a nossa aparncia. Ser e ter, mas sobretudo,
ser, ter e parecer ter e ser.
O self e o objecto fundem-se. quando a propriedade se declina na conju-
gao do ser, que se pode pensar a consumao como um processo de amplia-
o da identidade, em que os objectos possudos se imprimem no esprito, na
psique individual. claro que entre aquilo que um homem chama eu e aquilo
que apelida de meu, a linha difcil de traar. Ns pensamos e agimos em re-
lao a certas coisas que so nossas, da mesma forma que pensamos e agimos
em relao a ns-mesmos (James, 1983). As prticas recentes do modding
e do tunning inserem-se nessa relao personalizada com os objectos em que
ocorre um forte entrelaamento entre indivduo e bem material, ao ponto do
respectivamente a sua incapacidade explicativa das obrigaes de dar e receber, e a impreciso
terminolgica da traduo do termo que empurrou Mauss para concluses menos rigorosas.
28
Esta observao pode fazer-nos perceber qual a satisfao de se pagar para entrar, por
breves momentos, por exemplo, numa limusine. A fotograa dessa utilizao efmera e parcial
simboliza o recurso de que o indivduo se dotou para construir uma identidade ideal: no caso, a
riqueza monetria da limusine transfere-se para o sujeito insuando-o (sosmaticamente) como
detentor de riqueza.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 175
primeiro se projectar materialmente, atravs das alteraes das especices
originais, no segundo. H como que um investimento da pessoa num objecto
que actuando retroactivamente regressa desde o objecto at pessoa. Vul-
garmente fala-se at de objectos pessoais para designar aquelas posses que
melhor caracterizam o indivduo. A associao to aguda que a perda no-
intencional de objectos frequentemente interpretada como uma diminuio
do eu. Quando nos internatos, nos estabelecimentos prisionais ou nos campos
militares, no fundo, em todas as Instituies Totais (Total Institutions), so
subtrados os haveres pessoais, o indivduo fragiliza-se. Os recm-chegados
pacientes dos hospitais psiquitricos registam um sentimento de perda da sua
identidade quando lhes so retirados todos os objectos que os acompanham
(Goffman, 1968).
Uma objeco, que nos servir para detalhar a anlise, pode ser levan-
tada. Numa sociedade estandardizada profusamente invadida pelos objectos
serializados de massa as possibilidades de individualizao parecem diminu-
tas. Se os indivduos dispem, em termos genricos, do mesmo tipo e da
mesma quantidade de objectos, como se construir a sua identidade? Ser a
identidade individual, na consumao, uma iluso que cede lugar a identida-
des colectivas dependentes do discurso das marcas? Como que o indivduo
projecta o sentido ao seu objecto se o seu prximo possui provvel e rigoro-
samente o mesmo produto?
Uma possvel refutao (mas no a nica possvel) passa por conceber cri-
ativamente a cultura material em que o sentido e o signicado dos bens no
se encontram nele depositados, mas emergem interactiva e dialogicamente.
Como participantes no fenmeno da consumao, ns perlhamos signica-
o, designadamente pela reapropriao. Sartre em La Nause recorda-nos
a resistncia que os objectos inigem ao homem e a insistncia com que lhe
lembram que existem fora do domnio humano. Todavia, os objectos no nos
permanecem totalmente estranhos. Como armmos, o indivduo forma uma
estranha simbiose com ele. A medida das possibilidades identitrias dos bens
passa no pela sua estandardizao mas pela sua individualizao, pelo seu
bricolage. A inteno de apropriao do objecto tcnico industrial passa por
acomod-lo ao indivduo, jogar com a sua funcionalidade, beliscar a sua re-
sistncia, de arrisc-lo bricoler.
Em 1962, Lvy-Strauss, no livro La Pense Sauvage, cunha o termo de
bricolage para referir os processos dspares por intermdio dos quais os in-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
176 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
divduos antecipam a resoluo de problemas ordenando novas funes aos
recursos limitados j existentes. uma forma de inteligncia prtica, no sen-
tido emque os indivduos reorganizamos seus recursos para fazer face a novos
desaos. Um trabalho manual baseado na improvisao que agencia novos
recursos a partir daqueles existentes, impondo uma ordem homognea di-
versidade. Para o antroplogo francs, a bricolage o procedimento prprio
do pensamento mtico, uma vez que consiste na faculdade de expresso social
a partir de um repertrio heterogneo e restrito. O bricoler tem um carcter
mitopotico, uma vez que um mythos, uma prtica narrativa que se desen-
rola no tempo, mas tambm um poen, um fazer, uma existncia. O bricoleur
aquele homem que, no obstante os contrangimentos, fabrica uma histria,
narra o mundo e d-lhe uma origem que explica a sua existncia, a sua vida, a
sua actividade.
Extrapolando livremente o termo consumao, bricoler quer dizer a ca-
pacidade de entrar em consonncia com os objectos e de os elaborar de forma
a que faam sentido para o indivduo. Trata-se de os abordar na sua distncia
improvisando aproximaes simblicas que inscrevam o objecto na vida pes-
soal. A dimenso mitopotica da consumao designa a enunciao narrativa
que os objectos permitem, como linguagem, de colocar em prtica a identi-
dade individual. Numa sociedade mais livre de constrangimentos sociais,
com maior mobilidade social e onde os direitos de linhagem perderam terreno
em face do sucesso obtido nos percursos individuais, as pessoas recorrem aos
objectos comprados para mostrar quem so (Salgueiro, 1996: 177). A con-
sumao constitui uma prtica social que fornece os recursos materiais com
os quais o homem compe e pauta o seu projecto identitrio, dando-se a co-
nhecer da forma desejada. Os objectos formam as bases materiais da biograa
do indivduo e da sua inteno de identidade. A consumao pode ser de-
nida como uma reapropriao e um modo de criatividade e expressividade
pessoais que reectem uma apetncia de sentido e um vector de autonomia da
pessoa (Heilbrunn, 2005: 115).
A dimenso mitopotica da consumao reenvia para o fabrico material
da identidade, para essa tecelagem minuciosa, da apropriao dos recursos
estandardizados e serializados de forma a signicarem socialmente, e especi-
almente, a signicarem simbolicamente a identidade. Actualmente consome-
se, acima de tudo, para existir (identidade) e no apenas para viver (necessida-
des). pelo consumo que se constri e consolida a identidade (. . . ) (Cova et
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 177
Cova, 2004: 201). O indivduo o arteso que inventa a sua identidade atravs
da materialidade da cultura. Trata-se de uma viso do mundo, da composio
arranjada de redes de sociabilidade e de identidades que consignam modos
de estar e modos de ser. Face a este artesanato identitrio, Zygmunt Bauman
prefere utilizar o conceito de identidades em vez de identidade uma vez que
a rigidez e a natureza hirsuta da identidade no servem para compreender a di-
letncia e a obsolescncia do projecto identitrio, em contnuo agenciamento
e abandono (Bauman, 2000: 51). So os bens de consumao que forne-
cem uma ordem estvel e xa de signicados a partir dos quais se constri
uma (ou vrias) identidade(s) individual(ais). O indivduo compromete-se na
formao e moldagem da sua biograa, investindo-se e desinvestindo-se per-
manentemente de recursos objectuais. Nesse sentido, e na medida em que a
identidade se abre como um projecto, como um cometimento face ao futuro
um pro-jecto , o indivduo torna-se um artce biogrco. Na consumao
hodierna deparamo-nos com um modelo singular de biograa: do-it-yourself
biography (Beck e Beck-Gernsheim, 2005: 3). A biograa j no se alimenta
apenas das condies socio-econmicas em que o indivduo da Tradio nas-
cia. Pelo contrrio, a biograa torna-se polgama, liga-se a multi-estratos de
experincias e contextos sociais, diferenciados e diferenciadores entre si, que
concorrem para um renovar ininterrupto da identidade pessoal e da identidade
colectiva.
A escolha torna-se uma componente essencial do dia-a-dia, no s en-
quanto mtodo de formao e desenvolvimentos do estilo de vida, como tam-
bm, como extenso dos mecanismos selectivos de produtos. O homem torna-
se, em si, uma questo opcional, uma possibilidade entre outras. A identidade
do indivduo permanece, sobretudo, virtual, s se concretizando na actualiza-
o de uma qualquer deciso. A vida torna-se uma questo de eleio e de
predileco. A vida experimental do indivduo caracteriza-se por ser um
homo optionis (Beck e Beck-Gernsheim, op.cit: 5). A escolha, prpria dos
processos de consumao, estende-se at escolha prpria dos processos de
construo identitria. O indivduo forado a isso: no tem escolha seno
escolher (Giddens, 2001: 75).
A mitopotica da consumao consiste no bricolage da identidade. Ela
funda uma nova narratividade, a da cultura material, que utiliza os objectos
como uma linguagem que marca e assinala as classicaes que permitem
segregar e incluir os indivduos em comunidades de solidariedade e de identi-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
178 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
dade. O indivduo investe objectivamente na sua subjectividade revestindo-se
com um esquema perceptivo e axiolgico consonante com o imaginrio de
uma identidade que possui ou se faz possuir consumando. O seu horizonte
de vida preenchido por valoraes decorrentes do engendramento semiol-
gico dos objectos que formam verdadeiras enunciaes materiais do indivduo
e operam a construo social de uma identidade. Na projeco objectiva do
plano reexivo do self, o indivduo funda socialmente a sua prpria existn-
cia, a sua prpria identidade, e forja a sua pertena a grupos de referncia que
no so exgenos s suas preferncias mas intrnsecos aos seus desejos. A
mitopotica da consumao talha o indivduo subjectivamente segundo o ar-
remetimento objectivo do mundo. Desse acto nasce uma identidade em con-
cordncia com determinados grupos sociais ecleticamente seleccionados aos
quais o indivduo se pretende anexar.
A classicao operada pelos objectos de consumao e a construo
identitria que a eclode envolve a necessidade de comunicar informalmente
com os indivduos nos ambientes annimos e efmeros em que a cidade se
transformou. Na moderna vida urbana, a memria colectiva da identidade in-
dividual vaga e no recobre todos aqueles que encontramos todos os dias. As
interaces so circunstanciais e breves obrigando a tornar visveis as identi-
dades (Holbrook, 2005: 94). Uma das formas dessa visibilidade material
e consubstancia-se na capacidade mitopotica dos objectos de consumao.
Estes no apenas inventam, como tambm canalizam rpida e ecazmente as
informaes simblicas acerca da identidade pessoal, fruto de um acto espon-
tneo marcadamente individual, ao contrrio das sociedades tradicionais onde
a consumao existia embora num grau diminuto ainda que desprovida
desta dimenso mitopotica.
A consumao mostra-se, a esta luz, como a actividade social total que
reordena os valores a favor de uma cultura material e que actua como cica-
trizante das feridas deixadas pelo m das grandes narrativas. Como mi-
topoesis, a consumao fundamenta objectivamente a cultura contempornea
reinstaurando laos de solidariedade que se apoiam na legibilidade e na gu-
ratividade dos objectos, nas suas marcas e nos enunciados individuais.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 179
2.3.5 Consumao e Publicidade
Aps a defesa de uma lgica social da consumao importa, laia de eplogo,
rematar a problematizao da consumao justicando a sua cabal pertinncia
numa dissertao acerca da publicidade.
Arguimos que nas sociedades estandardizadas cujo carcter alter-direc-
cionado emerge uma congurao gurativa da publicidade como forma de
manuteno (formal) das relaes sociais e da sociabilidade. Do mesmo mes-
mo, a consumao uma prtica eminentemente social que visa o engendra-
mento horizontal do lao societal fundando uma reciprocidade de valores que
permitem as estratgias sociais de diferenciao e de assimilao. Na publi-
cidade gurativa, a consumao o processo social e material a que se aliam
os sujeitos para se fazer existir publicamente enquanto membros aceites e re-
conhecidos de uma classe ou comunidade. A consumao parece ser o agen-
ciador das alianas selando-as na simbolizao que os indivduos manipulam
a favor do seu projecto de identidade. participando, no no consumo, mas
na consumao que os homens contemporneos se declaram disponveis para
encetarem ligaes de cooperao, empatia e reciprocidade.
A dimenso relacional da consumao poder ser melhor entendida do
ponto de vista da antropologia social. Tomemos de emprstimo as relaes
sociais que a ddiva instaura nas sociedades no-literrias estudadas como
potlacht por Franz Boas e Marcel Mauss, e como kula por Bronislaw Mali-
nowski, para estabelecermos uma analogia entre uma teoria geral da obriga-
o da ddiva e uma teoria da obrigao social da consumao, ela prpria
envolvendo uma vertente incontornvel de ofertas e trocas de bens.
Nas sociedades chamadas primitivas, a troca de objectos um conv-
nio baseado na obrigatoriedade de oferecer, receber e retribuir presentes, que
se d como facto social total (Mauss, 2001: 114), isto , como fenmenos
materiais sobre os quais convergem todas as dimenses institucionais das so-
ciedades, possuindo encargos polticos, morais, econmicos ou religiosos. A
tripla obrigao de dar, receber e retribuir encerra o paradoxo que consiste
no carcter voluntrio, aparentemente livre e gratuito, mas ao mesmo tempo,
necessrio e foroso das prestaes sociais de troca. A resoluo dada por
Mauss passa por considerar o hau, o esprito dos objectos, como o motivo
que, legitimando a tripla obrigao, implica a circularidade da troca. O indi-
vduo ou tribo que recebe deve devolver o hau atravs de outro presente, ao
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
180 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
mesmo tempo que deve receber a oferenda como acto conativo que preserva
a relao social. Tudo se passa como se houvesse troca constante de uma
matria espiritual (Mauss, op.cit: 69). Recusar uma oferta seria rejeitar a
ligao e a comunho, o equivalente a cerrar os laos relacionais entre tribos
abrindo caminho s hostilidades e beligerncia. As sociedades progrediram
na medida em que elas prprias, os seus sub-grupos e, enm, os seus indiv-
duos, souberam estabilizar as suas relaes, dar, receber, nalmente retribuir.
Para comerciar era necessrio saber depor as lanas. Foi ento que teve xito
a troca dos bens e das pessoas (. . . ) (Mauss, op.cit: 196). Na verdade, o hau
o esprito ou smbolo de uma solidariedade e uma sociabilidade partilhadas
que para subsistirem devem ser renovadas, actualizadas e reparadas perma-
nentemente pela ddiva individualmente livre mas socialmente obrigatria. A
ddiva por ns interpretada como um smbolo da relao social que institui e
mantm signicativas as estruturas sociais. D-se no para receber, mas para
que o outro d tambm. D-se, assim, para que, participando no colectivo, o
outro contribua tambm com a sua subjectividade. Aquilo que obriga a dar
que dar obriga (Godelier, 2000: 25).
A consumao um tipo social de ddiva. No s envolve a oferta e a
troca de bens, como ela prpria , em si, uma ddiva social, um modo pecu-
liar de exprimir uma relao social a gerada, reproduzida e desenvolvida. Se
zermos o exerccio heurstico de pensar a consumao como ddiva social,
percebemos que, tal como a ddiva antropolgica, a consumao, institui mu-
tuamente uma dupla relao entre quem d e quem recebe: uma relao de
solidariedade em que se comunga dos mesmos objectos, e uma relao de d-
vida entre quem d e quem recebeu. Quando consuma o indivduo enceta uma
relao para si mas sobretudo alter-direccionada, para os outros. Estes cam
livremente obrigados de lhe corresponder aceitando-o na sua consumao e
reconhecendo-lhe ou no, a classe social e a pertena social materialmente
reclamada.
A consumao como ddiva social no s aproxima os actores sociais
enquanto repartio de uma relao, como os aproxima numa relao de d-
vida positiva que os obriga a manter laos de sociabilidade que podero
ser aprofundados. Ao consumar, o homem coloca o seu par no jogo inte-
raccional encetando uma obrigao de receber e retribuir essa solicitao,
no apenas respondendo interpelao, como, mais tarde, interpelando ele
mesmo. O prncipio tutelar da consumao no o interesse (individual) mas
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 181
a reciprocidade (social). O indivduo racional mas no detm apenas uma
racionalidade econmica; frui de uma racionalidade cultural e simblica que
o vincula aos processos societais que procuram retir-lo do isolamento ato-
mstico para o inserir em colectividades onde a conana (Malinowski, 2002:
85-86) e a cooperao perpassada pelas relaes materiais que medeiam os
laos inter-pessoais. Amoral da ddiva concorda coma moral da consumao:
a reproduo das relaes sociais
29
por intermdio dos objectos, trocando-os
e oferecendo-os, ou, no caso da consumao, adquirindo-os e utilizando-os.
Possuir dar (Malinowski, op.cit: 97). Consumar oferecer-se. Se damos
as coisas e as retribumos porque nos damos e nos retribumos respeitos
dizemos ainda delicadezas. Mas tambm que damos a ns mesmos ao dar-
mos aos outros, e, se damos a ns mesmos, porque devemos a ns mesmos
ns e o nosso bem aos outros (Mauss, 2001: 140). O desejo comunit-
rio aquele que move ainda o indivduo a manusear os objectos como uma
linguagem que classica e diferencia, que o insere em relaes neo-tribais e
totmicas, e que funciona como uma escrita biogrca.
A consumao (tal como a ddiva) produz e reproduz as relaes sociais
tornando-se um assunto pblico na medida em que tomou para si as funes
de sociabilidade e de identicao social que a esfera pblica detinha para si
no sc. XVIII. Consuma-se para mostrar, para ver, para partilhar, para mani-
festar. A consumao no um assunto exclusivamente privado mas pblico.
Em termos privados e individuais s existe consumo. Quando subimos o de-
grau para a consumao, a sociedade que se exibe. A consumao um
processo objectivo societal de cariz circulatrio e ininterrupto que ultrapassa
a esfera privada do consumo para alcanar a esfera pblica do reconhecimento
individual pela sociedade. Assim, a publicidade gurativa e a consumao re-
partem a mesma lgica social de reconhecimento identitrio e inscrio das
subjectividades. A existncia social que depende da visibilidade (publicidade
gurativa) subordina-se, igualmente, materialidade (consumao).
Todavia, a publicidade gurativa que sucede publicidade demonstra-
tiva carece de um espao pblico. A mediatizao da esfera pblica oferece
um lugar de publicidade mas no preenche todos os requisitos para o reconhe-
cimento identitrio do indivduo. Mais rigorosamente, os dispositivos tecnol-
29
Uma relao que social mas que, como vimos, passa tambm por assumir contornos
individuais.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
182 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
gicos de mediao simblica no permitem a participao cabal, por parte do
indivduo, nos processos de consumao. Esta encontra, na modernidade, um
espao, fsico e social, exclusivo comunho material: o centro-comercial.
Fruto da eroso da sociabilidade face-a-face, da aridez urbana despoletada
pela necessidade de usufruir da funcionalidade circulatria dos espaos ci-
tadinos, e da concentrao empresarial, os centros comerciais oferecem ao
indivduo o local de prtica da consumao. a que o homem se dota de
recursos materiais que lhe permitem armar-se e onde ele compe e pautua a
sua relao com os objectos de forma a construir reexivamente a sua identi-
dade. A consumao operada nos centros-comerciais diz respeito a relaes
sociais mtuas: se foca o indivduo envolve a sociedade; se foca a sociedade
implica o indivduo (Miller et all, 2005: 17).
O centro-comercial rene as condies para que se possa identic-lo
como o espao fsico predominante da consumao. No entanto, a sua im-
portncia mais abrangente. Na medida em que a consumao um assunto
de cariz pblico, de tecelagem das relaes sociais por intermdio de uma
cultura material, o centro-comercial congura-se como um srio pretendente
ao estatuto de espao pblico. No um espao pblico que serve de suporte
a uma publicidade crtica mas certamente um espao pblico que serve de
sustentculo a uma publicidade gurativa alter orientada assente na urdidura
material da identidade. Os caminhos para chegar prpria identidade, para
ocupar um lugar na sociedade humana e viver uma vida reconhecida como
signicativa, exigem visitas dirias ao centro-comercial (Bauman, 2000: 48).
Na modernidade tardia, o centro-comercial no um lugar assptico de
estrito e exclusivo consumo passivo, mas o lugar de um assenhoreamento ac-
tivo dos seus espaos com a consequente signicncia a ele atribudo. Quando
se introduzem num centro comercial, os sujeitos no entram num mero espao
arquitectnico, numa simples engenharia, mas penetram num outro tipo de es-
pao onde as motivaes no so apenas privadas, como passam por um acon-
dicionamento daquele espao ao desfrute individual de uma forma muito se-
melhante quela utilizada nos espao pblicos convencionais. Num centro-
comercial as pessoas passeiam, cirandam, guram, vagueiam erraticamente,
distraem-se, marcam encontros, namoram, discutem, reectem, aprendem,
conhecem et caetera. Exposies artsticas invadem os centros comerciais,
bem como espectculos, actividades ldicas, manifestaes, demonstraes,
colectas de sangue ou aces pblicas de sensibilizao. A compram-se pro-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 183
dutos mas, de igual modo, desenvolvem-se aces que fundamentam aquilo
que podemos entender por experincia pblica. Os quadros de sentido do
centro comercial deslocaram-se do conceito de mercado alargado para o de
espao pblico concentrado. A forma como os indivduos se posicionam,
pensam e fazem uso do centro comercial ilustra o deslizamento que ocorreu
na sua apreenso. Publicidade e consumao so experincias indelevelmente
societais, e na contemporaneidade, convergiram. No ltimo captulo da parte
II, ao aproximar essas duas esferas, procuraremos explorar a hiptese de ver
no centro comercial um tipo especial de espao pblico.
2.4 O Centro-Comercial como Espao Pblico
Partout on avait gagn de lespace, lair et la lumire entraient
librement, le public circulait laise sous le jet hardi des fermes
longue porte. Ctait la cathdrale du commerce moderne,
solide et lgere, faite pour un peuple de clientes.
mile Zola, Au Bonheur des Dames, 1882
Comrcio e espao pblico evolveram em paralelo. O comrcio teve,
desde a aurora dos tempos, uma importncia primordial na vida prosaica dos
homens assegurando no apenas o provimento material e alimentar da soci-
edade, como tambm respondendo a uma demanda social. Os mercados, os
trios, as ruas, as praas, eram locais de troca econmica mas igualmente de
troca simblica, de sociabilidade, de contraditrio e de informao. A sua im-
portncia transcendia a transaco comercial sendo locais de recreio ou cio.
Locais de troca comercial, as feiras e os mercados eram fundamentalmente
lugares de encontro que todos os dias reencenam a ligao societal e contri-
buam para a preservao da memria colectiva. Os espaos de troca econ-
mica eram marcados pelo intercmbio comercial mas obviamente no se resu-
miam a este. A agora da Hlade, por exemplo, era um espao polivalente que
comportava muito comrcio, mas tambm outras importantes funes como
o intercmbio poltico (polemos) e o intercmbio simblico-cultural. Os lu-
gares de comrcio so tanto espaos econmicos como reas de expresso e
difuso culturais, reas de desenvolvimento e concretizao de condutas so-
ciais prprias ao estreitamento dos laos inter-individuais (Poupard, 2005:
13).
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
184 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
O mercado , assim, a forma mais antiga de uma esfera pblica em sentido
sociolgico (Donne, 1990: 22). Oespao pblico encontra-se, desde a sua ori-
gem, umbilicalmente ligado a actividades econmicas sendo mesmo estas que
melhor caracterizam a cidade, entendida como a projeco da sociedade numa
organizao urbana da vida social. No comrcio reside a semente da vida ur-
bana, naquilo que ela engloba de interaco social. Para Weber, o que melhor
dene a cidade o mercado. Uma outra caracterstica deve ser mencionada
em relao cidade: a existncia de uma troca regular no ocasional de
bens, uma troca que a componente essencial da subsistncia e satisfaco de
necessidades, dito de outro modo, de um mercado (Weber, 1978: 1213). A
cidade, como local fundamental do vigor e da importncia do espao pblico,
encontra no mercado a primeira forma de relao. O comrcio fomenta a soci-
abilidade pois requer a deposio das armas e da belicosidade iniciando uma
relao pacca onde cada uma das partes se ouve reciprocamente e negoceia
mutuamente.
A partir da Revoluo Industrial, as relaes comerciais do espao pblico
registam a tendncia de se concentrarem em locais fechados e exclusivamente
dedicados ao trco mercantil. Na modernidade tardia, o comrcio operado
em espaos delimitados que se constituem autonomamente em relao ao te-
cido urbano: os centros-comerciais. Estes representam a evoluo lgica da
actividade comercial e social no seio da cidade industrializada ocidental. Nes-
tes novos lugares sociais de comrcio ainda se observam as prticas outrora
realizadas nos espaos pblicos: a recreao, o exerccio ldico, a tomada
de conhecimento de novas realidades, o intercmbio comunicacional ou as
interaces inter-subjectivas. Tal como antigamente eram os mercados, hoje
so os centros-comerciais a reclamarem um elevado grau de publicidade sob
o propsito bsico da transaco econmica. Porm, o encontro mercantil
traduz-se, como temos vindo a arguir, num encontro societal e simblico. O
centro-comercial no somente um espao comercial, mas um espao pblico
de sociabilidade. Como sublinha a supra-citao de Zola tendo em consi-
derao les grands magasins, os percursores dos centros-comerciais do Sc.
XX estes novos lugares de comrcio envolvem uma dimenso comunit-
ria, os indivduos so clientes mas formam igualmente uma comunidade (un
peuple de clientes), um povo reunido sob o pretexto do consumo mas unido
mais profundamente em interaces sociais muito signicativas. uma arqui-
tectura engendradora de vida social. pela importncia do lao social aqui
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 185
experimentado que os espaos de comrcio modernos se revestem de uma
aura sagrada e ritual pois, trata-se de recuperar, em permanncia, o vnculo
comunitrio perdido na organizao urbana da vida social. Trata-se de tem-
plos de convivialidade, exercida esta por intermdio da aquisio de objectos
que oferecem um sentimento religioso (no sentido etimolgico de religare) de
pertencer a um colectivo. Uma comunidade objectualmente congregada. Eis
porque Zola designa os novos espaos comerciais como catedrais.
Assim, pode compreender-se por centro-comercial, no um centro de tr-
co econmico mas um centro pblico de comrcio das subjectividades, de
trato das sociabilidades, de troca de valores identitrios. Eis como atentar nos
centros-comerciais como espaos pblicos.
2.4.1 As Razes Histricas dos Centros-Comerciais
O sc. XVIII o arauto da transformao da natureza da actividade comercial.
Esta institucionaliza o tecido urbano e converge espacialmente em extenses
circunscritas funcionalmente independentes. Em Paris, aparecem as primei-
ras galerias reunindo no mesmo local lojas diversas desde a restaurao, a
editores, antiqurios e costureiros. O seu sbito sucesso ca associado pos-
sibilidade recreacional em espaos fechados, abrigados de intempries e da
intensa circulao dos transportes. Os parisienses, especialmente a burgue-
sia, elegem as galerias como os locais predilectos das tardes e das soires a
convivendo e encontrando-se.
No nal do sc. XIX, as galerias, que na verdade no so mais do que ruas
cobertas temticas de comrcio, cedem o seu sucesso a novas estruturas que
pretendem acolher uma oferta muito variada de produtos sob o mesmo tecto
(Poupard, 2005: 10). So, pois, os grandes armazns (les grands magasins) os
progenitores dos modernos centros comerciais, observando-se, desde j, nos
primeiros os principais atributos dos segundos
30
. Respondendo s necessida-
des de maximizar as vendas, os arquitectos projectam edifcios cujo intuito
30
Claire Walsh (1999) observa, no entanto, que a novidade dos grandes armazns (depart-
ment store) deve ser relativizada pois, segundo a sua anlise, as prticas comerciais do sc.
XVIII j incluam as tcnicas que habitualmente se considera serem originais do sculo se-
guinte. O namoro das montras, a apresentao sedutora e sensorial (o ver e o tocar) dos
produtos, as promoes sazonais, bem como o consumo (shopping) como actividade social
encontram-se estruturalmente, desde logo, a partir de 1700.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
186 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
passa por estimular a imaginao, a curiosidade e de manter em completo en-
levo e atraco o consumidor, de forma a que as lojas garantam a presena
constante e a potencial disponibilidade de compra dos indivduos. Fachadas
monumentais, decoraes interiores magnicientes, enormes e deslumbrantes
escadarias, exuberantes montras que se abrem ao exterior para provocarem o
interesse na variedade da oferta, so os encantos que fazem gravitar os con-
sumidores em seu torno. As montras modulam a deslocao do consumidor
dentro dos grandes armazns de acordo com uma observao diletante e obl-
qua (browsing) conforme a sua ateno se movimenta de balco para balco.
Os corredores multiplicam-se, assim como novos servios vo sendo acres-
centados: cabeleireiros, sales de ch, ateliers de fotograa et caetera. Os
grandes armazns conguram-se como um grande bazar, uma vasta sucursal
comercial dos produtos de todo o mundo, mas com a qualidade acrescida da
grandiloquncia arquitectural e decorativa que explora a sensao de se en-
trar temporariamente num mundo de glamour e renamento, no qual [os con-
sumidores] imergem no drama do consumo e no deslumbrante espectculo do
mundo dos bens (Walsh, 1999: 51). Os produtos disponveis, que mistura-
dos entre si reforam o interesse do consumidor, estimulam-no a procurar o
extico mesmo ao lado de artigos triviais. Como modo de suscitar a atraco
pelos produtos estandardizados, criado todo um espectculo ofuscante que
outorga aos artigos um valor que, sozinhos, eles careciam.
Acresce que a compra no apenas uma questo econmica como pende
sobre uma relevante actividade social: a decorao e o luxo assinalavam os
grandes armazns com uma vertente ldica, mas tambm contribuam para
denir estatutos sociais (Walsh, op.cit: 58).
No obstante o seu carcter social, a ascenso dos grands magasins (rea-
lidade francesa) ou do department store (realidade anglo-saxnica) acarreta-
ram consigo consequncias ao nvel da sociabilidade. Em 1852, Boucicault
implementa trs novas ideias na sua loja de Paris, Bon March. Os artigos so
baratos e por isso vendidos em massa. Os preos so xos e etiquetados em
cada produto individualmente, e o consumidor pode entrar na loja, apreciar
os produtos sem ter de falar com o vendedor e ir-se embora sem justicao
alguma (Sennett, 1974: 141).
Ao uniformizar o preo dos produtos, Boucicault impediu o que at a
formava parte inalienvel do ritual de compra: o regateio. Quando os preos
so indiscutveis o vendedor j no interage com o consumidor, no tendo
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 187
incio um contacto amistoso, argumentativo e persuasivo entre ambos. A rela-
o torna-se aptica, formal e estilizada sem necessidade que se assumam os
papis sociais de vendedor e comprador. A distncia reina e o comprador per-
manece sozinho no acto no saindo da esfera privada das suas intenes. Para
a eliso da dramaturgia da compra e da venda contribui, tambm, o objectivo
de aumentar as vendas. O contacto entre vendedor e comprador implicava
perda de tempo na venda dos produtos, ao mesmo tempo que se corria o risco
de nada se vender. Ao querer vender mais, Boucicault despediu esse com-
portamento teatral. Estas duas ideias fazem da passividade e do silncio do
comprador a regra, ao mesmo tempo que fazem da compra um acto solitrio
e annimo. O terceiro princpio enunciado empolou ainda mais esta isolao
pblica do indivduo impedindo-o de sociabilizar. A no-obrigatoridade de
compra, isto , a despenalizao social da entrada numa loja sem nada adqui-
rir, faz do indivduo um comprador deambulante e fantasmagrico que existe
sem que sinta que existe, pois ningum se lhe dirige, apesar de nele repararem.
O que pode ser interpretado como uma liberdade individualista, julgado por
Sennett (op.cit: 141-149) como um aspecto da privatizao do homem e da
abraso em que as relaes sociais se tornam. Os grandes armazns, pais
dos centros-comerciais, so, deste modo, perpectivados como locais de empo-
brecimento da sociabilidade, espaos socialmente estreis e tendencialmente
anuladores da ligao emptica e simpattica que se respeitava tradicional-
mente.
Contudo, contrariamente a Sennett, consideramos que a emergncia dos
centros-comerciais no signicou a resciso, por parte do indivduo, das suas
conexes empticas com o resto da sociedade. A sociabilidade mantm-se,
no centro-comercial tal como no espao pblico, como um vector central das
motivaes individuais. Muito embora o sujeito faa do centro-comercial uma
utilizao predominantemente econmica, ele usa-o como apetrecho social
expressando uma sociabilidade, distante e menos calorosa do que a tradicio-
nal, mas igualmente efectiva, que ocorre fora dos espaos de consumo, nos
corredores, avenidas, praas e ptios do edifcio.
2.4.2 A Publicidade dos Centros-Comerciais
O conceito de centro-comercial nasce, no sc. XX, nos Estados Unidos da
Amrica, respondendo a uma vontade de planicao e organizao das activi-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
188 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
dades urbanas que visava a construo de um ambiente (espacial e emocional)
rico e saudvel que propiciasse o desenvolvimento pessoal medida que pro-
curava vender os produtos. O centro-comercial dene-se como um grupo de
estabelecimentos comerciais que dispe de parque de estacionamento prprio,
sendo planeado, construdo, possudo e explorado por uma entidade nica, e
cuja localizao, dimenso e tipo de estabelecimentos foi programada em fun-
o da rea de mercado que serve (Salgueiro, 1996: 206).
O seu horizonte passa por abranger ns pblicos, como a contribuio
para o bem-estar da comunidade, e ns privados como o aumento das vendas
dos produtos. A sua polifuncionalidade e a sua natureza compsita reformu-
lam, assim, um entendimento mais funcional e economizante da sociabilidade
e do papel do indivduo na sociedade. A cidade vive modelos insustentveis
de uso e vivncia. A violncia alastra, a insegurana cresce, o espao satura-
se, a circulao de traseuntes torn-se invivel com o trnsito automvel, e a
poluio faz-se cada vez mais sentir. O espao pblico torna-se um espao
vazio e desvitalizado, terra de todos e de ningum, local densamente povoado
de dia e estranhamente solitrio noite. Ele pauperiza-se na sua signicao
social, um apndice da funcionalidade suprua.
Copiando a organizao urbana, os centros-comerciais dividem-se em
ruas, avenidas, praas, rotundas, ptios e zonas verdes, tal e qual uma qualquer
cidade. Eles tomam para si as funes pblicas do espao urbano, mimetizan-
do-as e requisitando a centralidade dos processos pblicos de solidariedade
(colectas, doaes, sensibilizao e informao). Nesta lgica, assistimos
transferncia dos servios pblicos para o interior dos centros-comerciais,
como as estaes de correios, instituies bancrias, casas de cultura e cinema
et caetera.
O centro-comercial , assim, compreendido e utilizado segundo os qua-
dros de percepo de um espao pblico. Este fundamentalmente de um
novo tipo, mais concentrado, e formulado em oposio decadncia e esva-
ziamento de sentido do espao pblico tradicional. A procura de segurana,
os passeios exclusivos para os pees, a existncia variada de locais de re-
pouso (como os bancos e os repuxos de gua) e a colocao entre parentses
das condies climatricas, so alguns dos motivos que fazem dos centros-
comerciais os novos espaos pblicos das sociedades contemporneas ociden-
tais cuja publicidade est muito associada guratividade e consumao. O
centro-comercial favorece uma atmosfera de proteco fsica mas igualmente
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 189
de proteco emocional, como um lugar de encontro de tribalismos mltiplos
e de conviviabilidade objectual (Freitas, 1996: 19) que permite aos indiv-
duos comungarem de uma colectividade pela visibilidade e pela manipulao
objectual da identidade. A faceta pblica do centro-comercial conrmada
etimologicamente pela palavra inglesa mall que deriva do francs arcaico mail
e que tem o sentido de passeio pblico ou alameda. A essncia do signicado
lingustico do centro-comercial concordante com o signicado societal: um
lugar (pblico) onde se efectivamprocessos de mbito pblico, tais como a so-
ciabilidade e a existncia social e identitria pela gurabilidade. Tal realiza-se
reunindo diferentes classes, condies e origens sociais, assumindo na xeno-
lia, isto , na diversidade cultural a sua natureza marcadamente pblica. (. . . )
Os centros comerciais so lugares de mescla (brassage) social, de reencontro
de indivduos de origens e condies diferentes, lugares de intercmbio eco-
nmico, administrativo e cultural (Poupard, 2005: 117). Eles conguram as
neo-agoras (Freitas, op.cit: 54).
Contudo, necessria ponderao e alguma conteno na aplicao do
emblema de espao pblico aos centros-comerciais pois estes no so des-
providos de ambiguidade. Ainda que os mesmos cdigos de conduta sejam
aplicados no espao pblico tradicional (urbano) e no espao pblico dos
centros-comerciais, existem diferenas pequenas mas primordiais no seu uso,
uma vez que o que caracteriza verdadeiramente o carcter pblico dos novos
centros de consumao eles serem espaos pblicos privados. O centro-
comercial um edifcio de utilidade pblica com uma administrao privada
que no pode ser considerado um espao ao servio exclusivo dos cidados.
Ele no cabalmente incuo quanto tentativa de persuadir os indivduos a
agirem num determinado sentido: o da compra. O facto de se congurar como
uma iniciativa privada de espao pblico faz dele um lugar muito mais deter-
minado por valores e interesses especcos que nada devem ao bem-comum,
iniciativa essa que prossegue uma gesto mais ou menos arbitrria e parcial
do apoio concedido ou negado a certas iniciativas cujo horizonte pblico.
Embora os consumadores utilizem o centro-comercial como um espao p-
blico, da mesma forma e com os mesmos motivos com que frequentam os
espaos pblicos habituais, ele no totalmente pblico ainda que mime-
tize o espao pblico. O passeio pblico do centro-comercial preenche as
mesmas funes que a rua. A sua acomodao (amnagement) mobili-
rio urbano, espaos vegetais, sinalizao do espao em termos de ruas para
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
190 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
facilitar a orientao dos utilizadores tende a dar-lhe a mesma sionomia.
Mas, contrariamente rua, que pode ser considerada um elemento do dom-
nio vital e reconhecida como tal, o passeio pblico de um centro-comercial,
enquanto espao privado, deve ser considerado como um espao territorial
de caractersticas atpicas (Poupard, 2005: 134). Ele est aberto em pero-
dos especcos do dia/noite, envolvendo uma vigilncia dos comportamentos
muito mais cerrada e constringente, dispe de um controlo articial da tem-
peratura e da iluminao e o seu porte arquitectnico demarca-se do plano
urbanstico adjacente consagrando-o como uma unidade espacial parte. As-
sim, semelhana das lojas, restaurantes e cafs, o centro-comercial pode ser
perspectivado como um espao semi-pblico (Freitas, 1996: 64) onde est
implcito o pagamento pela sua utilizao. Porque se toda a gente pode entrar
no centro-comercial, este est construdo e envolto num sistema valorativo
tal que pressiona a um pagamento, nem que seja o do estacionamento. Por
oposio ao espao pblico da polis/urbe acessvel a todos, os territrios pseu-
dopblicos so de acesso limitado capacidade de pagamento, seja um ttulo
de propriedade ou quota, um bilhete de ingresso, ou o aspecto das pessoas. A
liberdade que oferecem sempre uma liberdade vigiada por seguranas sica-
mente muito presentes ou por diversos olhos electrnicos (Salgueiro, 1996:
181). Signica isto que, ainda que sejam receptivos a todos os cidados a sua
abertura relativa, sendo os primeiros a serem excludos os mendigos ao no
satisfazerem as condies de potenciais consumadores (e consumidores).
Observemos, pois, este aspecto que envolve o carcter pblico dos cen-
tros-comerciais, nomeadamente, o da limitao da capacidade de aquisio.
A consumao funciona sobre um conjunto de compras e trocas sociais que
envolvem necessariamente os aspectos econmicos. O oramento nanceiro
condiciona, em grande parte, o exerccio da consumao pelo que com esta
emerge um novo problema societal: o da excluso. A pobreza transmuta-se.
Actualmente j no unicamente uma questo econmica ou socio-econmica
mas autonomizou-se como um assunto plenamente sociolgico, na sua acep-
o mais larga.
Quando a consumao um processo do qual se faz depender a integrao
social e a identidade (colectiva e individual), ela gera uma variante da pobreza.
A satisfao das necessidades bsicas do indivduo no nica condio per
quam se garante a insero do indivduo na sociedade. A consumao pro-
mete, igualmente, essa incluso total como forma de participao socialmente
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 191
reconhecida, pelo que consumao est relacionada uma pobreza consu-
matria. A falta de recursos simblicos
31
congura essa variante recente de
pauperizao que impede o indivduo de formar mitopoeticamente a sua iden-
tidade e a sua posterior e decorrente insero numa classe ou grupo social.
Na sociedade que proclama a soberania do indivduo, existem indivduos que
no so, de modo algum, indivduos no sentido positivo da palavra, o mesmo
dizer, que existem indivduos que no podem ser qualicados positivamente
pelo sentido das responsabilidades e da capacidade de independncia que lhes
conferiria um valor intrnseco. E porqu? Porque eles carecem de recursos,
de suportes que rmam esses atributos positivos da individualidade (Castel,
2004: 122). O modelo de pauperizao que a consumao inaugura denota
um indivduo cindido com a sua auto-estima e aparte com a sociedade, um
sujeito carente e incompleto.
Poderemos compreender a importncia da consumao como modo de
cidadania se trouxermos lia as reexes de Alexis de Tocqueville. O pro-
gnstico clarividente de Tocqueville declarava haver nas sociedades democr-
ticas um exarcebamento da individualidade (Tocqueville, 1981: 125-127).
Esta assero algo enigmtica pretendia, no nosso entendimento, armar que,
na democracia, o indivduo encontra sua disposio um amplo conjunto de
recursos para fomentar a sua individualidade, o que, por conseguinte, o faz
desguarnecer as relaes sociais e inter-subjectivas. As sociedades demo-
crticas contemporneas encontram o seu princpio de funcionamento num
conjunto de expedientes de que o sujeito se deve munir por forma a sentir-
se enquanto indivduo na posse das suas capacidades e qualidades societais.
Existe uma demanda de sentido nos objectos de consumao. O indivduo
investe-se em si mesmo nos valores veiculados pelo processo societal de con-
sumao procurando-se de dentro para fora, de si para os objectos. A sua vida
social articula-se, em grande medida, volta da deteno de objectos, prenhes
de semioticidade (signicaes e signicncias), que lhe permite constituir-se
com pleno pundonor. O trabalho operado em torno da consumao inicia-se,
assim, no interior individual com a ordenao de sentido face ao objecto que
consuma, e prolonga-se na direco da exterioridade com a ordenao social
de sentido do objecto para o indivduo. Este um duplo movimento constan-
temente renovado nos actos de consumo identitrio ou consumao.
31
Na linguagem bourdieuana, capital-simblico.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
192 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
A pauperizao destas matrias-primas desloca do alcance do indivduo
a possibilidade de ele se construir e valorizar como tal. O sujeito mngua,
torna-se exguo, fragmenta-se, abre uma falha em si, deforma-se, denota uma
insucincia e uma anomalia na sua relao consigo mesmo e com os outros.
Ele torna-se um ser carenciado, um homem imperfeito. Como descreve Ro-
bert Castel, faltam-lhe os suportes objectivos para conseguir um mnimo de
independncia, de autonomia, de reconhecimento social, que so os atributos
positivos que se reconhece aos indivduos nas nossas sociedades. Eis porque
proponho de os designar por indivduos por defeito (individus par dfaut)
(Castel, 2004: 123). Esta incapacidade da sua inscrio em grupos sociais de-
terminados leva a que a prpria noo de cidadania perigue. A desqualicao
social pela impossiblidade de consumar coloca os indivduos numa situao
invulgar de pobreza, condicionando os direitos da dimenso social da cida-
dania. Obviamente, na pobreza consumatria no so as qualidades polticas
da cidadania que esto em causa, mas somente a seu direito consumao.
Cidadania signica, tambm e indiscutivelmente, a condio plena de mem-
bro de uma comunidade. Se essa participao comunitria se efectua hoje em
termos de consumao, ento, a pobreza consumatria um assunto de cida-
dania. A falta de recursos simblicos que esto na origem desta pobreza esto
dependentes dos recursos econmicos, embora no se possa estabelecer uma
correspondncia absoluta entre ambos. O indivduo consumatoriamente po-
bre sente-se vulnervel quando (ou se sente) privado de possuir um bem que
acredita ser basilar para o reconhecimento social dentro de uma comunidade,
ou para um completo fabrico reexivo da sua identidade. A pobreza no se
reduz falta de comodidades e ao sofrimento fsico. , tambm, uma con-
dio social e psicolgica. Uma vez que o grau de dignidade se mede pelos
padres estabelecidos pela sociedade, a impossibilidade de os alcanar , em
si mesma, causa de soobramento, angstia e morticao. Ser pobre signica
estar excludo do que se considera uma vida normal; no estar altura
dos demais. Isto gera sentimentos de vergonha e culpa que provocam uma
reduo da auto-estima. A pobreza implica, tambm, ver fechadas as oportu-
nidades para uma vida feliz (Bauman, 2000: 64). A consumao surge,
pois, como a actividade marcadamente societal e pblica que permite ao in-
divduo dotar-se dos meios materiais objectivos com vista sua aprovao,
integrao e reconhecimento societais numa esfera pblica gurativada.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 193
Detenhamo-nos numa outra vertente da problematizao da publicidade
do centro-comercial.
O centro-comercial objecto de um aproveitamento e de uma compreen-
so, por parte dos indivduos, semelhantes ao do espao pblico. Trs vectores
guiama construo e identicao do espao pblico, e todos esses trs princ-
pios se encontram materializados nos centros-comerciais. Em primeiro lugar,
a vida pblica reveste-se de imperativos funcionais que se colocam ao servio
das necessidades bsicas da sociedade, como a circulao de pessoas e produ-
tos, abrigo contra os elementos naturais e proteco privada contra os abusos
dos membros da sociedade. Concomitantemente, existem foras sociais na
moldagem de um espao pblico na medida em que ele deve ser o palco da
vida social da comunidade, com reas abertas que permitam a realizao de
eventos, festas ou comrcio. Um terceiro factor diz respeito dimenso sim-
blica da vida pblica, onde o espao pblico deve conter um conjunto de sig-
nicados consensuais e partilhados que lhe so adjudicados, servindo como
pano de fundo de romarias, rituais, homenagens e comemoraos de feriados
ou dias importantes.
Todos os supraenunciados princpios presidem, quer ao espao pblico
urbano tradicional, quer ao espao pblico dos centros-comerciais. Neste se
observam sensivelmente as mesmas actividades e investimentos sociais. Am-
bos os espaos pblicos providenciam encontros casuais no curso quotidiano
que relacionam as pessoas e as fazem partilhar um sentimento colectivo fun-
dado na co-presena espacio-temporal. A vida pblica a encenada prope
o alvio das tenses nas oportunidades sugeridas de relaxamento, diverso e
entretenimento.
O prprio uso que os consumadores fazem dos centros-comerciais aproxi-
ma-os de exactos espaos pblicos. Tal constata-se no modo como nele se
posicionam os consumadores operando uma aco de apropriao do espao.
Por apropriao podemos entender o processo psicolgico de interveno e
aco sobre uma dada espacialidade com a inteno de a transformar e de a
personalizar. Frequentemente essa intercesso traduz-se na posse e na ane-
xao. A adaptao da espacialidade s necessidades fsicas e psicolgicas
um factor importante para que os indivduos possam sentir-se confortveis e
sejam capazes de interagir, tal e qual acontece no espao pblico tradicional.
A disposio dos objectos, nomeadamente mesas, cadeiras, bancos, escadas,
pontes, vegetao ou pedras, condiciona a emergncia dos comportamentos
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
194 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
que os indivduos levam a cabo entre si, e entre si e o ambiente circundante.
Os consumidores tomam para si pedaos do espao fsico do centro comer-
cial delimitando um territrio sobre o qual se sentem plenipotencirios e ao
qual reagiro face a possveis intromisses. Os recantos ou as escadas so
apropriadas como lugares de repouso que servem, a mais das vezes, como
enquadramento fsico para relativamente breves interaces entre indivduos.
A, tal como numa vulgar praa, come-se, fuma-se, conversa-se. A maior ou
menor existncia de locais de repouso e inactividade vo provocar a maior
ou menor disponibilidade para interaces face-a-face, bem como a maior ou
menor probabilidade de fomentar a sociabilidade. A utilizao mais ou me-
nos prolongada dos lugares de repouso, a redisposio de assentos quando tal
possvel, a utilizao de recantos protegidos dos uxos de circulao como
locais de repouso ou estagnao, evidenciam uma certa apropriao destes
espaos pelos utentes do centro comercial, mostram mesmo uma forma de
territorializao. Estes comportamentos poderiam ser considerados indicado-
res de um reconhecimento do espao do centro-comercial pelos seus utentes
como sendo um elemento da sua quotidianiedade, um ambiente no qual eles
se sentem bem, um lugar onde podem exprimir as suas necessidades mais fun-
damentais como o descanso, a alimentao ou os encontros sociais (Poupard,
2005: 83).
Estabelece-se, assim, uma relao prxima entre utentes e centros comer-
ciais, se quisermos, entre cidados e espao pblico. Nessa relao, o indiv-
duo no se aprecia meramente como consumidor mas como um consumador,
algum que utiliza um outro tipo de espao pblico para concretizar tarefas de
teor essencialmente pblico. O centro-comercial percepcionado como um
genuno espao de vnculo social fornecendo o local abrigado onde os grupos
sociais se podem reconhecer e diferenciar pela consumao, e onde cada indi-
vduo pode adquirir os recursos simblicos que lhe permitam comunicar pelos
objectos e classicar-se, ou dito de outro modo, onde os indivduos regateiam
a sua assimilao social, as suas solidariedades, a(s) sua(s) identidade(s). O
centro comercial utilizado como um espao pblico, como fazendo parte
integrante do espao vital dos seus utentens (Poupard, 2005: 115). Ele
adaptado aos indivduos e s suas necessidades, tornando-se-lhes familiar e
imprescindvel. Assim se justica o reiterado retorno dos consumadores.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 195
2.4.3 Os Centros-Comerciais como Catalisadores da Vida Social:
uma Sociabilidade Itinerante
O centro-comercial sinnimo de uma miniturizao da sociedade, concen-
trando em si (quase) todas as suas instituies, quer pblicas, quer privadas.
O mundo fechado do edifcio abre-se como um todo, como uma sociedade
plena, numa desmultiplicao espacial de realidades sumariamente xadas.
O espao do centro-comercial como um tecido reticular: ao longe parece
opaco, dene-se na sua aparncia, mas no deixa de ser formado por milhares
de hiatos, vazios que o tornam transparente e permevel e que regressam com
percepes caleidoscpicas do mesmo objecto. O centro-comercial uma es-
pcie rizomtica de matrioshka, um objecto que contm ad innitum outros
objectos dentro de si que se vo descobrindo e descamando. Fazendo aces-
sveis num mesmo lugar diversos outros lugares, os espaos de consumo (e
consumao) do sc. XX colocam-se como verdadeiras heterotopias ao pos-
surem a capacidade de justaporem, num s lugar, variados espaos que so
estranhos uns em relao aos outros (Foucault, 1967). Como uma tela a duas
dimenses que mostra uma realidade a trs dimenses, o centro-comercial
um tapete que envolve o indivduo onde o mundo se vem projectar e que en-
reda um recorte picotado do tempo, uma heterocronia. Tempos de chegada
com tempos de partida misturam-se, tempos de labor concorrem com tempos
de lazer (com as consequentes passagens mais rpidas ou mais lentas das ho-
ras), o dia cruza-se com a noite, o tempo de comprar baralha-se com o tempo
de socializar, o tempo incansvel e sempre mutvel da moda confunde-se com
a ruptura dos stocks e da reposio, o tempo da circulao apressada junta-se
com o tempo da annrie vagueante. Paradoxalmente, a acumula-se o tempo
para o gastar, economizam-se horas (de estacionamento, de acesso ao local,
de convenincia pelas lojas estarem perto umas das outras) para as desperdiar
em circulaes diletantes, como um mar que faz vogar distraidamente as suas
ondas no mesmo momento em que elas se apressam a dar costa.
O vidro o material predominante pela sua qualidade de dar o visvel, de
mostrar e fazer gurar distncia, como que aproximando o olhar ao mesmo
tempo que afasta o corpo, numa clara separao entre o desejo e a sua satis-
fao. Deixando ver os objectos e as pessoas atravs de si, a vidraria tambm
faz-se atravessar pela luz ao mesmo tempo que ilumina os indivduos. Estes
esto sempre em contacto fsico ou sensorial uns com os outros.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
196 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
Esta proximidade extempornea e errtica, no intencional mas nem por
isso menos real, pode servir-nos para conceber uma sociabilidade que o cen-
tro-comercial promove e que est em completa concordncia com o que des-
crevemos como uma publicidade de cariz gurativo, ou seja, uma qualidade
que confere ao indivduo a probabilidade de evocar-se enquanto tal perante os
seus semelhantes e de ser reconhecido na identidade que ele predica.
Os uxos circulatrios expressam uma das sociabilidades que os indiv-
duos experimentam no centro-comercial, sendo ela exclusiva destes novos ti-
pos de espao pblico. At aqui a sociabilidade poderia dar-se numa inte-
raco face-a-face, numa interaco mediatizada ou numa interaco quasi-
mediatizada. O que surge com os centros-comerciais uma interaco que
preserva o espao individual e silencioso dos consumadores mas que, todavia,
os fazem entrar em aco recproca e em partilha do sentido de colectividade
(ainda que annima) na peregrinao pedestre que , nesses locais, fomentada
pelas enormes ruas.
Os utilizadores dos centros-comerciais no podem ser considerados sim-
plesmente uma multido, nem um aglomerado cuja presena e contnuo reno-
var de presenas se prende exclusivamente coma sua dimenso de consumidor
e com as ofertas comerciais. Pelo contrrio, as idas recorrentes a estes locais
devem-se dimenso consumatria do indivduo que toma parte nestes uxos
descodicando a comunicao no-verbal que eui um efeito de grupo. Os
magotes podem ser considerados colectividades sociais que, laia de romaria,
respondem a uma necessidade de encetar trocas simblicas inter-individuais.
Os uxos de circulao so locais de intercmbio inter-individual consciente
ou inconsciente que pretendem criar um vnculo entre os indivduos que os
compem. Este vnculo no de ordem individual mas, sobretudo, ligado
ao sentimento de pertena a um grupo, sociedade ou espcie. A confronta-
o com os congneres que constitui o uxo de circulao refora os laos
inter-individuais e o sentimento de pertencer espcie humana (Poupard,
2005: 58). A emisso de signos culturais fomenta o papel integrador que
estes ranchos sincronizados de pessoas consignam pela benevolente partici-
pao dos congneres, onde para l do simples reconhecimento se regista um
equilbrio siolgico e psicolgico. Os centros-comerciais estimulam estes
cortejos inaugurando um novo tipo de sociabilidade que poderamos apelidar
de sociabilidade itinerante ou ambulatria. Existem evidncias de que
cada sociedade apresenta a sua cadncia na locomoo pedestre sem que isso
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 197
seja justicado por condies siolgicas. So, antes, condies culturais que
esto na origem da importncia destes cortejos multitudinrios, e que enfati-
zam como a sua locomoo a causa do reconhecimento de um grupo social
de uma mesma cultura (Poupard, 2005: 59). Estas arruadas prprias de uma
sociabilidade ambulatria contribuem para a signicao alardeada dos sujei-
tos que reecencenam publicamente as suas identidades (pessoal e colectiva) de
pertena. Repare-se na diferena da cadncia dos traseuntes nova-iorquinos e
dos traseuntes lisboetas. Cada sociedade encorpora um dado modo de deslo-
cao que a faz identicar-se entre si. A sociabilidade itinerante ou ambula-
tria caracterstica do espao pblico do centro-comercial. Porm, podemos
compreender nas peregrinaes ou nas romarias a proto-forma desta sociabili-
dade. Na verdade, a dimenso pblica desses modernos espaos de comrcio
(de produtos e de sociabilidade) no faz eclodir ab ovo uma sociabilidade
ambulatria; eles empolam e dilatam um tipo histrico de convvio societal,
agora levado aos pncaros da relevncia social.
Num centro comercial, o indivduo sai do trnsito multitudinrio acaute-
lando-se contra eventuais atropelos e, mais algumas centenas de pessoas de-
pois, e aps ter eventualmente visitado uma loja, reentra na circulao apres-
sando-se a integr-la, rapidamente adaptando a sua passada do uxo. Este
traduz-se na subordinao colectiva a uma mesma unidade espacio-temporal
que compensa o desaparecimento dos espaos pblicos urbanos e da sociabili-
dade tradicional intensa que se resumem agora a uma forma diluda. A coeso
conseguida por aquilo que Stanley Milgram chamou, em 1977, no livro The
Individual in a Social World, de familiar stranger: uma relao congelada
marcada por um fosso que de tanto repetir-se se torna familiar e reconfortante,
mesmo que no se conheam as pessoas implicadas. A percepo de um ou-
tro indivduo funciona como uma sindoque, onde a sua imagem est pela
sua personalidade, como se oferecendo a sua gurabilidade, ele prometa a sua
subjectividade.
Esta inusitada sociabilidade pode ser justicada pela bio-sociologia hu-
mana e animal. Para um animal gregrio, a procura da companhia de outros
seres revela-se vital. Nos primatas, o isolamento acarreta distrbios com-
portamentveis considerveis. A importncia da sociedade to grande que,
como mostra a Psicologia Social na experincia de Harlow, um chimpanz
prefere o contacto com um manequim caloroso, forrado de tecido confortvel
que lhe lembre um seu congnere, do que um manequim metlico e frio que
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
198 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
lhe oferea comida. H, no mundo natural, como no humano, como que uma
pulso vital de procura do contacto com outros indivduos, um apetite pelo
estar-junto (inter homines esse). Esta pulso pode explicar porque se observa
a preferncia dos idosos e de outras pessoas com grande disponibilidade ho-
rria, a utilizar os transportes pblicos ou a deslocarem-se a supermercados,
justamente nas horas em que so mais utilizados pela populao activa. A
motivao pela ida ao centro-comercial no o consumo mas a consumao,
a partilha de signicados sociais, a sociabilidade ambulatria, e isso mostra-
se como uma terapia contra a solido, isolamento e anomia das sociedades
ocidentais da modernidade tardia. Os objectivos deste espao de consumao
passam pelo voyeurismo e o exibicionismo como formas de uma contacto-
terapia (Baudrillard apud Freitas, 1996: 15). A consumao operada nos
centros-comerciais repara e revitaliza o isolamento existencial do indivduo
guarnecendo-o com os recursos morais necessrios para gozar uma vida satis-
fatria no seio dos seus congneres. A ausncia de sentido pessoal, atributo da
modernidade tardia, compensada com um sentido alcanado na consumao
pelo contacto supercial entre os indivduos e pela sua inscrio nas listas de
certos grupos sociais que lhe oferecem o que prosaicamente se diz como um
modo de estar na vida.
Com efeito, esta sociabilidade itinerante, apesar de diluda, no rida
como pensava Sennett referindo-se aos grands magasins (Sennett, op.cit:146).
Os cortejos no so actos casuais, indisciplinados e anrquicos, mas obedecem
a um padro interiorizado pelos seus elementos que nos recorda o processo
activo de interaco que ocorre nessa nuance de sociabilidade. Como funda-
mento de uma sociabilidade ambulatria e de uma interaco dinmica por
parte dos indivduos entre si durante o uxo circulatrio nos centros comer-
ciais, podemos aduzir os princpios de interaco entre estranhos que for-
mam uma estrutura primria de utilizao do espao pblico (Loand, 1998:
27).
A primeira mxima evidente e explica o grau de padronizao das in-
teraces: o princpio da mobilidade cooperativa consagra a ideia de que os
estranhos colaboram entre si de forma a atravessar e cruzarem sucessivamente
o espao sem incidentes. As pessoas, mesmo aparentando alheamento, esto
em permanente interpretao e antecipao dos movimentos dos seus cong-
neres, tal como uma coreograa. Assim, os encontros no espao pblico no
so ignorados mas contribuem decisivamente para o traado que cada indi-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 199
vduo adopta, mostrando como a interaco no indolente mas sensvel e
activa. O indivduo est comprometido apesar de simular estar absorto ou
distrado.
O segundo prncipio enunciado por Erving Goffman, d pelo nome de
indiferena corts (civil inattention) e complementa o primeiro. O indivduo
assinala visualmente um seu par demonstrando que reparou nele enquanto
procede ao desvio do olhar expressando que o seu par no alvo de uma
ateno especial (Goffman, 1966: 84). Muito frequente nos elevadores, este
tratamento impessoal e esta negligncia delicada escondem, no uma relao
de desinteresse asocial, mas uma de polidez e cortesia que, em ambientes
densamente populados como os espaos pblicos, permite a copresena sem
comprometimento e a interao sem que o indivduo se sinta compelido a agir
de forma contrria desejada. a condio sine qua non da vida urbana
32
.
O sujeito no ignora os outros sujeitos. Na verdade, mantm-nos sob o seu
olhar. Porm, f-lo de forma discreta e abnegada como modo de no ferir as
susceptibilidades e de no invadir a privacidade marginal que cada indivduo
deve, implicitamente, possuir no espao pblico. Assim, tendo em ateno
o outro, que o indivduo se faz rogado a explicitamente prestar toda a ateno
nele. Isso seria virtualmente impossvel numa cidade, e considerar-se-ia uma
assumida falta de educao.
Os uxos de circulao so diligncias dinmicas que envolvem um indi-
vduo activo e expectante no que diz respeito a manter um certo grau de socia-
bilidade com os outros, embora seja uma sociabilidade dissolvida baseada em
princpios que aparentam o total desinteresse nos restantes indivduos. Pelo
contrrio, est em jogo a polidez e a civilidade como meios de manuteno
dessa sociabilidade distante e itinerante.
Em sntese, a guarida que a consumao d ao no-consumo reelabora
a convivialidade e a sociabilidade com base em novos cdigos, espaciais e
emocionais. Os centros-comerciais instituem-se como espaos de relao, so-
cialmente investidos da capacidade agregadora e solidria, e que nos obriga
a pensar neles segundo um modelo convivial (Salgueiro, 1996: 172) que
articule a crescente atomizao dos processos sociais, o redrudescimento do
32
Este princpio permite lidar com aquilo que Georg Simmel identicou, na cidade, como
sendo a exposio a uma profuso de estmulos que acaba por tornar o indivduo displiciente
e blas, ou que Louis Wirth enunciou como sendo um overload, uma sobre-estimulao do
indivduo que o torna ablico.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
200 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
tempo-livre e do cio, e a dimenso mitopotica da consumao que sublinha
a formulao e a projeco identitrias. A disposio espacial, a profuso de
vitrines e a difuso de informaes e actividades paralelas so motivos que
reforam a concentrao humana com o intuito de provocar o encontro social
das pessoas. Naturalmente este no activo ou directo mas nem por isso deixa
de acontecer e de romper com o colete-de-foras que tende a existir nas rela-
es entre o indivduo e a sociedade. Na verdade, o centro-comercial substitui
ao colete-de-foras a metfora da redoma de vidro deixando a pessoa visvel
e susceptvel a eventuais solicitaes, no obstante o seu suposto alheamento
e inacessibilidade.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Concluso
A investigao que agora chega ao termo no ousa ter expectativas de solu-
cionar os problemas contemporneos da publicidade. No se faa teno de
encontrar numa esttica da gurao ou numa consumao a panaceia para as
imperfeies ou enfermidades da esfera pblica. Aconstante dissertao, con-
vocando seis campos do saber como a Sociologia (sociologia interpretativa), a
Antropologia, a Economia, a Histria, a Psicologia Social e a Filosoa (loso-
a poltica, pragmatismo, fenomenologia), explora, sonda, pesquisa, percorre
um terreno conceptual que permite compreender criticamente o disforismo
reinante, todavia, sem cair em optimismos ingnuos. A sua preocupao foi
a de problematizar, a de dar forma a um problema sentido por todos, sabendo
que o problematizar, sem respostas ltimas ou certezas absolutas, um prin-
cpio de explicao contemplando em si um certo responder. Assim, esta pes-
quisa de dissertao possui uma inteno na medida em que se delineia como
uma insinuao.
A publicidade contempornea s pode ser compreendida com as transfor-
maes histrico-sociais ocorridas e os deslizes de sentido que as sociedades
lhe foram percutindo. Acompanhmos as transformaes e os modelos de que
a esfera pblica foi investida ao longo dos sculos. A presente esfera pblica
encontra-se, de certa forma, penhorada pela ideologia informacional que erra-
dica a comunicao dos seus horizontes. As sociedades ocidentais convergi-
ram na direco da alteridade, de uma vigilncia das actividades do outro e da
paulatina inuncia da sociedade no seu todo nas actividades e nos comporta-
mentos individuais. A opticidade torna-se condio de sociabilidade, torna-se
o princpio fundador da apresentao do indivduo aos seus pares, assume-se
como o instrumento de demonstrao das aparncias. A pan-visibilidade ou
o panopticismo inclui um mecanismo disciplinar em si de ordenao e doci-
201
i
i
i
i
i
i
i
i
202 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
lidade dos corpos, da sua organizao e subservincia ordem societal. O
conformismo um aparelho de solidariedade social nas sociedades contem-
porneas induzido pela visibilidade mas tambm pela interaco simblica.
Esta encontra nele a possibilidade dos indivduos se interrelacionarem e inte-
ragirem numa tarefa normalizadora que concorre para a denio dos quadros
de sentido e da situao experienciada perceptualmente. Decorrente da ne-
cessidade do indivduo transpirar a sua personalidade e fazer-se reconhecer na
esfera pblica por intermdio de formas simblicas aceites e valorizadas, est
o imperativo de se gurar. A gurao, tal como cremos realizar-se na esfera
pblica da actualidade, surge quando acedendo avaliao pblica dos seus
pares, o indivduo ultrapassa as frgeis fronteiras da sua privacidade para se
presenticar e apresentar, construir uma imagem idealizada do seu eu que
obedea tacitamente s presses ao conformismo e satisfao das expectati-
vas que a moldura interactiva da ordem social faz vigorar. A gurao essa
identidade virtual que, pelo uso correcto dos smbolos, mantm uma coern-
cia que faz do self uma identidade compatvel com as situaes vividas. Ao
conformar-se e corresponder situao interactiva previamente estabelecida,
a identidade virtual torna-se a identidade real, aquela pela qual conhecemos
um certo self.
Neste processo guracional, o smbolo revela crucial importncia. In-
terpretado na sua acepo husserliana e schutziana de appresentao, ele
corporaliza a revoluo da aparncia, isto , a rotao de um corpo fenom-
nico que se transposiciona gravitacionalmene em torno de um sentido oblquo.
A appresentao a realizao em declive de uma percepo, de um trn-
sito descongestionado entre um objecto apreendido na convergncia de uma
aparncia e de uma realidade, de um entendimento sensorial e uma operao
intelectual, de um ser que se presentica mas que s existe por associao com
um real no fenomnico (um quase nmeno) que concorre de igual modo para
a apresentao. O indivduo gurativa-se simbolicamente, isto , guraciona-
se no manejar de uma apario, de uma visibilidade que pressupe uma outra
dimenso do indivduo, uma dimenso que se furta esfera pblica mas que
est contida nesta. Se outrora a publicidade no se apresentava to gurada
era porque esta tarefa do sujeito ser reconhecido pelos seus iguais permane-
cia enclausurada em contextos comunicacionais face-a-face. Actualmente as
tecnologias da imagem (da visualidade e da visibilidade) registam um cresci-
mento exponencial enfatizando a premncia do indivduo encenar a sua identi-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 203
dade, ao mesmo tempo que a efemeridade e a atomizao das relaes sociais
incentivam a uma cada vez maior tendncia apresentao (visual) formal do
indivduo.
Conceber a esfera pblica hodierna a partir da gurao conduz-nos a
revalorizar a aparncia, o aparecer, a materialidade plstica, o corpo. Signi-
ca tambm a restaurao de uma certa epifania helnica de uma esttica da
existncia, no s do inter pares adspicere do estar junto pelo mirar mas
ante tudo do omnium oculos convertere ad se, dito em portugus, da atraco
dos olhares. A sua condio a de apresentar, ante oculos proponere, como
forma de solidariedade social. A visibilidade uma sentena. Ver para julgar,
ver para crer. A aparncia essa partilha do olhar colectivo que xa o modo
de Ser. H, porm, um tremendo diferimento entre a epifania helnica e a
epifania hodierna da esfera pblica. Na modernidade tardia, ao contrrio da
publicidade epifnica grega, Ser e Aparecer no coincidem. Aquilo que o in-
divduo no o mostra. O que d a conhecer somente a orquestrao plstica
de uma idealizao da sua personalidade. Ainda que na publicidade gurativa
contempornea quem no seja visvel no exista, Ser e Aparncia distam entre
si, incluem-se em dimenses perpendiculares ou paralelas entre si sem nunca
de intersectarem. O smbolo opera, ento, no resgate das distncias entre o
que se e o que aparece, na redeno entre a personalidade e a sua drama-
turgia. Ele hierarquiza, torna vsivel, no aquilo que visto mas antes aquilo
que deve ser visto. A simbolicidade dispe o olhar, predispe-no a dirigir-se
numa determinada direco. O smbolo articula-se na publicidade gurativa
como imago, espcie de mscara, eco de uma aparncia que persiste mesmo
quando a sua referncia no presencial. A simbolizao da esfera pblica
passa, igualmente, por ser o ponto de conuncia do self na sua fragmenta-
o entre um I e um Me. Toda esta lucubrao indicia um sentido muito
claro do indivduo: a preponderncia no self do Me, da alter-orientao, da
imitao, do conformismo e da disciplina que o outro implica.
Esta pesquisa termina, no fundo, no mesmo ponto em que se inicia. Numa
leitura atenta retiram-se elevadas anidades entre uma publicidade epifnica
e uma publicidade gurativa: a importncia fenomenolgica do aparecer ao
mundo e do estar entre os homens, a preponderncia da visibilidade na con-
cretizao dos processos de sociabilidade e de armao da identidade indi-
vidual, o sublinhar de uma solidariedade comunitria possibilitada pelo estar
junto, o destaque que a integrao societal ganha na esfera pblica, e a consi-
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
204 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
derao da reputao como princpio do homem pblico. A representao que
o helnico protagonizava na publicidade epifnica prolonga-se numa publici-
dade gurativa. Mas existe, tambm, uma acentuada linha de continuidade
entre aos diversos modelos de publicidade, na medida emque o conceito de re-
presentao est presente em todos eles. Num primeiro nvel de continuidade
damos conta da relao entre Ser e Aparecer. Numa representao epifnica,
Ser e Aparecer coincidem; numa representao medieval, o Ser e o Aparecer
so momentos formais do senhor feudal; uma representao crtica dos assun-
tos que aigem o homem iluminado fazem do Ser e do Aparecer momentos
secundrios; numa representao refeudalizada da publicidade demonstrativa
o Ser e o Aparecer so manipulados; e, por m, numa representao gura-
tiva, Ser e Aparecer so descoincidentes, manipulados e exercidos de forma
dramtico-expressiva. Neste modelo hodierno da publicidade, nem tudo o que
(a)parece . O conceito de appresentation expressa esse lapso entre o funda-
mento do aparecer e a efectiva realizao do aparecer, esse intervalo entre o
Ser e o Aparecer, esse hiato entre Ser, Parecer e Aparecer. A referncia appre-
sentacional consiste no acto simblico de resgate do Ser atravs do Aparecer
que enceta o Parecer como condio de identidade, como premissa e remisso
do Ser.
Num segundo nvel de continuidade entre os sucessivos modelos histri-
cos de publicidade, destacam-se as questes da dramaturgia, do espectculo
na acepo terminolgica de spectare, isto , de observao, do aparecimento
e da apario de si. Se a publicidade crtica constitui o modelo de esfera
pblica menos atreito aos valores dramtico-expressivos, ela no deixa de,
na proclamao dos valores poltico-racionais, utilizar uma certa dramaturgia
que os encontros rituais nos cafs, nos teatros ou nos passeios pblicos indi-
ciam. O homem pblico da Ilustrao era, igualmente, um homem pblico
que se fazia (a)parecer de forma a conquistar a admirao e o respeito do p-
blico a que se dirigia. As intervenes lingusticas no elidiam a componente
simblica dramtico-expressiva de que o indivduo se fazia acompanhar em
qualquer acto de publicidade.
Salientamos, ainda, como aspecto que atravessa toda a investigao, o
papel do desejo como cruzamento entre uma publicidade como esttica da -
gurao e a consumao como consumo societal. Tanto no desejo mimtico
de uma alter-direccionalidade, como no desejo ftico da consumao, o que
se salienta o grau de abertura e de disponibilidade societal que a publicidade
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 205
gurativa, como a consumao, estimulam. O que est em causa nestas duas
variantes do desejo o apetite do indivduo por encetar contextos comunicaci-
onais, predominantemente simblicos e livres, que satisfaam as demandas de
aprovao e de integrao societal, a partir de uma atitude concentrada, no no
individualismo exacerbado mas numa alteridade. Deste ponto de vista, pode-
se compreender porque se designa o anncio comercial por publicidade. O
reclamo constitui-se como assunto pblico na medida em que, ao salientar os
produtos para venda, est a sugerir aos sujeitos quais os objectos que renem
o consenso para serem utilizados societalmente em processos de consumao.
Ele destaca de um amplo espectro de objectualidades aquelas que apresentam
as condies de contribuir para a abertura dos laos de sociabilidade e para a
integrao individual nos grupos de pertena. Assim, o anncio comercial
um ponto intermdio do desejo, e erigi-se como fomentador das relaes de
reciprocidade e de solidariedade societais.
De facto, os requisitos de que o sujeito necessita, no contexto de socie-
dades centrpetas, de corpos sociais que denotam uma atroa da capacidade
agregadora (bind society), repousam, no integralmente mas em grande me-
dida diramos, nos recursos simblicos da consumao de que a esfera pblica
gurativa se aproveita. A consumao, em especial a sua dimenso mitopo-
tica, a grande narrativa contempornea que, tal como as meta-narrativas lyo-
tardianas, engendram um acordo comunicativo e uma xao consensual das
identidades. As micro-narrativas compostas dessas biograas operadas mito-
poeticamente na consumao concorrem para a organizao dessa narrativa
fundamental contempornea que acaba por ser a consumao. Respondendo
s questes constantes na introduo, pode armar-se que o consumo no
um acto privado e individual mas uma actividade pblica e societal. O con-
sumo , na verdade, consumao.
A publicidade congura-se, tambm, com uma faceta gurativa intima-
mente dependente dos processos sociais de consumao onde emerge um tipo
de espao pblico que faz convergir essas duas dimenses, a consumao e
a publicidade gurativa, no mesmo local: os centros-comerciais. Publicidade
gurativa, consumao e centros-comerciais formam a pirmide de entida-
des reciprocamente dependentes da vida social das sociedades estandardiza-
das contemporneas. Eis trs dos principais fundamentos da vida social e do
coeciente entre indivduo e sociedade. Isto no quer dizer que negligencie-
mos outras dimenses da publicidade, nomeadamente a poltica. Sem dvida
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
206 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
que ela um constituinte da esfera pblica, talvez o mais pregnante consti-
tuinte onde a sociedade civil negoceia, quer os destinos da sociedade, quer a
luta pelo reconhecimento das identidades sociais e individuais. No entanto,
isso no satura todas as dimenses da esfera pblica. Permanecem outras to
operantes quanto a poltica. O reconhecimento intersubjectivo, inclusivo e
exclusivo, actividade pblica por excelncia, deslocou-se do campo poltico
para o campo social da consumao. A integrao, a diferenciao, e a criao
de identidades sociais altercam-se no domnio da consumao, como proces-
sos que visam o aplauso e o consentimento da sociedade. O centro-comercial
proporciona o espao fsico para esse m.
As teorias convencionais do reconhecimento (pensamos especicamente
na proposta de Axel Honneth (1995: 220-260)) concebiam o reconhecimento
intersubjectivo como uma agonia (do grego agonia), como competio o-
perada no espao pblico por intermdio da intercompreenso lingustica, de
racionalidade comunicativa onde se inauguravam processos comunicacionais
que proporcionavam ao indivduo a dignidade e o respeito de que carecia para
se fundar em subjectividade. Parece-nos que ocorreu um resvalamento desta
situao ideal de reconhecimento. Numa publicidade como esttica de gu-
rao onde se realizam processos de consumao, a luta pelo reconhecimento
intersubjectivo regista uma conitualidade quanto sua denio de espaos,
estratgias e mesmo de acepes de reconhecimento. O espao pblico con-
vencional tende a ser suplantado por novas modalidades de espao pblico
mais atreitas aos imperativos da gurao e da consumao, como exemplo
o tipo de espao pblico que os centros-comerciais inauguram. Face linguis-
ticidade da experincia ancestral de reconhecimento, so as matrias-primas
simblicas a fomentarem a racionalidade dramtico-expressiva da consuma-
o como lgica de reconhecimento societal. No so apenas os dispositi-
vos tecnolgicos de mediao simblica a constiturem-se no palco privile-
giado das lutas pelo reconhecimento das identidades (Pissarra Esteves, 2003:
100). Existe, ainda, uma terceira fonte da experincia do reconhecimento
para alm do espao pblico e do espao pblico mediatizado alternativa
aos dispositivos tecnolgicos de mediao simblica: uma consumao rea-
lizada nos centros-comerciais mediante uma publicidade gurativa que j no
ocorre tanto intersubjectivamente quanto societalmente. O reconhecimento
que os homens procuram subtilmente na consumao efectiva-se convocando
uma multiplicidade de indivduos, e no tanto de subjectividade para subjec-
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 207
tividade como o reconhecimento intersubjectivo. O reconhecimento da so-
ciedade, ou reconhecimento societal, alcanado pelo indivduo a partir do
conjunto do tecido societal, consoante a sua prdica aquisitiva o insere em
classes sociais, comunidades totmicas ou grupos tribais.
Vericamos que as condies de possibilidade para o reconhecimento in-
tersubjectivo so anlogas s do reconhecimento societal das subjectividades.
Para que o indivduo se sinta digno e ntegro, ele deve ser capaz de nutrir por
si trs conceitos: valorizao pessoal (self-condence), apreo pessoal (self-
respect) e considerao pessoal (self-esteem) (Honneth, 1995: 252-256). As
lutas pelo reconhecimento intersubjectivo travam-se mediante estes trs vr-
tices. Ora, tambm as lutas pelo reconhecimento societal, preenchidas pela
consumao, convidam o sujeito a ser conrmado na sua identidade (e indivi-
dualidade) de acordo com a valorizao, o apreo e a considerao pessoais.
Referimos um novo tipo de pobreza a pobreza consumatria para desig-
nar a situao em que o indivduo no rene estas trs condies afectando
um elevado sentimento de pauperizao da sua individualidade e perda de
auto-estima quando no consegue, atravs dos processos de consumao, na
publicidade gurativa, sentir-se reconhecido no seu pundonor. A consuma-
o providencia os recursos simblicos alargados requeridos para o reconhe-
cimento, a integrao e a aprovao da sociedade atravs das instncias da
valorizao, apreo e consideraes pessoais. A losoa social de Herbert
Mead ilustrou, na nossa investigao, as trs premissas do reconhecimento
societal, ao defender que o indivduo est integralmente dependente da pos-
sibilidade de conrmao de si por parte da alteridade num grau tal que s
existe self quando o indivduo se reconhece como objecto e interioriza o outro
generalizado (generalized other).
O reconhecimento societal, que perpassa toda a nossa investigao e que
sucede na consumao da publicidade gurativa, age como plo agregador
das sociedades executando a preveno da excluso societal. As disciplinas
e o conformismo que a visibilidade da esfera pblica impe, constituem os
agentes pragmticos deste tipo especial de acto comunitrio que o reconhe-
cimento societal. Na contemporaneidade, o reconhecimento societal surge em
estreita articulao com a esfera pblica como esttica de gurao e com a
consumao. Tanto que o indivduo gura o seu reconhecimento subjectivo
por parte da sociedade. O reconhecimento torna-se um acto intencional que
involve a procura pr-activa e reclamante do sujeito. O indivduo no recebe o
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
208 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
acordo e o reconhecimento da sua comunidade ou sociedade quanto gurando
se faz reconhecer interpelando a sociedade a aprov-lo e integr-lo. O regime
gurativo de reconhecimento no espontneo mas um modelo reivindicativo
que tenta reaver o consentimento pronto que o indivduo experimentava em
comunidades tradicionais de solidariedade mecnica. Se estas manifestavam
semelhanas psquicas e sociais entre os membros da comunidade, nas socie-
dades hodiernas as parecenas e a conformidade no so garantidas partida,
pelo que se torna imperioso desenvolver um trabalho de consumao e gu-
rao que aproximem a disparidade dos sujeitos como mtodo de alcanar a
aprovao societal.
So os valores da gurao e da consumao o mdium da pertena social.
Tendo isso em mente, a resposta s questes enunciadas no primeiro captulo
da parte I agura-se-nos manifesta. Apesar da abundncia e da satisfao
pleonstica das necessidades, continua-se a produzir porque nesta cultura ma-
terial, de proeminncia guracional, os objectos constituem uma substncia
fundamental de fortalecimento e manuteno de relaes societais onde est
em causa o positivo assentimento das individualidades e das identidades co-
lectivas.
No entanto, impe-se uma palavra de advertncia. O reconhecimento, a
integrao social, e a sociabilidade deste modelo gurativo de publicidade se-
cundado pela consumao, no so certamente to slidos quanto o reconhe-
cimento, a integrao social e a sociabilidade do espao pblico ou do espao
pblico mediatizado. Eles so mais superciais e inconstantes, apresentando
uma congurao disforme e mltipla onde a interaco verbal diminuta e
frequentemente acrtica. Todavia, estas prticas hodiernas conguram actos
comunicacionais na medida em que existe uma forte interaco simblica.
Esta admoestao serve igualmente como contestao linha argumen-
tativa aqui constante. Com efeito, uma das objeces a que esta dissertao
se presta a sua parcialidade e uni-dimensionalidade, ou mesmo uma sobre-
determinao da gurao, no que diz respeito anlise de uma congura-
o contempornea da esfera pblica. No entanto, essas alegadas fragilidades
correspondem a uma deciso metodolgica que deriva dos constrangimentos
inerentes a uma dissertao de mestrado. Nesta investigao no se tratou
de averiguar corolrios ou analisar exaustivamente a associao entre publi-
cidade e consumao. Intentou-se somente problematizar essa relao e su-
blinhar os pontos de contacto entre ambas, ao mesmo tempo que se delineia,
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 209
em traos gerais, uma congurao peculiar de esfera pblica. Muito ca
por concluir: um exerccio que se consagre s derivaes ticas, polticas e
societais da publicidade gurativa; um aprofundamento da compatibilidade
entre o projecto poltico e o projecto gurativo-consumatrio da esfera p-
blica; uma inquirio acerca da possibilidade de emergncia de pblicos a
partir dos processos societais de consumao e de gurao (nomeadamente a
partir das neo-tribos); um estudo minucioso da fenomenologia da publicidade;
uma averiguao de uma semiologia da guratibilidade que torne operacional
uma semantizao dos objectos e faa transparente essa linguagem material
dos processos de consumao; uma indagao da relao tensional entre I
e Me que esclarea qual o grau de emancipao conferido ao self na pu-
blicidade gurativa; um exame da sociabilidade itinerante decorrente da nova
modalidade de espao pblico; ou uma observao criteriosa da funo ftica
e conativa da dimenso guracional da publicidade contempornea. Uma li-
nha de pesquisa futura privilegiar a continuidade da investigao a partir dos
temas da mediatizao da publicidade e da concomitante mutao dos regimes
de visibilidade de pblico e de privado, assuntos que assumem uma inevitvel
incontornabilidade no plano da reexo entre o Ser, o Parecer e o Aparecer
nos domnios pblicos e privados. Interrogaes acerca da representao tec-
nolgica da consumao actualmente ocorrente, ou acerca da equao entre o
constrangimento da componente disciplinar da publicidade e a liberdade pro-
veniente dos processos mitopoticos da consumao, so reexes pendentes
e tero, no futuro, de ser aprofundadas. Naturalmente, subjazendo a todo o
percurso terico, reside o n-grdio da publicidade e da consumao: o indiv-
duo. O sujeito da actualidade vive, como conrmamos a partir da mitopotica
da consumao, uma forma de individuao mpar alicerada na consumao
e na publicidade como esttica da gurao. No obstante a individuao (e
o individualismo) assomarem em todos os momentos desta pesquisa de dis-
sertao, um tratamento mais dedicado individuao contempornea, em
articulao com um questionamento da cultura material hodierna, no seria
de todo dispisciendo em futuras meditaes. Com efeito, urge ponderar o re-
dimensionamento do projecto poltico da publicidade e a sua congurao em
torno das polticas de identidade.
O reconhecimento, do ponto de vista societal, erige-se como uma admis-
so do indivduo no seio da sociedade por intermdio da sua insero concreta
no tecido societal. Ele envolve uma identicao entre sujeito e sociedade,
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
210 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
uma consso individual que o inicia nos mistrios da integrao societal. O
reconhecimento engendrado na consumao, numa esfera pblica gurativa,
aquele que faz retornar o indivduo sua pertena social, signica um voltar
a conhecer (reconhecer) o sujeito identicando-lhe semelhanas analgicas.
O julgamento dos outros, ou reconhecimento societal versa um exame rati-
cativo do indivduo declarando-o autntico, portanto, como pertencendo
sociedade. Reconhecimento e pertena social caminham lado a lado.
H, pois, na nossa proposta de investigao uma reciprocidade muito pr-
xima entre indivduo e sociedade, entre sujeito e alteridade, entre gurao e
consumao, entre identidade pessoal e identidade colectiva, entre o homem
privado e o homem pblico. Na publicidade gurativa, como na consumao,
o sujeito gura a vida social, tal como a vida social se faz gurar no indiv-
duo. Um sujeito-partcipe: tanto participante como participado nos processos
societais pblicos. Eis o sujeito-gurado.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Bibliograa
Adorno, Theodor, 2003, Sobre a Indstria da Cultura, Coimbra, Angelus
Novus Editora.
, 2003a, Moda atemporal- sobre o Jazz [Zeitlose Mode- zum Jazz in
Kulturkritik und Gesellschaft, 1953] In Adorno, 2003, pp. 145-160.
, 2004, The Culture Industry, New York, Routledge [1991].
Alembert, Jean- Rond D, 1902, Discours prliminaire de LEncyclopdie,
Paris, Cornly, [1751] acedido emhttp://agora.qc.ca/reftext.nsf/
Documents/HistoireDiscours_preliminaire_de_lEncyclopedie__De_
lhistoire_et_de_la_geographie_par_Jean_le_Rond_DAlembert no
ms de Novembro de 2005.
Antunes, Marco, s/d, O pblico e o privado em Hannah Arendt, acedido em
http://www.bocc.ubi.pt, no ms de Dezembro de 2005.
Appadurai, Arjun (ed.), 1986, The Social Life of Things commodities in
cultural perspective, Cambridge, Cambridge University Press.
Aristteles, 1998, Poltica, Edio Bilingue, Lisboa, Veja.
Arendt, Hannah, 1978, The Life of the Mind (2 vol.), London, Secker &
Warburg.
, 1978 a, O Sistema Totalitrio, Lisboa, D. Quixote [The Origins of
Totalitarism, New York, Harcourt, 1951].
, 1993, Between Past and Future, New York, Penguin Books [New
York, The Viking Press, 1961].
211
i
i
i
i
i
i
i
i
212 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
, 2001, A Condio Humana, Lisboa, Relgio dgua [The Human
Condition, Chicago, University of Chicago Press, 1958].
Asch, Solomon, 1956, Studies in Independence and Conformity: minority of
one against a unanimous majority In Psychological Monographs: ge-
neral and applied, 70, 1-70.
Aubert, Nicole (dir.), 2004, LIndividu Hypermoderne, Quercy-Cahors, di-
tions rs.
Barthes, Rolland, 1987, A Aventura Semiolgica, Lisboa, Edies 70 [LA-
venture Smiologique, Paris, Les dition du Seuil, 1985].
, 1988, Elementos de Semiologia, Lisboa, Edies 70 [lements de S-
miologie, Paris, ditions du Seuil, 1953].
Bataille, Georges, 1967, La Part Maudite prcd de La Notion de Dpense,
Paris, Les ditions de Minuit [1949].
Baudrillard, Jean, 1995, Para uma Crtica da Economia Politica do Signo,
Lisboa, Edies 70 [LEconomie Politique du Signe, Gallimard, 1972].
, 1995a, A Sociedade de Consumo, Lisboa, Edies 70 [La Socit de
Consommation, Denoel, 1970].
, 2005, The System of Objects, London, Verso [Le systme des objects,
Gallimard, 1968].
Bauman, Zygmunt, 2000, Trabajo, consumismo y nuevos pobres, Barcelona,
Editorial Gedisa [Work, Consumerism and the New Poor, Buckingham,
Open University Press, 1998].
Beck, U, et Beck-Gernsheim E., 2005, Individualization, London, Sage Pu-
blication [2001].
Benhabib, Seyla, 1992, Models of Public Space : Hannah Arendt, The Li-
beral Tradition and Jrgen Habermas In Calhoun, 1992.
Bloch, Marc, 1987, A Sociedade Feudal, Lisboa, Edies 70 [La Societ
Fedal, Paris, Albin- Michel, 1968].
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 213
Blumer, Herbert, 1969, Symbolic Interactionism perspective and method,
New York, Prentice-Hall.
Bocock, Robert, 1993, Consumption, London, Routledge.
Bourdieu, Pierre, 2003, La Distinction critique sociale du jugement, Paris,
Les ditions de Minuit [1979].
Calhoun, Craig (ed.), 1992, Habermas and the Public Sphere, Massachu-
setts, MIT Press.
, 1992a, Introduction: Habermas and the Public Sphere, In Calhoun,
1992.
Casal, Adolfo Y., 2005, Entre a Ddiva e a Mercadoria ensaio de antro-
pologia econmica, Amadora, Edio do autor.
Cassirer, Ernst, 1944, An Essay on Man, New Haven, Yale University Press.
Castel, Robert, 2004, La face cache de lindividu hypermoderne: lindividu
par dfaut, In Aubert, 2004, pp. 119- 128.
Csar das Neves, Joo, 2003, O que a Economia?, S. Joo do Estoril,
Principia.
Chaney, David, 1993, Fictions of collective life public drama in late mo-
dern culture, London, Routledge.
Charon, Joel, 1979, Symbolic Interactionism, London, Prentice-Hall Inter-
national.
Cova B. et Cova V., 2004, Lhyperconsommateur, entre immersion et seces-
sion In Aubert, 2004, pp. 199- 213.
Crossick and Jaumain (ed.), 1999, Cathedrals of Consumption the Euro-
pean department store, 1850-1939, Vermont, Ashgate Publishing, pp.
46-71.
Crossley N. e Roberts M. (ed), 2004, After Habermas: new perspectives on
the public sphere, Oxford, Blackwell Publishing.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
214 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
Deleuze, Gilles, 1990, Pourparlers, Paris, Editions De Minuit.
Donne, Marcella D., 1990, Teorias sobre a Cidade, Lisboa, Edies 70 [Te-
orie sulla Cit, Lignori Editori, 1979].
Douglas M., Isherwood B., 1996, The World of Goods toward an anthro-
pology of consumption, New York, Routledge [1979].
Farge, Arlette, 1992, Dire et Mal Dire lopinion publique au XVIII sicle,
Paris, Seuil.
Featherstone, Mike, 1991, Consumer Culture and PostModernism, Bristol,
Sage Publications [1990].
Ferry, Jean-Marc, 1987, Habermas: lthique de la Communication, Paris,
Presses Universitaires de France.
, 1995, Las transformaciones de la publicidad poltica In El Nuevo Es-
pacio Pblico, Barcelona, Editorial Gedisa [Le Nouvel Espace Publi-
que, Centre National Recherche Scientique, 1989].
Foucault, Michel, 1967, Des espaces autres (confrence au Cercle dtudes
architecturales, 14 mars 1967), in Architecture, Mouvement, Conti-
nuit, n5, octobre 1984, pp. 46-49, acedido em http://foucault.
info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.fr.html em
Julho de 2006.
, 2005, Vigiar e Punir histria da violncia nas prises, Petrpolis,
Editora Vozes [Surveiller et Punir, Paris, Gallimard, 1975].
Freitas, Ricardo F., 1996, Centres Commerciaux: les urbaines de la post-
modernit, Paris, Cond-sur-Noireau, lHarmattan.
Freud, Sigmund, 1993, Totem et Tabou quelques concordances entre la vie
psychique des sauvages et celle des nvross, Paris, Gallimard [Totem
und Tabu Untertitel: Einige bereinstimmungen im Seelenleben der
Wilden und der Neurotiker, 1913).
Fromm, Erich, 1971, Man for Himself an enquiry into the psychology of
ethics, London, Routledge & Kegan Paul Ldt [1949].
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 215
, 1991, The Sane Society, London, Routledge [1956].
Gallbraith, J. Kenneth, 1976, A Sociedade da Abundncia, Mem-Martins,
Europa-Amrica [The Afuent Society, 1958].
Giddens, Anthony, 2001, Modernidade e Identidade Pessoal, Oeiras, Celta
[Modernity and self-identity: self and society in the late modern age,
Oxford, Basil Blackwell, 1991].
, 2005, Capitalismo e Moderna Teoria Social, Lisboa, Editorial Pre-
sena, [Capitalism and Modern Social Theory, Cambridge University
Press, 1972].
Godelier, Maurice, 2000, O Enigma da Ddiva, Lisboa, Edies 70 [Lnig-
me du Don, Paris, Librairie Arthme Fayard, 1996].
Goffman, Erving, 1966, Behaviour in Public Places notes on the social
organization of gatherings, New York, The Free Press [1963].
, 1968, Asiles etudes sur la condition sociale des maladies mentaux,
Paris Editions Le Minuit [Asylums: Essays on the Social Situation of
Mental Patients and Other Inmates, Doubleday, 1961].
, 1975, Stigmate, Paris, Les Edition de Minuit [Stigma: Notes on the
Management of a Spoiled Identity, Englewood Cliffs, Prentice-Hall,
1963].
, 1986, Frame Analysis an essay on the organization of experience,
York, Northeastern University Press [1974].
, 1993, A Apresentao do Eu na Vida de Todos os Dias, Sta. Maria da
Feira, Relgio Dgua [The Presentation of Self in Everyday Life, New
York, Doubleday, 1956].
Gomes, Wilson, 1995, Duas Premissas para a Compreenso da Poltica-
Espectculo, In Revista de Comunicao e Linguagens, n 21-22, Lis-
boa, Edies Cosmos, pp.299-317.
Grice, H. Paul, 1975, Logic and Conversation In Cole e Morgan (ed), Syntax
and Semantics, Vol. 3- speech acts, New York, Academic Press, 41-58.
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
216 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
Habermas, Jrgen, 1991, The Structural Transformation of the Public
Sphere, Massachusetts, MIT Press [Strukturwandel der Offentlichkeit,
Darmstadt, Hemann Luchter Verlag, 1962].
, 1992, Further Reections on the Public Sphere, In Calhoun, 1992, pp.
421- 479.
Heilbrunn, Benot, 2005, La Consommation et ses Sociologies, Barcelone,
Armand Colin.
Herpin, Nicolas, 2004, Sociologie de la Consommation, Paris, La Dcou-
verte [2001].
Holbrook, Morris (ed.), 2005, Consumer Value a framework for analysis
and research, New York, Routledge [1999].
Honneth, Axel, 1995, The Fragmented World of the Social essays in so-
cial and political philosophy, New York, State University of New York
Press.
Horkheimer M, Adorno T., 1974, La Dialectique de la Raison- fragments
philosophiques, Paris, Gallimard [Dialektik der Aufklrung Philoso-
phische Fragmente, 1947].
James, William, 1983, Principles of Psychology, Harvard, Harvard Univer-
sity Press [1890], acedido em http://psychclassics.yorku.ca/
James/Principles/index.htm em Julho de 2006.
Kant, Immanuel, 1995, A Paz Perptua e outros opsculos, coleco Textos
Filoscos, Lisboa, Edies 70.
, 1995a, Resposta pergunta: Que o Iluminismo? [Beantwortung der
Frage: Was ist Aufklrung?, 1784], In Kant, 1995, pp.11-19.
, 1995b, Que signica orientar-se no Pensamento? [1786], In Kant,
1995, pp.37-55.
, 1995c, Sobre a expresso corrente: isto pode ser correcto na teoria
mas nada vale na prtica [ber den Gemeinspruch: Das mag in der
Theorie richtig sein, taugt aber nicht fr die Praxis, 1793], In Kant,
1995, pp.57-102.
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 217
, 1995d, A Paz Perptua um projecto losco [Zum ewigen Frieden,
1795/96], In Kant, 1995, pp.119-171.
, 1995e, Fundamentao da Metafsica dos Costumes, coleco Tex-
tos Filoscos, Lisboa, Edies 70 [Grundlegung zur Metaphysic der
Sitten, Riga, Hartknoch, 1785].
, 2001, Crtica da Razo Pura, Lisboa, Edies Gulbenkian [Kritik der
Reinen Vernunft, 1781].
Leyens, Jacques- Philippe, 1994, Psicologia Social, Lisboa, Edies 70 [La
Psychologie Sociale, Brussels, Pierre Mardaga, 1979].
Lippman, Walter, 2004, Public Opinion, NewYork, Dover Publications [Hart-
court Brace and Company, 1922].
Locke, John, 1961, An Essay Concerning Human Understanding, London,
J.M Dent [1690].
Loand, Lyn H., 1998, The Public Realm exploring the citys quintessential
social territory, New-York, Aldine de Gruyter.
Lury, Celia, 1996, Consumer Culture, New Jersey, Rutgers University Press.
Lyon, David, 1994, The Electronic Eye the rise of surveillance society,
Minneapolis, University of Minnesota Press.
Malinowski, Bronislaw, 2002, Argonauts of Western Pacic, London, Rou-
tledge [1922].
Maquiavel, Nicolau, 2000, O Prncipe, Mem-Martins, Europa-Amrica [Il
Prncipe, 1514].
Martins, Carla, 2005, Espao Pblico em Hannah Arendt o poltico como
relao e aco comunicativa, Coimbra, MinervaCoimbra.
Marx, Gary, 1988, Undercover: police surveillance in America, Berkeley,
University of California Press.
Mauss, Marcel, 2001, Ensaio sobre a Ddiva, Lisboa, Edies 70 [Essai sur
le Don, LAnne Sociologique, 1924].
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
218 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
Mead, G.Herbert, 1992, Mind, Self, Society, London, The University of Chi-
cago Press [1934].
, 2002, The Philosophy of the Present, New York, Prometheus Books
[Chicago, Open Court Pub, 1932].
Merleau-Ponty, Maurice, 2002, O Olho e o Esprito, Lisboa, Veja [Loeil et
lesprit, Paris, Gallimard, 1985].
Miller, Daniel, 1987, Material Culture and Mass Consumption, Oxford, Ba-
sil Blackwell.
Miller D., Jackson P., Thrift N., Holbrook B., Rowlands M., 2005, Shopping,
Place, Identity, Oxon, Routledge [1998].
Mill, John Stuart, 1909, On Liberty, Harvard, P.F. Collier & Son, Harvard
Classics Volume 25 [1859], acedido em http://www.la.utexas.edu/
research/poltheory/mill/ol/, no ms de Novembro de 2005.
Montesquieu, 1979, De lEsprit des Lois, Paris, Garnier-Flammarion [1748].
Noelle-Neumann, Elisabeth, 1977, Turbulences in the Climate of Opinion:
Methodological Apllications of The Spiral of Silence Theory, In Public
Opinion Quarterly, n 4, Columbia.
, 1993, The Spiral of Silence publicc opinion, our social skin, Chi-
cago, The University of Chicago Press, [Die Schweigespirale: ffentli-
che Meinung unsere soziale Haut, Mnchen, Piper & Verlag, 1980].
Ortega y Gasset, Jos, 1989, A Rebelio das Massas, Lisboa, Relgio D-
gua [La Rebelin de las Masas, 1930].
Peirce, Charles Sanders, 1978, Collected Papers, 8 Vol, Cambridge, The
Belknap Press of Harvard University Press.
Pissarra Esteves, Joo, 2003, Espao Pblico e Democracia, Lisboa, Edies
Colibri.
Poster, Mark, 2000, A Segunda Era dos Media, Oeiras, Celta [The Second
Media Age, Cambridge, Polity Press, 1996].
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 219
Poupard, Jean-Marc, 2005, Les Centres Commerciaux de nouveaux lieux
de socialit dans le paysage urbain, Cond-sur-Noireau, lHarmattan.
Riesman, David, 2001, The Lonely Crowd a study in the changing Ameri-
can character, London, Yale University Press [1950].
Rodrigues, Adriano Duarte, 1990, Estratgias da Comunicao, Lisboa, E-
ditorial Presena.
Rosseau, Jean-Jacques, 1966, Du Contrat Social, Paris, Garnier-Flammarion
[1762].
, 1995, Discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre
os homens, Mem-Martins, Europa-Amrica [Discours sur lorigine et
les fondements de lingalit parmi les hommes, 1755].
Sahlins, Marshall, 1976, Culture and Pratical Reason, London, The Univer-
sity of Chicago Press.
Salgueiro, Teresa B., 1996, Do Comrcio Distribuio roteiro de uma
mudana, Oeiras, Celta.
Sartre, Jean-Paul, 1943, Ltre et le Nant, Paris, Gallimard.
Schutz, Alfred, 1962, Collected Papers I The problem of social reality,
London, Martinus Nijhoff.
Sennett, Richard, 1974, The Fall of Public Man, London, Norton & Com-
pany.
Sheriff, Musafer, 1936, The Psychology of Social Norms, New York, Harper
& Row.
Smith, Adam, 1981, Inqurito sobre a Natureza e Causas da Riqueza das
Naes, 2 Vol, Lisboa, Edies Gulbenkian [An Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nations, 1776].
, 2000, The Theory of Moral Sentiments, New York, Prometheus Books,
[1759].
Livros LabCom
i
i
i
i
i
i
i
i
220 Publicidade e Consumao nas Sociedades Contemporneas
Silva, Filipe Carreira da, 2002, Espao Pblico em Habermas, Lisboa, Im-
prensa de Cincias Sociais.
Simmel, Georg, 1988, La Tragdie de la Culture, Paris, ditions Rivages.
Singer, Peter, 2006, Como Havemos de Viver? a tica numa poca de
individualismo, Lisboa, Dinalivro [How are we to live?, Random House
Austrlia, 1993].
Splichal, Slavko, 1999, Public Opinion developments and controversies in
the twentieth century, Oxford, Rowman & Littleeld Publishers.
Tarde, Gabriel, 1993, Les Lois de lImitation, Paris, ditions Kim [1890]
acedido em www.uqac.uquebec.ca, em Fevereiro de 2006.
Teles, Edson, 2005, Prxis e Poeisis: uma leitura arendtiana do agir poltico
in Cadernos de tica e Filosoa Poltica 6, 1/2005, pp.123-140.
Thompson, John B., 1995, Media and Modernity a social theory of the
media, Stanford, Stanford University Press.
Tocqueville, Alexis de, 1981, De la Dmocractie en Amrique, 2 Vol., Paris,
Garnier-Flammarion [1835 (vol.I e 1840 vol.II].
, 1989, O Antigo Regime e a Revoluo, Viseu, Editorial Fragmentos
[LAncien Rgime et la Rvolution, 1856].
Tnnies, Ferdinand, 2002, Community and Society, New York, Dover Publi-
cations [Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887].
Veblen, Thorstein, 1994, The Theory of the Leisure Class, New York, Dover
Publications [1899].
Walsh, Claire, 1999, The Newness of the Department Store: a view from the
eighteenth century, In Crossick and Jaumain, 1999.
Weber, Max, 1978, Economy and Society an outline of interpretative so-
ciology, 2 Vol., Berkeley, University of California Press [Wirtschaft und
Gesellschaft, 1922].
www.livroslabcom.ubi.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Samuel Mateus 221
, 1982, Ensaios de Sociologia, Rio de Janeiro, Zahar Editores [From
Max Weber: Essays in Sociology, Oxford, Oxford University Press,
1946].
, 2005, A tica Protestante e o Esprito do Capitalismo, Lisboa, Edito-
rial Presena, [Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalis-
mus, 1905].
Wolton, Dominique, 1999, Pensar a Comunicao, Algs, Difel [Penser la
Communication, Paris, Flammarion, 1997].
Livros LabCom
You might also like
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20024)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6521)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceFrom EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceRating: 4 out of 5 stars4/5 (2556)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2475)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12947)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookRating: 4 out of 5 stars4/5 (2515)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19653)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionFrom EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (727)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)From EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9486)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelFrom EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (5506)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersFrom EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersRating: 4 out of 5 stars4/5 (2314)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderFrom EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderRating: 4 out of 5 stars4/5 (5718)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseFrom EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseRating: 4 out of 5 stars4/5 (1107)











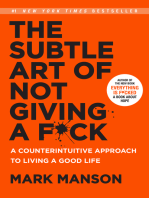
![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)