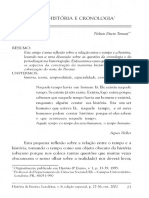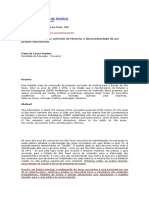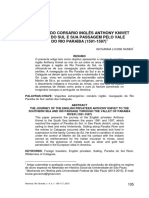Professional Documents
Culture Documents
4550 16784 1 PB
Uploaded by
Jeferson0 ratings0% found this document useful (0 votes)
81 views172 pagesOriginal Title
4550-16784-1-PB
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
81 views172 pages4550 16784 1 PB
Uploaded by
JefersonCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 172
Cadernos de Pesquisa do CDHIS
Caderno de Pesquisa do CDHIS Uberlndia, MG n. 40 ano 22 p. 1-174 1 semestre 2009
ISSN 15187640
CADERNOS DE PESQUISA DO CDHIS
REVISTA DO CENTRO DE DOCUMENTAO E PESQUISA EM HISTRIA CDHIS
INSTITUTO DE HISTRIA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM HISTRIA
Av. Joo Naves de vila, 2121 Bloco 1Q CDHIS Campus Santa Mnica Uberlndia MG
Cep 38400-902 Telefones: (34) 3239 4204 | 4236 | 4240 | 4501
E-mail: cdhis@ufu.br www.cdhis.ufu.br
EDITORA
Vera Lcia Puga
COMIT EDITORIAL EXECUTIVO
Dulcina Tereza Bonati Borges (UFU/MG)
Ivanilda Aparecida Junqueira (UFU/MG)
Maucia Vieira dos Reis (UFU/MG)
Velso Carlos de Sousa (UFU/MG)
CONSELHO EDITORIAL
Artur Csar Isaia (UFSC/SC)
Dilma Andrade de Paula (UFU/MG)
Luciene Lehmkuhl (UFU/MG)
Lcia Lippi (CPDOC/FGV/RJ)
Maria Beatriz Pinheiro Machado (Arquivo Histrico Municipal/Caxias do Sul/RS)
Maria Clara Tomaz Machado (UFU/MG)
Raquel Glezer (USP/SP)
Yara Koury (PUC/SP)
CONSELHO CONSULTIVO
Ana Maria Said (UFU/MG)
Carlos Henrique de Carvalho (UFU/MG)
Jane de Ftima Silva Rodrigues (UNIMINAS/MG)
Mrio Anacleto (CECOR/UFMG/MG)
Marcos Antnio de Menezes (UFG/GO)
Maria Cristina Nunes F. Neto (PUC/GO)
Maria de Lourdes de Albuquerque Fvero (PROEDS-UFRJ/RJ)
Newton Dngelo (UFU/MG)
Regma Maria dos Santos (UFG/GO)
Robson Laverdi (CEPEDAL/SC)
Wenceslau Gonalves Neto (UFU/MG)
Yonissa Marmitt Wadi (UNIOESTE/PR)
DIREO EDUFU: Humberto Aparecido de Oliveira Guido
TIRAGEM: 1000 exemplares
FICHA CATALOGRFICA
Elaborada pelo Sistema de Bibliotecas da UFU ISSN 15187640
Cadernos de Pesquisa do CDHIS, n. 40, ano 22, 1 Semestre de 2009.
Universidade Federal de Uberlndia, Instituto de Histria. Centro de Documentao e
Pesquisa em Histria CDHIS. Uberlndia, MG: EDUFU.
Semestral
1. Arquivo, Memria, Documento 2. Histria Local 3. Estudos Histricos.
DIAGRAMAO
Eduardo Moraes Warpechowski
TCNICA EM LNGUA INGLESA
Sandra Chaves Gardellari
SETOR DE PUBLICAES
Dulcina Tereza Bonati Borges
ARTE FINAL
Maria Jos da Silva
INDEXAES: LATINDEX (Portal Iberoamericano); SUMARIOS (http://www.sumarios.org)
Apresentao................................................................................................................................ 5
A R Q U I V O , D O C U ME N T O E ME M R I A
Usos do passado e arquivos: questes em torno da pesquisa histrica ..................................... 9
Paulo Knauss de Mendona
A R T I G O S
Nas margens da poltica: trajetria, narrativa e mediao na
Baixada Fluminense (RJ/Brasil) ............................................................................................... 17
Alessandra Siqueira Barreto
O problema da compilao na cronstica medieval portuguesa do limiar
do sculo XVI (Rui de Pina) .................................................................................................... 33
Leandro Teodoro Alves
Manuteno da ordem: (re)contextualizao de tpicas mitolgicas luz de uma economia
crist. ......................................................................................................................................... 41
Cleber Vincius do Amaral Felipe
tica e Sociedade Afluente: intelectuais e a agenda para uma esquerda reformista .............. 59
Daniel de Pinho Barreiros
As caractersticas da experincia socialista na agricultura de Angola aps a independncia .... 69
Rodrigo de Souza Pain
Ivan Arruda
Entre preconceitos, vitimizao e incapacidade: os deficientes e as imagens que
reforam a segregao social .................................................................................................... 79
Eliete Antnia da Silva
O cinema como registro. Cenas de violncia e gnero no documentrio brasileiro ............... 93
Renata Soares da Costa Santos
As recepes do filme Macunama pela crtica Ely Azevedo ................................................. 105
Leandro Maia Marques
Sumrio
D O S S I : E N S I N O D E HI S T R I A
Educao: o que a Histria nos ensina? .................................................................................. 115
Beatriz Lemos Stutz
Carlos Alberto Lucena
Refletindo sobre o vivido: o cotidiano, o saber escolar e a formao histrica...................... 127
Cludia Rodrigues
O jovem e sua concepo de Histria: patrimnio, museu e memria como
mediadores da construo do conhecimento histrico ........................................................... 133
Joana Darc Germano Hollerbach
Leituras sobre a frica Contempornea. Representaes e abordagens do continente africano
nos livros didticos de Histria................................................................................................ 143
Anderson Oliva
Diversidade e incluso. Relato de Experincia didtica interdisciplinar
de aplicao da Lei n. 10.639 ................................................................................................... 155
Jeanne Silva
R E S E N HA
Ofcio de historiador: passado e presente.
Ttart, Philippe. Pequena Histria dos historiadores. Trad. Maria Leonor Loureiro. Bauru/
so Paulo: Edusc, 2000, 166p. ................................................................................................. 167
Diogo da Silva Roiz
com entusiasmo que apresentamos s/aos leitores o nmero 40 jan./jul. de 2009 Ano 22 dos Cadernos de
Pesquisa do CDHIS (ISSN 15187640). Esta edio reune vrias contribuies, abrimos com a sesso ARQUIVO,
DOCUMENTO E MEMRIA com um artigo especial do prof. Dr. Paulo Knauss de Mendona*. Na sesso Artigos
os temas so relacionados poltica, tica, cinema e literatura medieval. Destaca-se ainda, nesta edio, um dossi
especial, Ensino de Histria.
A discusso inicia-se especificando o papel dos arquivos, especialmente os das universidades, como uma construo
das formas contemporneas de promoo de memrias, registro este que distingue o viver dos tempos anteriores.
Nos arquivos, organiza-se o encontro com o presente pela ruptura com o passado e no pela continuidade. Na
diferena dos tempos que se d conta da prpria historicidade.
Passando-se para os artigos, Alessandra Siqueira Barreto aborda a construo do campo poltico fluminense,
particularmente da Baixada Fluminense (RJ), uma rea conhecida pela pobreza e violncia, a partir da trajetria de
um conhecido, e ativo, poltico local: Jorge Gama. Leandro Alves Teodoro prope perceber a mudana de perspectiva
da Crnica de D. Afonso IV do cronista Rui de Pina para a Crnica de D. Joo II, feita a partir do seu levantamento
de dados. Cleber Vinicius do Amaral Felipe, busca mapear a utilizao de figuras de ornato e tpicas de inveno em
Prosopopia, obra atribuda a Bento Teixeira, e nas stiras de Gregrio de Matos Guerra. Daniel de Pinho Barreiros
analisa comparativamente as idias sociais de importantes intelectuais ligados ao debate poltico norte-americano,
engajados na crtica ao Welfare State e ao capitalismo de crescimento acelerado, trazendo um momento importante
da histria intelectual do sc. XX, que se refere ao surgimento do conceito de sustentabilidade. Rodrigo de Souza Pain
e Ivan Arruda, discutem as caractersticas da experincia socialista na agricultura de Angola aps a independncia.
Eliete Antnia da Silva aborda a marginalizao e a segregao das pessoas com deficincia como resultado de
violncias e coeres que operam no plano simblico do imaginrio e das representaes. Renata Soares da Costa
Santos questiona, por meio do filme Terra para Rose, o complexo problema da questo agrria no Brasil. E, Leandro
Maia Marques, trabalha com a recepo do filme Macunama atravs das leituras crticas do jornalista Ely Azeredo.
O dossi Ensino de Histria aborda a educao enquanto uma construo em constante transformao. Reflete
sobre alguns problemas concernentes ao ensino e prtica em sala de aula na formao histrica dos indivduos
inclusive trazendo tona a necessidade de discutir no espao escolar conceitos e temas como Histria da frica
Contempornea; diversidade e incluso; patrimnio histrico, memria e museu como alternativa para a construo
do conhecimento histrico. Os intelectuais que se dedicaram a discutir a temtica da educao so eles: Beatriz
Lemos Stutz, Carlos Alberto Lucena, Cludia Rodrigues, Joana Darc Germano Hollerbach, Anderson Oliva e Jeanne
Silva.
A edio se completa com a resenha do livro Ofcio de historiador: passado e presente, feita por Diogo da Silva
Roiz.
Boa leitura!
O Comit Editorial Executivo
Apresentao
(
*
)
Professor da UFF, diretor do Arquivo Pblico do Estado do Rio de Janeiro. Esteve presente na UFU e prestigiou o CDHIS visitando a
ns e conferindo nosso acervo.
Arquivo, Documento e Memria
9 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 9-16 1 sem. 2009
Arquivos do nosso tempo
De diferentes formas, o passado sempre ocupou as
sociedades ao longo dos tempos. As sociedades
contemporneas, segundo a frmula de Pierre Nora,
inventaram os lugares de memria, distinguindo-se das
sociedades tradicionais que vivem na memria e
justificam seus atos cotidianos a partir da lembrana dos
seus mitos e repetindo seus antepassados.
1
Diante da
acelerao do tempo e do compromisso com o progresso,
as sociedades contemporneas trataram de localizar o
passado em museus, bibliotecas, arquivos, catlogos,
datas, festas e comemoraes, testemunhando a sua
prpria transformao. Nesse tempo em que vivemos,
procuramos sempre inovar e transformar o mundo,
distanciando-nos de nossos ancestrais. Nossa distncia
a medida de nossa evoluo.
Como outros lugares de memria, os arquivos so
uma construo das formas contemporneas de
promoo de memrias, registro de que ns vivemos num
tempo distinto dos tempos anteriores. Nos arquivos,
organiza-se o encontro com nosso tempo pela ruptura
com o passado e no pela continuidade. Na diferena
dos tempos que nos damos conta da nossa prpria
historicidade. Assim, diante de cartas antigas de uma
mapoteca, descobrimos como o mesmo territrio foi
representado diversas vezes de modos distintos, mas
diante deles, observando o mesmo territrio, nos
Usos do passado,
arquivos e universidade
Paulo Knauss
Professor do Departamento de Histria da Universidade Federal Fluminense
e Diretor-Geral do Arquivo Pbico do Estado do Rio de Janeiro.
Resumo: O artigo aborda a funo dos arquivos na
atualidade, especialmente os das universidades, como
uma construo das formas contemporneas de promoo
de memrias, registro de que vive-se num tempo distinto
dos tempos anteriores. Nos arquivos, organiza-se o
encontro com o presente pela ruptura com o passado e
no pela continuidade. Na diferena dos tempos que se
d conta da prpria historicidade. Enquanto equipamento
cultural, os arquivos pblicos so sempre encarados como
recursos de conhecimento e de animao do esprito e da
curiosidade pela cincia e pela educao. A cultura e o
conhecimento so dimenses da cidadania
contempornea, por serem domnios da livre expresso e
de afirmao de identidades, alm de movimentar uma
economia peculiar de propores significativas.
Palavras-chave: Arquivos Pblicos. Arquivos
Universitrios. Documentos. Cidadania.
Abstract: This paper is about the current role of files,
especially in universities while being a construction of
contemporary ways of memory promotion. This way they
are recordings showing that we live in a different time. The
encounter with the present time is organized through the
rupture with the past but not through continuity. Times
differences allow one to feel his own history. While a
cultural tool, public files are always faced both as
knowledge and spiritual happiness resources. They also
help science and education. Culture and knowledge are
dimensions of contemporary citizenship, for they are
domains of free expression and identity confirmation,
besides moving a peculiar economy of significant
proportions.
Keywords: Public Files. University Files. Documents.
Citizenship.
1
NORA, Pierre. Entre mmoire et histoire: la problmatique des lieux. In: Les lieux de mmoire. Paris: Gallimard, 1984. v. 1.
10 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 9-16 1 sem. 2009
convencemos de que nosso espao outro. Podemos
reconhecer o Brasil numa carta colonial, contudo, diante
dela nos convencemos de que a nossa terra no mais
daquele jeito.
Ocorre que, antes disso, h outra constatao a ser
feita. Os documentos de carter permanente, que
encontramos nos arquivos pblicos dos nossos dias, no
foram sempre vestgios de outro tempo. Conforme a
teoria do ciclo de vida dos documentos possvel
demarcar as fases corrente e intermediria, anteriores
fase permanente de vida dos documentos. Como
documentos correntes eles serviram ao instante do
presente, no aguardo do despacho necessrio. A espera
da realizao de aes decorrentes da deciso inscrita
nos documentos caracteriza a fase intermediria da vida
documental. Sua terceira fase de vida, a fase permanente,
a memria da ao produzida e consumada. Alguns
diriam que nessa fase os documentos se tornam inativos,
ou deixam de ter carter utilitrio. Melhor seria falar de
valor primrio, prprio da consecuo da ao, e de valor
secundrio, que envolve novos usos dos documentos, pois
diante de sua condio permanente que os documentos
afirmam sua dimenso histrica, propriamente dita.
2
Importa salientar que durante os ciclos de sua vida,
os documentos sofrem uma transmutao de sentido que
os desloca da produo de um ato para a recordao do
mesmo ato. Considerando que os documentos nascem
correntes, sobrevivem como intermedirios, e se
redefinem como permanentes, entre a primeira e a ltima
fase de sua vida eles continuam sempre sendo os mesmos
suportes materiais de informao, mas o seu sentido
transformado. Nessa passagem que os usos dos
documentos so redefinidos, e nesse momento eles
deixam de transportar aes do presente, para
transportar aes do passado. H uma mudana de
insero temporal em torno da transmutao de sentido
dos documentos. Nesse caso, os usos do passado fazem
a diferena, pois os documentos passam a ganhar outra
razo de ser e se instalam nos arquivos. No incio de sua
vida, o documento registro do presente, na terceira fase
de sua vida ele passa a ser registro do passado e se afirma
como patrimnio cultural.
Sem dvida, um dos melhores exemplos dessa
transmutao dos documentos ao longo de sua vida so
os arquivos das polcias polticas do sculo XX. Isso vale
para o Brasil, para os pases do Cone Sul, ou para a
Alemanha oriental, ou para onde quer que os regimes
policialescos tenham sido substitudos por regimes
abertos. Isso porque os documentos da polcia poltica
nasceram para perseguir os cidados, considerando-os
inimigos de Estado, ou inimigos internos. Contudo,
hoje eles so instrumentos da garantia de direitos dos
cidados frente ao Estado. Trata-se do mesmo papel, do
mesmo suporte material e do mesmo contedo, mas sua
razo de ser mudou diante da presena do passado na
sociedade. Mudou seu sentido, porque a sociedade e suas
instituies mudaram, substituindo velhas estruturas por
outras. Os mesmos papis ganham assim novo interesse,
o que implica em novos usos. Desse modo, os documentos
da polcia poltica so reconhecidos como fontes de outra
poca e, assim, localizam o passado. Sua difuso e
publicidade reafirmam as nossas diferenas histricas e
atestam que estamos noutro tempo em que a relao do
Estado e do cidado se transformou. Sua preservao
atesta a transformao da sociedade.
Portanto, esse uso contemporneo do passado no
nos situa na continuidade do passado e de geraes
anteriores, mas, ao contrrio, nos coloca na desconti-
nuidade do tempo. Nossa poca se define pela alteridade
em relao a outras pocas. Revisitar os documentos
histricos de arquivo, nesse caso, significa sempre
reafirmar a particularidade do presente frente aos outros
tempos.
Portanto, os usos do passado se organizam no
presente. Assim, a transmutao do sentido do docu-
mento acompanha de fato um deslocamento dos tempos,
pois no presente que o passado se define. O passado
no dado, mas construo atualizada do presente.
Arquivos no campo da cidadania
Enquanto equipamento cultural, os arquivos pblicos
so sempre encarados como recursos de conhecimento
e de animao do esprito e da curiosidade pela cincia e
pela educao. Por isso, cada dia mais os arquivos se
dedicam produo de exposies, publicaes, cursos e
eventos. Essa dimenso fundamental, mas ela no deve
ser vista como marginal cidadania ou epifenmeno da
vida. A cultura e o conhecimento so dimenses da
cidadania contempornea, por serem domnios da livre
2
Para uma caracterizao do ciclo de vida dos documentos, veja-se, por exemplo, BELLOTTO, Heloisa. Arquivos permanentes:
tratamento documental. 4 ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2007. Cap. 1.
11 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 9-16 1 sem. 2009
expresso e de afirmao de identidades, alm de
movimentar uma economia peculiar de propores
significativas.
De outra parte, porm, importante notar que o
cidado s percebe que o arquivo um equipamento
fundamental na sua vida social, quando descobre que
ali se encontra o papel que pode servir para garantir o
seu direito almejado. Essa uma cena comum ao dia-a-
dia dos arquivos pblicos, espaos de dor e alegria diante
da possibilidade de conquistas sociais individuais. Isso
diz respeito tanto a acervos que documentam a histria
das propriedades, como os registros de terra do sculo
XIX, introduzidos pela Lei de Terras de 1850, como os
documentos do Instituto Mdico Legal criado na capital
federal em 1907, entre outros. Todos os dias, os arquivos
recebem cidados em busca de uma certido que ateste
a informao decisiva para sua demanda legal. No caso
dos documentos das polcias polticas, eles so
instrumentos fundamentais para reparao de danos s
vitimas do autoritarismo, por exemplo. Do mesmo modo,
por meio da gesto documental, que os Estados podem
atender s demandas de transparncia social, dando
conta de suas realizaes sociedade. O sistema de
arquivos base da superao da opacidade do Estado.
Interessa sublinhar, que diante desse duplo carter
os arquivos so expresso da democracia e se afirmam
no campo da garantia de direitos e da cidadania. Assim,
os arquivos exercem papel importante, especialmente,
no campo dos direitos de quarta gerao, em especial, o
direito informao, cultura e memria.
No sem razo os arquivos pblicos no Ocidente se
fortaleceram, sobretudo, depois da Segunda Guerra
Mundial e a derrocada dos regimes totalitrios do nazi-
fascismo, marcados pela discriminao tnica e a poltica
de homogeneizao cultural. H um vnculo na histria
contempornea entre a informao dos arquivos e a
crtica do Estado de exceo. Os arquivos so, assim,
componente fundamental do Estado de direito.
No quadro de Estado de direito se definem, tambm,
as condies de uma poltica nacional de arquivos na
atualidade nacional. Ao lado do direito cultura, a
Constituio da Repblica Federativa Brasileira de 1988
estabelece dispositivos destinados a garantir os direitos
individuais e, ao mesmo tempo, resguardar o direito a
informaes contidas nos rgos pblicos. Esta foi a
primeira e nica Constituio do Brasil a estabelecer
parmetros gerais de uma poltica nacional de gesto de
documentos da administrao pblica visando a
franquear sua consulta, corroborada pelas disposies
federais da Lei n. 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que
trata dos Arquivos pblicos e privados, regulamentando
o acesso a documentos pblicos, prazos de sigilo, emisso
de certides e rito processual do habeas data
instrumento pelo qual todo cidado tem direito de
conhecer as informaes que o Estado produz sobre ele
abrindo assim os arquivos aos indivduos da sociedade.
Desse marco jurdico geral, decorrem as condies
de uso dos arquivos e suas fontes. H que se balancear o
interesse pblico diante do privado, os direitos difusos e
os individuais. Especificamente neste mbito, dois
princpios constitucionais basilares necessariamente so
sopesados: o direito informao e a inviolabilidade da
intimidade.
3
O direito informao tem a caracterstica de ser
um direito difuso, ou seja, que perpassa toda a sociedade,
sendo um pressuposto da democracia que os cidados
tenham conhecimento dos atos, das atividades da
administrao para que possam atuar, fiscalizando,
controlando e participando do Poder Pblico. Nesse
sentido, o direito informao da mesma natureza do
direito cultura e memria.
A esta questo deve tambm ser aplicada a norma
inserta no inciso XXXIII, do artigo 5 da Constituio
Federal de 1988, no que tange o direito de sigilo de
informaes relevantes segurana da sociedade e o
Estado. A Lei Federal de Arquivos (n. 8.159/91) dispe,
ainda, no artigo 4 que todos tm o direito de receber
dos rgos pblicos informaes, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindvel segurana da sociedade
e do Estado, bem como a inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
Neste mesmo diapaso, no artigo 5 e inciso X da Lei
Maior, se encontra o preceito constitucional de inviola-
bilidade da intimidade, da honra, da vida privada e da
imagem das pessoas, que constitui garantia de direito
individual.
O que a histria dos documentos no Brasil demonstra
que os usos do passado no so exclusividade dos
historiadores. Alis, eles trafegam na trilha que a ordem
social estabelece como marcos legais e pelos direitos
3
Para esse debate, veja-se: COSTA, Clia Maria Leite. Intimidade versus interesse pblico: a problemtica dos arquivos. Estudos
Histricos, Rio de Janeiro: n. 21, 1998/1.
12 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 9-16 1 sem. 2009
garantidos pelo trabalho dos arquivos pblicos. Alm
disso, muito freqente o uso destas fontes pelo mundo
do jornalismo, da produo udio-visual, de massa ou
no, ao lado dos usos para fins probatrios por cidados
comuns. O que se pode dizer que os documentos de
arquivo so objeto de um espao pblico que no se
circunscreve ao mundo dos profissionais de histria. Tal
como apontam Franois Hartog e Jacques Revel, em
torno dos usos polticos do passado se torna possvel
observar que no campo da histria contempornea foi
se estabelecendo um campo prprio para a histria
recente, explicitando uma particularidade da nossa era.
4
Cabe lembrar sempre que as relaes entre poltica e
usos do passado esto na origem da historiografia no
Ocidente. Herdoto tido at hoje como pai da histria,
depois de ter escrito o livro que ganhou o ttulo de
Histria. De fato sua obra, lana a idia da histria como
investigao, tal como a etimologia da palavra grega
sugere. No entanto, essa idia da origem do conheci-
mento a partir da obra do famoso autor grego da Anti-
gidade despreza o fato de que as sociedades sempre
conviveram de algum modo com formas de construo
do conhecimento de suas histrias. Mas por que
Herdoto, e depois Tucdides com a Histria da Guerra
do Peloponeso fizeram a diferena na Antigidade.
Moses I. Finley, o historiador britnico da Antigidade
clssica, apresenta o argumento de que o aparecimento
da Histria como investigao e como conhecimento,
na Grcia Antiga, est relacionado com o advento da
polis, que representa a afirmao do campo da poltica e
da discusso pblica.
5
A interrogao proposta questiona
as relaes entre poder e conhecimento como uma marca
da Histria. No sem razo, Herdoto e Tucdides, per-
sonagens emblemticos da historiografia antiga foram
exilados polticos. Herdoto foi obrigado a fugir de sua
terra natal, Helicarnasso, no contexto das guerras persas
e depois de uma revolta. Foi tambm um homem do
tempo de Pricles e que esteve ao lado de suas foras na
fundao da colnia de Turios, nos anos de 440 a.C.
Tucdides, por sua vez, chegou a ser o estrataga de sua
cidade, Atenas, assumindo assim uma funo pblica
de destaque social. Aps o fracasso de uma misso militar
e a perda do poder em sua cidade, foi condenado ao exlio.
Nesse sentido, h na historiografia fundadora uma
manifestao de conscincia provocada pela condio
poltica de seus autores e a possibilidade de participar da
discusso pblica a partir da escrita. Essa condio
definiu uma moral sob a marca do exlio para o estudo
da histria.
6
De todo modo, o que se abre diante de ns como
debate o fato de que os usos do passado organizam as
formas da lembrana, mas igualmente do esquecimento.
Talvez, melhor seria dizer que toda forma de lembrana
sempre tambm uma forma de produzir amnsia.
7
Arquivos na universidade
No universo dos arquivos da atualidade existe uma
espcie mpar: os centros de documentao univer-
sitrios. Estes centros se formaram como ncleos de
apoio pesquisa no campo das humanidades e possuem
um perfil diversificado. Ora se definem como custodia-
dores de acervos arquivsticos, bibliogrficos e museo-
lgicos, ora se caracterizam como centro de referncia
que organiza bases de dados, repertrios e guias de fontes
ou mantm colees documentais microfilmadas ou
digitalizadas, combinando essas duas vertentes de modos
variados.
O Instituto de Estudos Brasileiros IEB da Univer-
sidade de So Paulo o exemplo pioneiro criado em 1962
sob a liderana de Sergio Buarque de Holanda. Ao longo
dos anos, afirmou-se com um centro multidisciplinar de
pesquisa e documentao sobre histria e cultura no
Brasil, reunindo arquivos e bibliotecas pessoais de artistas
e intelectuais brasileiros, com destaque para os acervos
de Mario de Andrade e Alberto Lamego. No incio, o
centro se organizou em torno da biblioteca a partir da
coleo do intelectual paulista Yan de Almeida Prado,
mas a partir de 1968 o arquivo da instituio comeou a
se constituir e definir o modelo de centro de docu-
mentao.
8
Como indica Clia Camargo Reis, a partir dos anos
70 do sculo XX, que se estabelece um contexto
particular que permitiu a construo desses centros e
4
HARTOG, Franois & REVEL, Jacques (dir.). Les usages politiques du pass. Paris, Ed. EHESS, 2001.
5
Cf., FINLEY, Moses I. Usos e abusos da histria. So Paulo: Martins Fontes, 1989.
6
Para essa discusso, veja-se: KNAUSS, Paulo. Uma histria para o nosso tempo: historiografia como fato moral. Histria Unisinos.
So Leopoldo-RS: v. 12, n. 2, p. 140-147, mai/ago 2008.
7
Para um debate sobre memria e esquecimento, veja-se: RICOEUR, Paul. A memria, a histria, o esquecimento. Campinas: Ed.
Unicamp, 2007.
8
CALDEIRA, Joo Ricardo de Castro. IEB: origem e significados. So Paulo, Imprensa, Oficial, 2002.
13 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 9-16 1 sem. 2009
levou sua constituio, especialmente, ao redor de
cursos de Histria e Cincias Sociais das universidades
brasileiras.
9
H, de um lado, um movimento oficial que
reconheceu a contribuio que a universidade pode dar
proteo do patrimnio documental e, por outro lado,
h um outro movimento que buscou proteger o que as
foras oficiais da poca no admitiam. A origem, do
Arquivo Edgar Leuenroth, da Universidade de Campinas
Unicamp, se relaciona a esse segundo movimento a
partir da incorporao, em 1974, do acervo pessoal que
deu nome a um dos maiores centros de documentao
universitrios do Brasil.
Usualmente, estes centros de documentao uni-
versitrios tendem a ocupar um espao no trabalhado
por outras instituies arquivsticas pblicas de re-
ferncia. Por vezes, tornam-se centros de resgate de
documentos de valor histrico, cuja integridade
ameaada. Em Alagoas, durante alguns anos, os do-
cumentos da polcia poltica estadual terminaram sendo
tratados e guardados pela Universidade Federal do estado,
diante do fato de que nenhuma outra instituio esta-
dual assumiu a custdia do acervo. Recentemente, no
mbito do Projeto Memrias Reveladas, coordenado pelo
Arquivo Nacional, houve a entrega da documentao
ao Arquivo Pblico de Alagoas, devolvendo os docu-
mentos ao lugar de referncia institucional desse tipo de
fundo arquivstico. Outro exemplo conhecido o do
Centro de Documentao Histrica da Universidade
Severino Sombra USS, criado em 1987 na cidade de
Vassouras do estado do Rio de Janeiro, que tem a cus-
tdia de documentos cartorrios da regio do vale do
Paraba fluminense e da Prefeitura Municipal. Nessa
mesma linha, pode-se citar tambm o Centro de Do-
cumentao e Apoio Pesquisa CEDAP, da Faculdade
de Cincias e Letras de Assis UNESP, criado em 1973,
que integrou ao seu acervo os documentos cartorrios
do Frum de Assis e os documentos do Poder Legislativo
e Executivo municipais. No Paran, pode-se mencionar
tambm o Centro de Documentao e Pesquisa Histrica
da Universidade Estadual de Londrina UEL, originado
da criao de uma iniciativa universitria do ano de 1973.
Em todos estes casos, o que se observa que os centros
de documentao universitrios tm um papel decisivo
na proteo do patrimnio documental local e regional.
Por vezes, as iniciativas universitrias provocam a ao
do poder pblico no sentido de constituir a instituio
arquivstica de referncia local. assim, que na cidade
de Guarapuava, no estado do Paran, a mobilizao em
torno do trabalho do Centro de Documentao e Me-
mria da Universidade Estadual do Centro-Oeste
Unicentro, originado de iniciativas comunitrias e uni-
versitrias nos anos de 1970, conduziram ao estabe-
lecimento do Arquivo Pblico Municipal no espao da
universidade.
Ao lado disso, os centros de documentao uni-
versitrios com freqncia se tornam instituies
importantes na preservao e difuso de arquivos pes-
soais.
10
Desse modo, do reconhecimento social ao uni-
verso privado de documentos, garantindo sua visibili-
dade. Um dos exemplos mais conhecidos nacionalmen-
te o caso do Centro de Documentao e Informao
Cientfica CEDIC/PUC- SP, criado em 1980. No seu
acervo se encontra a coleo CLAMOR Arquivo do
Comit de Defesa dos Direitos Humanos para os Pases
do Cone Sul, cuja importncia foi reconhecida, em 2007,
pelo registro nacional no Programa Memria do Mundo
da UNESCO. O valor social desse acervo tamanho que
muitas vezes se esquece que sua histria decorre do papel
da universidade na promoo do conhecimento histrico.
Mas os exemplos poderiam ser multiplicados em torno
da histria poltica do Brasil. Apenas a ttulo de ilustrao,
no campo dos arquivos privados, podemos lembrar o
caso do fundo do Partido Comunista Brasileiro, dis-
ponvel para consulta no Centro de Documentao e
Memria da UNESP (instituio criada em 1987); e o
Arquivo Ana Laga, situado na Universidade Federal de
So Carlos UFSC, criado em 1996, que constitudo
do arquivo pessoal da jornalista que teve atividade
destacada na grande imprensa nacional e que rene
pastas temticas sobre os grandes fatos da poltica
nacional do perodo de 1968 a 1985. Ambos os acervos
so importantes para a histria poltica recente do Brasil.
No caso da histria da imigrao no Sul do Brasil, h
dois acervos valiosos, especialmente de documentos
9
CAMARGO, Clia Reis. Centros de documentao das universidades: tendncias e perspectivas. IN: SILVA, Zlia Lopes da (Org.).
Arquivos, patrimnio e memria: trajetrias e perspectivas. So Paulo: UNESP, 1999. Neste livro, encontram-se vrias referncias
sobre a constituio de centros de documentao universitrios do estado de So Paulo, como o Arquivo Edgar Leuenroth Unicamp,
Arquivo Ana Laga UFSC, Centro de Documentao e Memria UNESP.
10
Para uma boa discusso sobre os arquivos pessoais, veja-se: CAMARGO, Ana Maria de Almeida & GOULART, Silvana. Tempo e
circunstncia: a abordagem contextual dos arquivos pessoais. So Paulo, IFHC, 2007.
14 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 9-16 1 sem. 2009
fotogrficos: Museu Antropolgico Diretor Pestana, que
se constituiu e 1961, em torno do trabalho da Uni-
versidade de Iju, no Rio Grande do Sul, e o atual
CEPEDAL Ncleo de Pesquisa e Documentao sobre
o Oeste do Paran (originado do Centro de Estudos de
Demografia Histrica da Amrica Latina CEDHAL,
criado em 1989) da Universidade Estadual do Oeste do
Paran Unioeste. O Centro de Documentao Hist-
rica CDHIS da Universidade Federal de Uberlndia
UFU, criado em 1985, outro exemplo de como a ao
das universidades envolve tanto a promoo de arquivos
pblicos e privados, pois rene um acervo valioso de
processos criminais do frum local, ao lado de colees
e arquivos de inmeras personalidades da histria
regional. Nesse caso, h que se destacar o valor da coleo
fonogrfica, com discos de diferentes pocas e gneros,
de uma das antigas rdios locais.
H ainda uma ao importante das universidades no
processo de constituio de arquivos especializados em
histria oral. O caso do arquivo do Laboratrio de His-
tria Oral da Universidade de Joinville e do Laboratrio
de Histria Oral e Imagem da Universidade Federal
Fluminense LABHOI-UFF, criado em 1982, so pro-
vavelmente os exemplos mais antigos e continuados de
atuao especializada nas universidades brasileiras.
Vrios dos centros citados anteriormente tambm
possuem colees de histria oral no seu acervo. Nesse
campo, preciso observar que se trata de preservao
de material documental originado das pesquisas aca-
dmicas na prpria universidade, resultado da espe-
cificidade dessa documentao.
11
Nos casos citados, fica evidente o compromisso social
da universidade que termina por ampliar as possi-
bilidades de promoo do patrimnio documental,
reforando o sentido social dos acervos a partir do carter
pblico das instituies de ensino superior.
Cabe observar, ainda, que ao lado do papel dos centros
de documentao universitrios de preservar arquivos e
colees, muitas vezes eles cumprem a valiosa funo
de difundir acervos, constituindo-se em ncleos de
referncia regionais de informao. Talvez, essa seja uma
misso a ser fortalecida por essas instituies uni-
versitrias. O melhor exemplo dado pelo Arquivo Edgar
Leuenroth, da Unicamp, que possui uma grande coleo
de documentos microfilmados de outros arquivos e
bibliotecas. Desse modo, ele se torna um centro regional
de consulta de acervos estrangeiros e nacionais, exer-
cendo uma funo fundamental para a difuso docu-
mental e promovendo a infra-estrutura da pesquisa
nacional no campo das cincias humanas e sociais. Por
vezes, suas boas condies de consulta oferecem maior
conforto e servios mais eficientes de atendimento
pesquisa que o das instituies de origem da docu-
mentao. Mas outros exemplos se multiplicam no pas,
como o caso do Laboratrio de Pesquisa e Ensino de
Histria, do Departamento de Histria da Universidade
Federal de Pernambuco LABPEH-UFPE, que rene
coleo de microfilmes de documentao manuscrita
colonial, de cartrios e da imprensa estadual, por exem-
plo. Desse modo, a experincia institucional demonstra
que como ncleos de referncia, os centros de docu-
mentao universitrios podem exercer um papel fun-
damental na difuso de informao.
Desse modo, o que se observa uma configurao
diversificada dos centros de documentao universitrios.
Ora concentram acervos bibliogrficos, hemerotecas,
fundos arquivsticos pblicos e privados, colees ico-
nogrficas, fonogrficas e/ou de entrevistas de histria
oral, constituindo-se em guardies da preservao de
acervos valiosos. Mas, ao lado disso, por vezes, os centros
de documentao universitrios se afirmam antes como
ncleo de referncia de informao, reunindo acervo de
documentos repoduzidos para consulta local, privi-
legiando a difuso da informao. Contudo, uma funo
no exclui a outra, podendo se combinar, como no
exemplo do Ncleo de Documentao Cultural da Uni-
versidade Federal do Cear NUDOC-UFCE, existente
desde 1983 e ligado ao Departamento de Histria da
instituio, assim como em muitos dos outros casos
citados.
Por fim, preciso observar que h uma construo
intrnseca entre organizao de arquivos e formao de
profissionais de investigao social e histrica, fazendo
do trabalho de preservao e difuso de acervos do-
cumentais campo de ensino para a pesquisa. Alm de
servir como instrumento de acesso e difuso da in-
11
preciso apontar que internacionalmente h uma forte tendncia para concentrar arquivos de histria oral em universidade,
considerando a especificidade de sua natureza de documentao produzida pela pesquisa. Nesse sentido, serve de exemplo os
programas da Universidade Columbia e da Universidade de Berkeley nos Estados Unidos da Amrica, considerados entre os maiores
do mundo.
15 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 9-16 1 sem. 2009
formao, os centros de documentao universitrios se
constituem tambm em espao de formao dos pro-
fissionais de arquivo e da pesquisa arquivstica. Assim,
de modo original, os centros universitrios de docu-
mentao traduzem o compromisso das universidades
com a indissociao entre ensino e pesquisa.
A ordem dos termos nem sempre foi a mesma para
todas as instituies. Os exemplos do Centro de Docu-
mentao e Histria do Brasil Contemporneo CPDOC
da Fundao Getlio Vargas FGV, no Rio de Janeiro,
criado em 1973, e da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundao
Oswaldo Cruz, criado em 1986, demonstram que, por
vezes, o centro de documentao antecede o trabalho de
ensino, ainda que o modelo predominante seja o inverso.
Mas o que importa frisar que em torno de centros de
documentao se constitui um espao institucional da
promoo de acervos documentais que confirma a
misso contempornea das universidades.
No h dvida da importncia desses centros de
documentao para o ensino de histria, no nvel su-
perior. Eles tm assim um papel inusitado de experi-
mentao didtica, que anda junto com o trabalho de
promoo de documentos histricos. Com freqncia,
tornam-se laboratrios em diversas reas educao
bsica, educao patrimonial, histria oral, produo
editorial, produo videogrfica, produo de exposies
etc., construindo pontes originais entre os documentos e
o ensino. Nesse sentido, recorrentemente, tornam-se
espaos de inovao acadmica, porque se dedicam a
campos que a ordem curricular formal no consegue
realizar plenamente, tornando-se, assim, espaos de
atividades curriculares complementares. A novidade da
ao permite tambm que os alunos assumam uma
posio mais protagonista na produo de conheci-
mento, promovendo uma integrao entre docentes e
discentes. Desse modo, revelam tambm sua capacidade
de enriquecer o ambiente acadmico de formao pro-
fissional universitria e de renovar o ensino e a apren-
dizagem. A base do processo de ensino-aprendizagem,
nesses casos, tem como base a criatividade por meio do
desafio de encontrar solues para problemas con-
textualizados. No mesmo sentido, os centros de docu-
mentao permitem experimentar a diversidade dos
canteiros do ofcio de profissionais da histria e do pa-
trimnio.
A interdisciplinaridade se afirma tambm como uma
marca desses centros de documentao universitrios.
A complexidade do trabalho de tratamento da infor-
mao documental conduz, igualmente, a diferentes
domnios, como o da preservao de documentos e
difuso da informao, levando o trabalho institucional
a se ampliar para diferentes reas que ultrapassam o
universo especfico de estudo da histria e das cincias
sociais. Desse modo, os centros de documentao his-
trica se abrem para a colaborao interdisciplinar. Os
professores e alunos envolvidos terminam tendo contato
com outras reas de conhecimento especializado, cons-
truindo pontes para a redefinio da prpria insero do
profissional de histria e cincias sociais no universo do
patrimnio documental. Nesse processo, adquirem uma
conscincia patrimonial que os caracteriza para alm do
papel de usurios de arquivos e leitores de documentos.
Dito de outro modo, esse vnculo entre ensino e
pesquisa define o carter dos centros de documentao
universitrios, ao mesmo tempo, que so o produto do
aprofundamento de um modelo de universidade que
assume o compromisso com a construo de conhe-
cimento sem se dissociar de seu contexto social.
O maior dos desafios fazer com que as universidades
entendam a importncia destes espaos institucionais,
conseguindo viabilizar sua base operacional o que
exige recursos materiais e humanos. Seu reconhe-
cimento, certamente, decorre da capacidade de apro-
fundar estes vnculos com a sociedade que abriga a uni-
versidade, mas igualmente com a comunidade acad-
mica, a partir da pesquisa e do ensino, tendo a experi-
mentao e a inovao como referncia fundamental
para a valorizao das instituies universitrias.
Referncias
BELLOTTO, Heloisa. Arquivos permanentes: tratamento
documental. 4 ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2007. Cap. 1.
CALDEIRA, Joo Ricardo de Castro. IEB: origem e signi-
ficados. So Paulo, Imprensa, Oficial, 2002.
CAMARGO, Ana Maria de Almeida & GOULART, Silvana.
Tempo e circunstncia: a abordagem contextual dos ar-
quivos pessoais. So Paulo, IFHC, 2007.
CAMARGO, Clia Reis. Centros de documentao das uni-
versidades: tendncias e perspectivas. In: COSTA, Clia
Maria Leite. Intimidade versus interesse pblico: a
problemtica dos arquivos. Estudos Histricos, Rio de
Janeiro: n. 21, 1998/1.
FINLEY, Moses I. Usos e abusos da histria. So Paulo:
Martins Fontes, 1989.
HARTOG, Franois & REVEL, Jacques (dir.). Les usages
16 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 9-16 1 sem. 2009
politiques du pass. Paris, Ed. EHESS, 2001.
KNAUSS, Paulo. Uma histria para o nosso tempo: histo-
riografia como fato moral. Histria Unisinos. So Leopoldo-
RS: v. 12, n. 2, p. 140-147, mai/ago 2008.
NORA, Pierre. Entre mmoire et histoire: la problmatique des
lieux. In: Les lieux de mmoire. Paris: Gallimard, 1984. v. 1.
RICOEUR, Paul. A memria, a histria, o esquecimento.
Campinas: Ed. Unicamp, 2007.
SILVA, Zlia Lopes da (Org.). Arquivos, patrimnio e mem-
ria: trajetrias e perspectivas. So Paulo: UNESP, 1999.
17 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
De perto e de longe: a Baixada e suas
relaes com o Rio de Janeiro
Usualmente ancorada na definio de Geiger e
Santos
1
, a Baixada Fluminense identificada como uma
rea de plancies baixas constantemente alagadas entre
o litoral e a Serra do Mar, e distribui-se pelos municpios
ao longo da Rodovia Presidente Dutra, numa extenso
de aproximadamente 80 km a partir da cidade do Rio de
Janeiro.
Sua ocupao ocorreu de forma lenta desde o sculo
XVI, perodo em que a regio foi fornecedora e distri-
buidora de matrias-primas diversas (cana-de-acar,
caf, etc) capital (Rio de Janeiro). No entanto, um dos
processos mais significativos de ocupao da Baixada
teve incio com a construo da estrada de ferro D. Pedro
II j no sculo XIX. A ampliao da linha frrea at
Queimados, em 1858, promoveu a atrao e fixao da
populao que se deslocou para a regio s margens da
linha do trem, estabelecendo um padro que ainda hoje
marcante em quase a totalidade das cidades que a
compem. Tal processo implicou no abandono das vias
fluviais, at ento fundamentais para a economia local,
que acabaram tornando-se obsoletas.
Um segundo momento crucial foi, j na dcada de
1930, a criao da Comisso de Saneamento da Baixada
e o Departamento Nacional de Obras de Saneamento
que trouxeram mudanas e repercutiram no novo fluxo
Nas margens da poltica: trajetria, narrativa e
mediao na Baixada Fluminense (RJ/Brasil)
Alessandra Siqueira Barreto
professora adjunta do Departamento de Cincias Sociais, da Universidade Federal de Uberlndia/Brasil. Doutora em Antropologia
Social pelo PPGTAS/Musue Nacional /UFRJ e Ps-doutora em Antropologia pelo Departamento de Antropologia do ISCTE/ Portugal (bolsa
do CNPq 2008/2009). E-mail: alessandrabarre@fafcs.ufu.br
Resumo
Neste artigo pretendo abordar a construo do campo
poltico fluminense, particularmente da Baixada
Fluminense (RJ), uma rea conhecida pela pobreza e
violncia, a partir da trajetria de um conhecido, e ativo,
poltico local: Jorge Gama. Sua trajetria permite-nos
perceber ao longo da histria local e regional como as
imagens e representaes sobre a regio Baixada alteram e
re-inventam as diversas concepes acerca da poltica e
do fazer poltico. A mediao poltica e cultural trazida
como uma das caractersticas de sua persona e condio
de possibilidade de sua manuteno no mundo da poltica.
Palavras-chave: Poltica. Trajetria. Mediao poltica e
cultural. Baixada Fluminense.
Abstract
In this article I intend to present the construction of the
Fluminense political field, particularly the Baixada
Fluminense (RJ), an area known for poverty and violence,
from the trajectory of a known and active local political:
Jorge Gama. His trajectory allows us to understand the
local and regional history as the images and
representations on the Baixada change and re-invent the
different conceptions of politics. The political and cultural
mediation is brought as one of the characteristics of his
persona and condition of possibility of his maintaining in
the political world.
Keywords: Politics. Trajectory. Cultural and political
mediation. Baixada Fluminense.
1
GEIGER, Pedro Pichas e SANTOS, Ruth Lira. Notas sobre a evoluo da ocupao humana da Baixada Fluminense. Rio de Janeiro,
IBGE, 1956.
18 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
a partir de 1940
2
. Algumas obras tambm contriburam
nesse processo, como por exemplo, a construo da
Avenida Brasil em 1946, da Rodovia Presidente Dutra
(inaugurada em 1951) e os investimentos que, graas
aos loteamentos, surgiram a partir da, atraindo mi-
grantes de vrias regies do pas e do estado, mas prin-
cipalmente de nordestinos, em busca da possibilidade de
adquirir um lote e de morar prximo ao seu local de
trabalho o municpio do Rio de Janeiro. Com isso, as
dcadas de 1950 e 1960 representaram o perodo de
maior crescimento populacional da regio, bastante
superior ao restante do estado (crescimentos de mais de
100% s na dcada de 1950)
3
.
Aos loteamentos, que determinaram um tipo de
ocupao marcado pela presena majoritria das ca-
madas populares em reas que no apresentavam as
mnimas condies de infra-estrutura
4
, somaram-se as
disputas pela terra, desencadeando um violento processo
que teve sua frente jagunos e capatazes dos grandes
proprietrios da regio que, na grande maioria dos casos,
jamais residiram nessas localidades
5
.
As narrativas de moradores locais confirmam os
dados e retomam a saga desde a cidade de origem,
passando pela viagem de muitas horas em nibus
precrios ou em paus-de-arara, sozinhos ou com toda a
famlia; o sol e a chuva enfrentados pelo caminho e, por
fim, a chegada ao Rio de Janeiro
6
. O desembarque,
mencionado em muitos dos relatos que escutei, ocorria,
por exemplo, no bairro carioca de Campo de So Cris-
tvo local onde os homens eram avaliados para
possvel trabalho na construo civil e o destino final
era, geralmente, uma das favelas do municpio ou al-
guma cidade da Baixada Fluminense. As redes familiares
e de amizade apresentavam-se como fatores decisivos
no momento da escolha do local de moradia. Contar com
o auxlio, ainda que temporrio, de um irmo, cunhado,
prima ou amigo era essencial para quem no tinha casa,
dinheiro ou mesmo uma ocupao. Alguns poucos j
chegavam empregados via de regra, por intermdio
desses parentes/ amigos mas nem todos tinham a
mesma sorte.
Minha famlia, uma famlia humilde, n? Meus pais
so analfabetos, vieram do Nordeste [Pernambuco]
tentar a vida no Rio de Janeiro e sempre trabalhando
pra que pudesse[m] nos sustentar e dar estudo para a
gente, n? Mas as condies [] como normal no Rio
de Janeiro, acho que no pas todo [] difcil para as
pessoas que no tm condies e a vida muito sacri-
ficada. pai trabalhando em feira, [] ajudante de
caminho, eu, meu irmo, minha irm tambm
trabalhamos em feira, em barraca, enfim ns traba-
lhamos muito pra chegar onde ns chegamos (Waldir
Zito, ex-prefeito de Belford Roxo, 03/02/2004).
Minha famlia veio pra Nova Iguau sem nada, s
com a coragem mesmo. [...] Porque seno, iam passar
fome, n? Eu nasci aqui, sou daqui da Baixada mesmo,
mas j fui l pro Norte, l pra casa dos meus parentes
[Sergipe], mas eu no troco isso aqui por l, no
(M., 36 anos, casada, professora primria, 09/06/
2004).
Outra caracterstica marcante da Baixada o seu
fluxo constante. Apesar de algumas de suas represen-
taes estarem ancoradas construes a partir de um
universo rural, cidade pequena, o movimento
incessante e as estradas que atravessam e cortam a
Baixada demonstram esse fluxo permanente. Duas
principais a atravessam diametralmente: a Estrada de
Ferro D. Pedro II (atualmente, SUPERVIA) e a Rodovia
Presidente Dutra (BR 116). A circulao incessante de
gente, de carros, de imagens aponta, ao mesmo tempo,
para uma esttica homogeneizante e para a multi-
plicidade de significados em jogo. Haveria, assim, o olhar
seqencial e indistinto de quem simplesmente passa por
ali e a percepo matizada de quem se atreve a parar, a
desvend-la
7
.
Sua ligao com o municpio do Rio de Janeiro no
2
Na dcada de 1930 j percebemos tal migrao devida fundamentalmente citricultura em Nova Iguau que ter seu declnio
com o incio da Segunda Grande Guerra.
3
Fonte IBGE, 1996.
4
As primeiras reas loteadas localizavam-se nos distritos, hoje municpios, de Duque de Caxias, So Joo de Meriti e Nilpolis devido
sua proximidade com a cidade do Rio de Janeiro.
5
GRYNSZPAN, Mrio. Os idiomas da patronagem: um estudo da trajetria de Tenrio Cavalcanti, In: Revista Brasileira de Cincias
Sociais, n.14. Rio de Janeiro: Vrtice, ANPOCS, outubro, 1990. ALVES, Jos Cludio Souza. Dos bares ao extermnio. Uma histria
da violncia na Baixada Fluminense. Duque de Caxias: APPH, CLIO, 2003.
6
BARRETO, Alessandra Siqueira. Cartografia Poltica: as faces e fases da poltica na Baixada Fluminense. Tese (Doutorado em
Antropologia)Rio de Janeiro: PPGAS/ Museu Nacional/ UFRJ, 2006.
7
Ibidem. Um olhar sobre a Baixada: usos e representaes sobre o poder local e seus atores. In: Campos, 5 (2), 2004,p.45-64.
19 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
se d apenas pela proximidade. As fronteiras entre os
dois no so sequer to rgidas e alguns bairros do
subrbio carioca so por vezes incorporados Baixada
ou vice-versa. Um outro fator representativo dessa
relao refere-se ao nmero expressivo de moradores da
regio que faz diariamente o trajeto Baixada Rio de
Janeiro Baixada para trabalhar ou estudar. Os trens e
nibus lotados em direo ao Rio no horrio da manh
e no sentido oposto tarde marcam o contato dirio de
cerca de 300 mil pessoas da Baixada com a capital
carioca em uma viagem (e esta uma categoria nativa)
que pode durar de uma a quatro horas, dependendo do
dia da semana, do municpio de origem e do horrio de
sada
8
.
Esta circulao mais que o movimento pendular
de trabalhadores das regies perifricas, ela acaba por
propiciar o contato com mundos sociais diferentes e as
situaes de co-presena so marcadas ora pelo inter-
cmbio, ora pelo conflito. H certa ambigidade na cons-
truo das representaes sobre o Rio e os cariocas por
parte dos moradores da Baixada, assim como o con-
trrio, dependendo do contexto. No entanto, a troca de
acusaes recprocas marca essa relao: aos moradores
da Baixada cabem os qualificativos de bregas, pobres,
gentinha, cafonas, perigosos; aos cariocas esno-
bes, bestas, filhinhos de papai, patricinhas.
A construo de uma fala poltica:
trajetria e mediao
A poltica na Baixada Fluminense
9
no pode, de modo
algum, ser entendida parte das representaes sobre o
lugar. Para compreendermos este quadro, devemos
excluir o ponto de vista esttico para pensar tais repre-
sentaes assim como a poltica em processos constantes
de abertura e fechamento, aglutinao e reformulao,
densidade e esvaziamento.
Nesse sentido, as imagens e representaes acerca
do lugar misturam-se a personalidades polticas e aos
estigmas, atribuindo um carter especial perso-
nalizao enquanto uma das dinmicas constitutivas
das redes polticas da regio, operada a partir de indiv-
duos-chave e da busca por seus interesses particulares,
ora valendo-se de partidos, ora de redes mais amplas
para atingir seus objetivos
10
. Desse modo, ao transformar
Jorge Gama em narrador de uma das verses sobre a
Baixada, pretendemos trazer tona um olhar sobre a
poltica local e seu modus operandi, ao mesmo tempo
em que lanar luz s possibilidades de re-inveno sobre
a Baixada.
Jorge Gama nasceu em 19 de setembro de 1942.
Carioca do Rocha (subrbio do Rio de Janeiro), mudou-
se para Nova Iguau com seis anos de idade, juntamente
com o pai, a me e os trs irmos. Seu pai, Manuel de
Barros, era imigrante portugus nascido durante o
regime salazarista. Era comerciante, dono de uma car-
voaria em Nova Iguau e de um botequim, localizado
onde hoje situa-se o municpio de Mesquita. Sua me,
Nomia de Oliveira Gama de Barros, era dona de casa.
Jorge fez o primrio (hoje chamado de ensino funda-
mental) no Colgio Iguauano na poca, uma das
melhores e mais tradicionais instituies educacionais
privadas da cidade e referncia local, ainda hoje. Aos 12
anos, foi trabalhar no Frum, estudando noite no
Colgio Monteiro Lobato (uma tradicional escola da rede
pblica). Continuou trabalhando no cartrio e, aos 18
anos, foi nomeado escrevente. Quando concluiu o curso
de direito pela Universidade Federal Fluminense, em
1969, optou por no fazer concurso e permanecer no
cartrio onde ganhava bem.
Sua fase adulta transcorreu durante os anos de
ditadura no Brasil. Em um primeiro momento, o regime
autoritrio cassou mandatos parlamentares e instituiu
o AI-2 (que implicou a extino dos partidos polticos)
e, logo em seguida, o bipartidarismo (ARENA e MDB),
permitindo o funcionamento, ainda que parcial, da so-
ciedade poltica e garantindo sua legitimidade com base
na percepo de que tal situao seria transitria
11
.
8
Alguns municpios fazem divisa com a cidade do Rio: Duque de Caxias, So Joo de Meriti e Itagua. O municpio mais perto Duque
de Caxias que fica a 13 km do centro Rio, enquanto que o mais distante fica a cerca de 80 km.
9
Hoje, a configurao mais ampla da regio (da qual me utilizo) abrange 13 municpios Itagua, Seropdica, Paracambi, Japeri,
Queimados, Nova Iguau, Mesquita, Nilpolis, Belford Roxo, So Joo do Meriti, Duque de Caxias, Mag e Guapimirim contando
com uma populao de mais de 3 milhes de habitantes.
10
GRYNSZPAN, Mrio. Os idiomas da patronagem: um estudo da trajetria de Tenrio Cavalcanti, In: Revista Brasileira de Cincias
Sociais, n.14. Rio de Janeiro: Vrtice, ANPOCS, outubro, 1990. FERREIRA, Marieta de Moraes. Em busca da Idade de Ouro: as elites
polticas fluminenses na Primeira Repblia (1889-1930). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994. ALVES, Jos Cludio Souza. Dos bares
ao extermnio. Uma histria da violncia na Baixada Fluminense. Duque de Caxias: APPH, CLIO, 2003.
11
O MDB surgia, oficialmente (registrado na Justia Eleitoral, apesar de existir desde finais de 1965), em 24 de maro de 1966.
Nascido sob o signo da oposio ao regime e batizado por Tancredo Neves (Ulysses Guimares preferia a palavra ao a
20 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
Assim, a estratgia de manter dois partidos polticos
visava evitar a desconfiana e o descrdito gerados por
um sistema autoritrio strito sensu
12
. No entanto, o
processo poltico implementado pelo novo regime no
conseguiu diferir das antigas relaes patrimonialistas e
clientelistas
13
j que necessitava angariar apoio, nego-
ciando cargos e privilgios com os antigos e tradi-
cionais donos do poder
14
. Este o momento posterior
da abertura so significativos para o entendimento da
poltica na Baixada Fluminense, alm de constiturem o
contexto de surgimento de algumas trajetrias polticas
expressivas em termos mais gerais. Nessa poca,
entraram em cena novos atores que, vinculados ou no
aos militares, perpetuaram-se na vida poltica local e
ainda demonstram sua influncia e prestgio, mesmo
aps 20 anos de democracia.
Apesar de uma anlise da situao sobre o municpio
de Nova Iguau estar ausente da narrativa de Jorge
Gama durante a primeira entrevista que me concedeu,
na Baixada Fluminense como um todo tal situao
explicitava-se pelo grau de interveno nos municpios
15
.
Nas cidades adjacentes, a situao de ingerncia era a
mesma. Duque de Caxias, aps a lei 5.449, de 4 de junho
de 1968, tornou-se rea de segurana nacional devido
presena de uma refinaria de petrleo e de uma rodovia
interestadual (a Rodovia Washington Lus). Foi sob esse
clima poltico que teve incio a vida pblica de Jorge
Gama. Filiado ao MDB desde 1967, a poltica lhe inte-
ressava, mas ainda com certa distncia e muito ligada
s suas relaes pessoais e a um estilo contestador.
Aqui, em Nova Iguau, tinha um fato interessante.
Lanava-se um candidato, assim, da nossa patota, da
nossa turma e a, ns apoivamos. Vamos votar no cara,
vamos botar ele na Cmara. Era uma coisa muito des-
politizada, muito eleitoral. Era um modismo. Pegava
um nome, uma espcie de liderana na turma e botava
ele na Cmara. Ns fizemos isso com o Mauro Miguel,
amigo, bomio. Demos uma fora e o elegemos. Bom,
depois com a ditadura comeou a ter um grupo que
pensava, que conversava, que trocava idias. E esse
grupo se reunia, informalmente, perto do Frum, num
bar que tinha na esquina, em frente estao [ferro-
viria], era o bar do Zuza. Todo mundo ia pra l de noite
tomar cerveja, conversar e trocar idia. Era quase se-
melhante quele grupo do Pasquim, um pouco influ-
enciado pelo grupo do Pasquim
16
. Era o Robson, que
dono do Correio da Lavoura
17
; eu, o Srgio Fonseca, o
Eliasar Diniz, o Roque Bone (Roque da Paraba, com-
positor e pintor), Hugo Freitas (artista), Paulo Faria,
Paulo Amaral. Aquilo era um centro de debate, de
contestao ao prefeito, poltica da ditadura. E a se
criou, no Correio da Lavoura, uma coluna chamada O
Negcio o seguinte. Era uma coluna livre e cada um
movimento) o partido foi inicialmente presidido por um general, Oscar Passos, Senador pelo Acre e, a princpio, pouco defrontava
o partido do governo, a ARENA. (DHBB, 2001). Segundo Diniz (1982), o MDB fluminense caracterizava-se (no perodo de 1965-
1979) por um alto grau de heterogeneidade, congregando diferentes faces que disputariam a hegemonia interna pelo poder no
partido. A autora faz uma anlise da mquina chaguista desde sua estruturao e ascenso, at a articulao de suas bases de
apoio demonstrando a construo de um aparato ligado essencialmente ao clientelismo, suas implicaes dentro da estrutura
urbana e sua relao com as massas.
12
Segundo Avritzer, o regime autoritrio permitiu o funcionamento parcial da sociedade poltica, contanto que esta se sujeitasse aos
objetivos primordiais do regime (...) O regime autoritrio entendia que a vitria nas urnas dar-lhes-ia legitimidade, mas no
porque seus programas polticos fossem ao encontro do desejo da maioria do eleitorado, e sim porque isso lhe possibilitaria manipular
o processo eleitoral de modo a assegurar o controle a longo prazo do aparelho estatal. O problema dessa estratgia foi que ela criou
um processo poltico que no levava legitimidade, e sim ao autoritarismo. AVRITZER, Leonardo. Conflito entre a sociedade civil
e a sociedade poltica no Brasil ps-autoritrio: uma anlise do impeachment de Fernando Collor de Melo. In: ROSENN, K. e
DOWNES, R. Corrupo e reforma poltica no Brasil: o impacto do impeachment de Collor. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2000. p. 170-
1 7 1 .
13
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formao do patronato poltico brasileiro. So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo,
1975. LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. O municpio e o regime representativo no Brasil. So Paulo: Alfa-mega,
[1949] 1975.
14
FERREIRA, op. cit.; ALVES, op. cit.
15
Entre 1963 e 1969, a regio passou por significativas mudanas polticas. Em Nova Iguau, mais especificamente, tais mudanas
resultaram na nomeao de/ ou na eleio de oito prefeitos diferentes, fato que, diante da situao poltica conturbada que se
estabeleceu aps a instaurao do regime militar, culminou na interferncia direta sobre o poder local, com cassaes de prefeitos
e vereadores da oposio e a imposio de interventores na regio. A cidade teve como chefes do executivo, nesse perodo, dois
interventores, dois presidentes da Cmara Municipal, dois prefeitos eleitos e dois vice-prefeitos.
16
O Pasquim assim como Opinio, Movimento, Em Tempo, Coojornal e Versus era um jornal alternativo, em formato de tablide
e com circulao irregular; um jornal de protesto e de oposio. Editado no Rio de Janeiro, foi lanado em 1969, tornando-se um dos
principais jornais do gnero. Teve em seu quadro de redatores nomes como os de Srgio Cabral, Jaguar, Tarso de Castro, Carlos
Propseri, Claudius Ceccon etc. Durante os anos 1980 sua tiragem foi se tornando extremamente rarefeita. Os ltimos nmeros do
jornal saram no final dessa dcada. (p.23).
17
O jornal Correio da Lavoura, de circulao local, foi criado em 22 de maro de 1917. Atualmente, sua periodicidade semanal.
21 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
fazia uma frase, e foi um sucesso muito grande. O jornal
era semanal e todo mundo comprava pra ver as piadas
e as crticas. Eu usava pseudnimos: o Transeunte e
Maria Auxiliadora da Paz . Depois criei um outro
personagem, o Geraldinho boca de trombone, que escu-
lhambava todo mundo. Enfim... Fazia uns artigos uma
vez ou outra. Aquilo ali era um cenrio, ningum tinha
um projeto eleitoral. Era um cenrio meio bomio e meio
contestador. Aos domingos, o jornal publicava o que
saa dali, mais ou menos. (Jorge Gama, 10/08/2003)
Os personagens criados trazem tona o papel dos
jornais como um dos poucos espaos possveis para a
crtica ao regime. A relao e as implicaes entre as
diversas mdias e a poltica perpassam a anlise da
trajetria de Jorge Gama e conferem tons distintos aos
marcos temporais, aos momentos histricos por ele
vivenciados. O perodo da ditadura apresenta-se como
basilar para a constituio de sua identidade poltica a
partir do vis da expresso artstica, do humor (sar-
casmo), da crtica e do engajamento, ainda no pro-
priamente vinculado a uma adeso ideolgica. Mani-
festa-se, simplesmente, o escritor livre, indignado com o
cerceamento, com o medo, com a incapacidade de agir.
Primeiramente o Transeunte e Maria Auxiliadora da
Paz, depois Geraldinho boca de trombone vo com-
pondo e divulgando discusses polticas e informaes
proibidas e censuradas como alternativa s notcias dos
jornais tradicionais, limitadas pelas exigncias do regime
e do mercado. Estes novos veculos trazem para o cenrio
local (Nova Iguau) uma forma de mobilizao e de pro-
vocao (aos polticos locais) marcada pela criativida-
de, pela coragem e pela imprudncia. Os codinomes
utilizados so emblemticos: Transeunte, aquele que
se move, sem paradeiro fixo, sem destino. O marginal (e
marginalizado) por excelncia. Maria Auxiliadora da
Paz, mulher, portanto pertencente a uma minoria, que
carrega no prprio nome um apelo. E, por fim, o es-
cracho: Geraldinho boca de trombone, o homem
comum que fala; que fala sem que o detenham, sem
limites; em suma, o agitador.
A conjuntura poltica do pas transformou o papel
das mdias principalmente do jornal e dos jornalistas
gerando, conforme ressaltou Abreu
18
, uma valorizao
simblica da ligao entre jovens quadros a partidos,
principalmente o PCB. Assim, a escolha do jornalismo
como profisso era uma forma de exercer o engajamento
poltico, divulgar uma ideologia e atuar politicamente.
Na poca de sua atuao como colunista no Correio da
Lavoura, Jorge Gama era um advogado recm-formado
que, de alguma forma, traduziu esse esprito de seu
tempo como porta-voz local da insatisfao, da con-
testao e do anseio pela mudana.
Este movimento (como Jorge o denomina) teve
incio na dcada de 1970, influenciando em sua entrada
na vida poltico-eleitoral local com a candidatura pelo
MDB do advogado Humberto dos Santos, considerada
mais conseqente, mais de esquerda. Jorge coordenou
a campanha vitoriosa de Betinho (como Humberto era
conhecido). Um candidato mistura de bomio e con-
testador, mas inorgnico, que fez um mandato com-
bativo sem, no entanto, manter uma relao de proxi-
midade com o partido. Em 1972 (ano em que se casou e
residiu no bairro carioca da Ilha do Governador), deu
prosseguimento sua atuao como articulador e coor-
denador de campanhas, no interior do estado pelo MDB.
O primeiro turning point de Jorge Gama deu-se, contu-
do, apenas dois anos depois. De seu escritrio, foi um
dos responsveis pela articulao da campanha de Fran-
cisco Amaral Alerj apoiada pela esquerda (segundo
Jorge, uma esquerda independente, uma parte do Par-
tido, alm de setores da Igreja) que foi eleito e
tornou-se um dos principais nomes da esquerda local
19
.
O escritrio de Jorge figura, em sua narrativa, como
o espao no qual se deu sua formao ideolgica. a
partir da criao desta prestadora de servio, do contato
com os dois advogados que trabalhavam no escritrio e
com Francisco Amaral que Jorge marca sua passagem
para a poltica de verdade. Se a origem dessa ligao
localiza-se nas conversas polticas com os amigos
bomios e contestadores, a mudana de seu estatuto
poltico foi conferida por intermdio da relao com
18
ABREU, Alzira. Jornalistas e jornalismo econmico na transio democrtica. In: ______, LATTMAN-WELTMAN, F. e KORNIS,
M. 2003. Mdia e poltica no Brasil. Jornalismo e Fico. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. p.21.
19
Nesse ano, a eleio para governador deu-se por meio de eleio indireta, realizada pelo sufrgio de um Colgio Eleitoral nas
Assemblias Legislativas, na forma do artigo nico, caput e 1 da Emenda Constitucional n. 2, de 9 de Maio de 1972. Da mesma
forma ocorreu a eleio para Presidente da Repblica, realizada pelo Colgio Eleitoral (composto de membros do Congresso Nacional
e de delegados das Assemblias Legislativas dos Estados), na forma dos arts. 1 e 2, da Lei Complementar n. 15, de 13-08-1973.
(Tribunal Superior Eleitoral)
22 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
nomes mais da esquerda e se apresenta como fun-
dadora de um novo ciclo: sua entrada como ator poltico
na arena local.
Eu tinha uma formao crtica, no mximo. Depois
eu adquiri uma formao ideolgica. Uma formao
mais social. Havia, sem dvida, um significativo peso
simblico em classificar-se (e/ ou ser classificado) como
de esquerda. De um lado, havia a preocupao em no
ser vinculado a uma postura radical (esquerdista), ao
mesmo tempo em que era desconfortvel (para alguns
atores sociais) ser rotulado de conservador. Grosso modo,
ser de esquerda aludia a um rol de atributos, conhe-
cimentos e prticas remetidos fundamentalmente
postura de crtica ao regime militar.
A relao com Francisco Amaral, anterior sua
vinculao com eleies, estreitou-se a partir de sua
entrada no cenrio eleitoral de Nova Iguau e das
possibilidades abertas por um contato direto com a
Assemblia Legislativa. A atuao no cartrio (desde
criana) e sua profisso foram decisivas para o esta-
belecimento de contatos com diferentes segmentos
sociais, assim como a vida bomia e o estilo contestador.
Juntos, estes atributos compunham a imagem de um
profissional responsvel, ao mesmo tempo em que o
associavam a um tipo de sociabilidade e de trnsito entre
a classe mdia (na qual se inclua) e setores populares,
em algum nvel mediado pelos locais por ele fre-
qentados, pelos personagens que criou e por seus
escritos nos jornais locais. Forjavam-se, assim, algumas
das caractersticas que o distinguiriam e o tornaria um
candidato vitorioso naquele momento. Estavam em jogo
os processos de identificao que resultariam na cons-
tituio de sua persona pblica.
Nessa poca, na verdade, estava surgindo uma
classe mdia em Nova Iguau. J no era mais aquela
aristocracia rural. Ali, eu apareo em [19]76 como um
personagem que transitava entre todo mundo, que con-
versava com todo mundo, que tinha as idias. No era
esquerdista, mas no era conservador. Eu tambm esta-
va buscando uma identidade. (Jorge Gama, 05/10/2003)
Jorge Gama disputou, em 1976, sua primeira eleio
para a Cmara Municipal de Nova Iguau, embora o
partido pretendesse lan-lo como candidato pre-
feitura
20
. Preferiu, no entanto, novamente apoiar
Francisco Amaral que, contudo, no conseguiu se eleger,
sendo perseguido, tendo sua candidatura ameaada de
impugnao e seus colaboradores coagidos
21
. Jorge, por
sua vez, foi eleito vereador pela legenda do MDB (Movi-
mento Democrtico Brasileiro) como o segundo mais
votado do partido com 3.847 votos graas sua
insero junto s camadas mdias de Nova Iguau e,
segundo o prprio, ao voto expressivo dos servidores da
Justia, em uma aluso direta a seu vnculo profissio-
nal. Nesse mandato, durante o governo do prefeito da
ARENA, ex-interventor agora eleito, Rui Queirs pre-
sidiu a Comisso de Justia e a de Redao da Cmara
Municipal e foi um opositor do governo municipal e das
polticas administrativas que o executivo implementava.
Nesse primeiro momento, ainda no havia delineada
uma geografia eleitoral de contornos ntidos. Jorge Gama
no tinha como reduto eleitoral um bairro ou rea da
cidade especficos, e sim uma determinada camada social
e um grupo profissional mais facilmente identificvel. A
representao espacial, to cara poltica em geral
como, por exemplo, poltica dos vereadores
22
no
era predominante e tornava possvel ao candidato (Jorge
Gama) ampliar suas possibilidades eleitorais por inter-
mdio de uma bandeira que, apesar de representar
interesses especficos, perpassava, no caso de Nova
Iguau, diferentes reas da cidade.
A dinmica das relaes pessoais outro fator que
merece ateno. Desde o perodo de sua formao pol-
tica, as relaes de Jorge com algumas pessoas em Nova
Iguau foram fundamentais para sua deciso de ingres-
sar no cenrio poltico-eleitoral. A noo de rede aqui
retomada privilegiando-se seu aspecto mais centrado no
20
As eleies de 15 de novembro, de mbito nacional, foram reguladas na forma da Resoluo n. 10.041, do Tribunal Superior
Eleitoral, de 16-06-1976. As eleies para prefeito, vice-prefeito e vereadores deram-se em 20 de dezembro, nos municpios em que
no foram realizadas em 15-11-1976. Consoante disposto no art. 1 da Resoluo n. 10.242, do Tribunal Superior Eleitoral, de 10-
12-1976. (Tribunal Superior Eleitoral)
21
Jorge Gama foi intimado convidado para ter uma conversa pelo major Carneiro, no Regimento Sampaio, no somente por
estar frente da campanha de Francisco Amaral, mas essencialmente por sua ligao com o jornal O Pontual, que pertencia ao
empresrio Manuel Ges Teles. Na ocasio, Jorge foi inquirido a respeito do jornal e de sua ligao com Manuel Ges Teles e depois
liberado.
22
LOPEZ Jr., Feliz Gracia . As relaes entre executivo e legislativo no municpio de Araruama. Dissertao (Mestrado em Antropologia)Rio
de Janeiro: PPGAS/MN/UFRJ, 2001.
23 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
ego, o ator poltico, interessando refletir sobre a forma
como as relaes didicas so travadas e operaciona-
lizadas para a prtica da poltica local
23
. Tais relaes
no foram constitutivas apenas dos processos de iden-
tificao poltica de Jorge Gama, mas qualificaram sua
insero local a partir da rede a que resolveu aderir.
Sua aproximao com as camadas populares foi, no
entanto, posterior primeira eleio e deu-se por meio
de sua relao com membros da Igreja Catlica da
Diocese de Nova Iguau tambm por intermdio de
Francisco Amaral que o apresentou a Dom Adriano
Hiplito
24
, o que permitiu sua insero no universo dos
movimentos populares. Essa ligao e o
reconhecimento de seu lugar legtimo como poltico na
cidade favoreceu sua eleio para deputado federal,
pelo MDB, em 1978 com 25 mil votos, apenas em
Nova Iguau (totalizando cerca de 38 mil votos), tendo
sido um dos mais votados da regio (TRE/RJ). Em seu
relato, Jorge Gama enfatizou sua independncia com
relao aos nomes mais importantes do partido na cidade
como o de Francisco Amaral assumindo a
responsabilidade pelas despesas da campanha com a
ajuda de alguns parentes, de conhecidos (um ou outro
me dava alguma coisa...) e, s mais tarde, de sua
legenda.
A minha eleio, repito, foi pela classe mdia, [fui]
o segundo mais votado. Mas, logo depois de eleito, o
movimento popular estava comeando a ter um
crescimento aqui; esse crescimento, muito ligado
Diocese de Nova Iguau a Dom Adriano, e a o
Francisco Amaral, que ns j tnhamos feito a eleio
dele em (19)74, j estava na poltica antes de mim. Ento,
peguei o meu mandato e coloquei o meu mandato
disposio do movimento popular. Eu me engajei
totalmente no movimento popular, na formao das
associaes de moradores, na sua organizao do ponto
de vista legal. Ns dvamos uma assessoria [sobre]
como fazer e tal; poltica, principalmente poltica. Ns
tnhamos reunies interminveis a, em todo o
municpio de Nova Iguau, que antigamente era
Queimados, Mesquita, Japeri [] era bem maior. E
depois teve uma luta especfica que tambm fortaleceu
muito o movimento popular. (Jorge Gama, idem)
A partir de sua relao com as associaes, a bandeira
poltica de Jorge Gama passou a ser a da casa prpria.
Assim como o lote
25
, a casa prpria no representava
somente um sonho de consumo, mas a prpria
incorporao social, tornando possvel aos indivduos
perceberem-se como cidados ao expressarem relaes
de significao entre espao e poltica e sua dimenso
na configurao de modos de vida. Em Nova Iguau, e
na Baixada de modo geral, tal problemtica mobilizou
discursos polticos e organizaes civis, possibilitando a
Jorge a operacionalizao de um fazer poltico
informado por seu fazer profissional: o Direito. Os
despejos em massa consistiram acontecimentos decisivos
para solidificar essa aproximao e reformular as
imagens que compunham sua identidade poltica. Para
Jorge, ainda que se partisse de uma questo pessoal
como a casa da famlia A ou B o mecanismo de
articulao desenvolvido junto s associaes conseguia
originar debates de natureza poltica. Segundo ele, aquele
era o momento oportuno para plantar a crtica e a
conscientizao e mobilizar as pessoas para a ao
poltica. A centralidade da casa prpria para os
envolvidos nos movimentos sociais refletia-se na
dinmica local, nos smbolos adotados e no discurso
tornado pblico pelos atores legitimamente constitudos
(investidos) durante o processo. A casa prpria aparece
ento como palavra-de-ordem para criar e organizar a
ao. Atravs dela (e por ela), esta ltima se realizava.
Reunies eram articuladas no escritrio de Jorge nos
domingos noite; fomentava-se o debate; construa-se
a mobilizao. O escritrio funcionava como ponto de
encontro para falar de poltica, conversar com as lide-
ranas das associaes de moradores. Era freqentado
tambm por artistas e bomios, ao mesmo tempo em
que funcionava para o atendimento ao eleitor
26
.
23
MITCHELL, J. Clyde. Social Networks in Urban Situations. Manchester: Manchester University Press, 1971. BEZERRA, Marcos
Otavio. Corrupo: um estudo sobre poder pblico e relaes pessoais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume-Dumar/ANPOCS,1994.
24
Dom Adriano Hiplito foi um personagem marcante na Baixada entre 1966 e 1981. Foi Bispo de Nova Iguau e atuou junto aos
movimentos sociais, auxiliando a formao das Comunidades Eclesiais de Base na regio. Foi seqestrado em 1976 e torturado,
tornando-se um smbolo pela luta contra a represso e a ditadura. Dom Adriano morreu em 1996.
25
BORGES, Antondia. Tempo de Brasilia. Etnografando lugares-eventos da poltica. Rio de Janeiro: Relume Dumar, Ncleo de
Antropologa da poltica, UFRJ, 2003.
26
KUSCHNIR, Karina. Poltica e sociabilidade: um estudo de antropologia social. Tese (Doutorado em Antropologia).Rio de Janeiro:
PPGAS, Museu Nacional/UFRJ, 1998.
24 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
Durante o mandato de deputado federal, Jorge Gama
costumava voltar s quintas-feiras Nova Iguau para
atender os eleitores e reunir-se com as lideranas locais
em seu escritrio. Na sua ausncia, seu irmo ou algum
assessor conduzia as reunies e os atendimentos at a
chegada do deputado, organizando as prioridades. A
gente tambm convivia no escritrio com o cara que ia
pedir uma ajuda, uma coisinha []. Neste contexto, o
eleitor tradicional concebido como aquele que corro-
bora a poltica dos vereadores, ou seja, o atendimento
como uma atividade eleitoral, de troca. Para Jorge, tal
troca no consistiria uma dimenso poltica, de crtica,
visando apenas a maximizao de votos por parte do
poltico e sua continuao no campo poltico, em contra-
partida satisfao de necessidades e interesses indi-
viduais, por parte do eleitor. Assim, a capacidade do
poltico de obter o bem desejado pelo eleitor lhe ga-
rantiria, em algum nvel, retribuio em termos de voto
e apoio
27
. Tal explicitao , no entanto, evitada e, ao se
pensar a relao de generosidade e de benfeitoria do
poltico com seu(s) eleitor(es), o foco recai sobre algo j
observado por Bordieu
28
:
[] o carter primordial da experincia do dom ,
sem dvida, sua ambigidade: de um lado, essa expe-
rincia (ou pretende ser) vivida como uma rejeio do
interesse, do clculo egosta, como exaltao da genero-
sidade, do dom gratuito e sem retribuio; de outro, nun-
ca exclui completamente a conscincia lgica da troca.
Em todas as entrevistas que me concedeu, Jorge
Gama atribuiu um juzo de valor negativo poltica de
resultados, conferindo sua identidade poltica a marca
da opo ideolgica e da funo de fiscal do Executivo
mais presente em seu mandato como vereador.
Diferentemente do exposto por Kuschnir
29
sobre a
concepo de poltica dos Silveira (seus interlocutores:
Fernando e Marta), Jorge Gama ao falar de si e de
sua prtica poltica afirma no priorizar o atendimento,
que estaria ligado a interesses individuais, em detrimento
do que considera o real fazer poltico: a doao desin-
teressada, o bem da coletividade. A doao (do tempo do
poltico, da atividade poltica, da bandeira) pensada
ento em relao diametralmente oposta troca (rei-
ficada em termos do carter imediato do bem). No
entanto, mesmo atribuindo um carter negativo a tal
sistema, reconhece sua necessidade, justificando-o pelo
argumento da tradio. Tradio mantida por verea-
dores, prefeitos, deputados, eleitores (eleitores tra-
dicionais) enfim, por todos os atores sociais envolvidos
no processo poltico. Segundo Jorge, a carncia de
aparatos e servios pblicos somada pobreza em que
vivem muitos dos moradores da regio promovem a
utilizao desse tipo de recurso poltico, possibilitando
sua reproduo. interessante notar que o poltico
benfeitor e/ ou doador nos termos de Chavess
30
pode
tanto atender aos pedidos de pessoas de camadas
populares (por remdio, lotes ou gasolina), quanto
intermediar concesses polticas a empresrios, render
homenagens pblicas a cidados ilustres etc.
31
. Colo-
car-se como doador significa, ento, apresentar-se como
ator legtimo, socialmente investido para atender s
demandas da populao por meio dos canais gerados pelo
prprio status do poltico e por acessos angariados no
exerccio dessa funo. Nesse sentido, ter acesso o que
diferencia os polticos e, em especial, os parlamentares,
das demais pessoas. O acesso um bem escasso e que
no pode ser comprado, mesmo por quem tem muito
dinheiro. Para se obter acesso, preciso entrar para a
poltica
32
Em seu primeiro mandato como deputado federal,
as invases de terra ocuparam boa parte das preocu-
paes e aes de Jorge Gama. Consideradas um pro-
blema da coletividade
33
, o auxlio prestado aos grupos
27
BEZERRA, Marcos Otavio. Em nome das bases. Poltica, clientelismo e corrupo na liberao de recursos federais. Tese (Doutorado
em Antropologia). Rio de Janeiro: UFRJ/MN/PPGAS, 1998. KUSCHNIR, op.cit; BORGES, op. cit.; LOPEZ Jr., op.cit.;
28
BOURDIEU, Pierre. A iluso biogrfica, In: Razes Prticas. Sobre a teoria da ao. Traduo Mariza Corra. Campinas: Papirus,
1996. p.7.
29
KUSCHNIR, op. cit.
30
CHAVES, Christine A. Festas da poltica. Uma etnografia da modernidade no serto (Buritis, MG). Rio de Janeiro: Relume Dumar,
Ncleo de Antropologa da poltica, UFRJ,1996.
31
VIEGAS, Ana Claudia Coutinho. Trocas, faces e partidos: um estudo da vida poltica em Araruama RJ. Dissertao (Mestrado
em Antropologia Social). Rio de Janeiro: PPGAS/MN/UFRJ, 1997. LOPEZ, op. cit.
32
KUSCHNIR, op. cit. p.237.
33
interessante notar como Jorge Gama diferencia a casa ou o lote de um bem em termos mais gerais. Tal diferenciao passa
pela construo de um discurso coletivo sobre o bem em questo que envolve a constituio de um movimento autorizando-
o, portanto, a tom-lo como demanda coletiva. A relao entre movimento e interesse fundamental para entendermos as
formas de classificao operacionalizadas por Jorge Gama com relao ao seu fazer poltico.
25 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
nelas envolvidos era tanto poltico, quanto tcnico.
Poltico, uma vez que remetia negociao entre par-
celas da populao e esferas do poder pblico. J o saber
tcnico, que remetia formao profissional de Jorge,
configurava um aspecto distintivo, singularizando-o
frente a outros atores polticos locais. Nova Aurora e
Monte Lbano so algumas das reas invadidas hoje
reas majoritariamente ocupadas por conjuntos habi-
tacionais cujos processos de ocupao tiveram, em
algum nvel, a participao de Jorge Gama. Sua atuao
nestes episdios proporcionou sua apario na mdia e a
conexo de seu nome ao de outras personalidades de
grande carisma, como Dom Adriano Hiplito.
Os atores polticos engajados nesses movimentos
originavam-se de diversos segmentos sociais: polticos
profissionais, moradores da periferia, lideranas de
bairros, membros da Igreja Catlica etc. Para os polticos
profissionais, tais movimentos sociais configuram loci
de atuao privilegiados, propiciando um espao de
visibilidade e de exaltao da mediao como ferramenta
necessria, permitindo que algumas pessoas se coloquem
em evidncia devido singularidade de seu potencial de
trnsito por distintos segmentos. A mediao coloca-se
ento como uma atividade porque conforme ressaltou
Castro
34
relaciona-se a um projeto pessoal de se tor-
nar mediador. No entanto, diferentemente da anlise
elaborada por este autor, defendo que o poltico pro-
fissional no um mediador apenas ou mais facilmente
em perodos de transio e de mudana apesar de tais
momentos potencializarem sua visibilidade e seus atos.
Ela no o extraordinrio, mas o cotidiano. a execu-
o constante do projeto pessoal e no uma qualidade
natural de certos indivduos. Esta especializao na
articulao e/ ou negociao, como enfatiza Castro
35
,
singulariza determinados indivduos, mas reala a di-
menso voluntarista assim como a condio necessria
para essa atuao: gostar de desempenhar tal papel. Este
gostar definido por sensaes tanto quanto pela crena
no sucesso ou na possibilidade de conquist-lo. A vontade
de atuar como mediador e a aptido em desenvolver tal
atividade so proporcionais capacidade de lidar com a
diversidade de cdigos, smbolos e interesses envolvidos
neste caso, no processo poltico. No entanto, podemos
dizer que seria mais apropriado pensar no mediador como
uma situao (estar mediador) e no, necessariamente,
como uma qualidade ou propriedade (ser mediador). No
garantia, portanto, para a reproduo incessante dessa
atividade apenas o desejo do ator ou algum atributo inato,
mas um complexo de significados, aes e motivaes
intersubjetivas; interessando-nos mais especificamente
o between, do que a suposta origem ou finalidade da
mediao.
No caso especfico de Jorge Gama, h uma grande
nfase em tal atuao. Quem marcou a primeira au-
dincia de Dom Adriano com um membro da ditadura
fui eu. Atuando como mediador em um determinado
segmento da populao, Jorge demonstrou possuir
algum trnsito entre as diferentes esferas e atores
pblicos, conseguindo expor suas reivindicaes
mesmo em um espao cerceado pela insegurana e pelo
medo da exposio, caractersticos dos anos de regime
militar. O episdio em que teria agendado uma audin-
cia para Dom Adriano com o ento Ministro do Interior,
Mrio Andreazza, para que tratassem de um novo mo-
delo de financiamento habitacional que melhor aten-
desse s necessidades e restries econmicas da
populao de baixa renda de Nova Iguau, apresenta-se
como uma demonstrao de sua capacidade de arti-
culao e mediao. Jorge presenciou tal reunio em
Braslia, juntamente com Francisco Amaral, Paulo
Amaral e Ubaldo Rodrigues.
O poltico, assim como qualquer outra liderana,
precisa constituir seu espao legtimo de atuao e
conformar seu discurso a um pblico especfico seu
eleitorado. O processo de investidura requer dos atores
polticos a demonstrao de seu capital simblico, de seu
poder e prestgio. Em um universo poltico no qual a
mobilizao era vigiada e os direitos polticos, sociais e
civis restringidos, tal demonstrao passava, necessa-
riamente, pelo trnsito entre os militares (nas institui-
es de direito), tanto quanto entre as associaes civis e
a Igreja Catlica que passou a ter uma postura de
contestao e crtica aos militares com o recrudesci-
mento do regime, a partir da dcada de 1970. Apesar dos
limites, o campo de possibilidades de indivduos-chave
sempre colocado em evidncia por meio de suas aes e
projetos. Ou seja, as delimitaes scio-histricas
implicam uma estrutura mais ou menos rgida que, no
34
CASTRO, Celso. Comentrios. In: VELHO, Gilberto e KUSCHNIR, Karina (orgs.). Mediao, cultura e poltica. Rio de Janeiro:
Aeroplano, 2001. p.210.
35
Idem. Op. cit.
26 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
entanto, pode ser flexibilizada a partir da atuao dos
sujeitos (alguns mais, outros menos) no mundo social.
Esse atuar ou agir no mundo leva em considerao
o potencial de metamorfose
36
dos atores em questo para
a concretizao de seus projetos (individuais ou coletivos).
Assim sendo, os projetos polticos individuais deman-
davam conciliao, conformando projetos coletivos em
alguns momentos e circunstncias especficos, dentre os
quais o da redemocratizao brasileira que conseguiu
aglutinar, em torno de um objetivo comum, um grande
nmero de atores individuais e entidades civis.
Foi justamente a partir de 1979, com o fim do bipar-
tidarismo e o incio do processo de organizao e criao
dos partidos polticos, que Jorge Gama filiou-se ao PMDB
(Partido do Movimento Democrtico Brasileiro), sucessor
direto do MDB. E com este panorama surgiu o outro
poltico, o inimigo: em um primeiro momento, o PT;
logo em seguida, o PDT. A aproximao de partidos de
esquerda e das CEBs com as associaes de moradores
o mote desse conflito, narrado com desconfiana e
descrdito por Jorge Gama e coincidindo com seu
afastamento do movimento. A legitimidade na con-
duo dos movimentos sociais em Nova Iguau aparece
como um dos nichos de maior disputa pelo poder poltico
no momento em que a sociedade civil comea a se orga-
nizar e a se manifestar. A contenda em torno de quem
seria o porta-voz autorizado desses movimentos au-
mentava as rivalidades ideolgicas, tendo as siglas par-
tidrias agora passveis de expresso e visibilidade
entrado em cena, disputando cada qual o seu quinho.
O multipartidarismo provocou uma fissura interna na
frente de oposio ao regime militar e sua pulverizao
em uma gama de partidos que agora disputavam a arena
poltica
37
. O MDB, que congregou em sua sigla frentes
ideolgicas diversas desde a exigncia do bipartidarismo,
sofreu um grande impacto eleitoral com tal dissenso.
Apesar de ter mantido nomes importantes em seus
quadros, como Ulysses Guimares
38
, seu vice-presidente,
a impossibilidade de entendimento entre alguns deles
possibilitou a criao de outros partidos dada a inca-
pacidade de atrair para si polticos que se apresentavam
como adversrios. Tal foi, por exemplo, a forma como
se deu a criao do PP congregando nomes como Tan-
credo Neves
39
e Chagas Freitas
40
do PDT de Brizola
41
;
do PTB; do PCdoB etc.
Em 1982, j findado seu primeiro mandato de
deputado federal, Jorge Gama foi escolhido para con-
correr como vice-governador do Rio de Janeiro ao lado
de Miro Teixeira, com a misso de desempenhar o
papel de governador da Baixada. Essa escolha no
se deu sem disputas dentro do partido. No entanto, foi
Leonel Brizola quem se elegeu governador; a chapa
composta por Miro Teixeira e Jorge Gama tendo ficado
em terceiro lugar
42
. Aps a derrota nas urnas, em 1983,
Jorge Gama afirma ter percebido ser aquela a hora do
partido poltico. Fez, ento, a opo pela mquina par-
tidria e comeou as articulaes para concorrer presi-
dncia regional do PMDB. Comecei a trabalhar esta
possibilidade, diz. As reunies tiveram incio e come-
aram a discutir a reformulao do partido no estado.
Em seu relato, Jorge oscila entre duas alternativas. Ao
mesmo tempo em que diz ter tomado as rdeas da situ-
ao, fazendo da presidncia do partido seu projeto
poltico naquele momento, afirma que sua candidatura
foi cogitada por seus pares, tendo surgido nas reunies
e comeado a ganhar fora a partir da. Esta aparente
36
VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
37
Segundo Skidmore: a legislao eleitoral altamente permissiva, redigida no final dos anos 1970 e incio dos 1980, levara rpida
criao de 40 partidos polticos, dos quais 17 tinham representao no Congresso. Essa tolerncia exagerada com a proliferao
partidria podia ser em parte explicada como uma reao retardada manipulao anterior da legislao eleitoral pelo regime
militar, visando a garantir a vitria do partido governamental. SKIDMORE, Thomas. A queda de Collor: uma perspectiva
histrica. In: ROSENN, K. e DOWNES, R. Corrupo e reforma poltica no Brasil: o impacto do impeachment de Collor. Rio de
Janeiro: FGV Editora, 2000. p. 27-28.
38
Sobre Ulysses Silveira Guimares, c.f. ABREU, Alzira. Jornalistas e jornalismo econmico na transio democrtica. In: ______,
LATTMAN-WELTMAN, F. e KORNIS, M.; Mdia e poltica no Brasil. Jornalismo e Fico. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.
39
Sobre Tancredo Neves, c.f. Ibid. op.cit.
40
Para mais informaes ver Ibid. op.cit e DINIZ, E. Voto e mquina poltica: patronagem e clientelismo no Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1982.
41
C.f. SENTO-S, Joo Trajano. Brizolismo: estetizao da poltica e carisma. Janeiro. Rio de Janeiro: Edtora FGV, 1999.
42
Essa eleio foi regulada na forma da Resoluo n. 11.455, do Tribunal Superior Eleitoral, de 16-09-1982 e teve o seguinte
resultado: Brizola (PDT) em 1. Lugar, com 34,19% dos votos; Moreira Franco (PDS), em 2., com 30,60%; Miro Teixeira (PMDB),
em 3., com 21,45%; Sandra Cavalcante (PTB), em 4., com 10,71% e Lysneas Maciel (PT), em 5, com 3,05% (Tribunal Superior
Eleitoral). Nessas eleies, o voto vinculado gerou a obrigatoriedade de se votar na mesma legenda partidria para todos os cargos,
o que acabou desencadeando o chamado fenmeno Brizola, abalando a estrutura do poder vigente at ento na Baixada, devido
ao nmero de cadeiras obtido pela oposio nas Cmaras Municipais da regio. Para a poltica desenvolvida pelo PMDB na localidade,
tal arranjo foi um dos principais obstculos consolidao de sua imagem e a seus avanos como partido de oposio.
27 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
ambigidade entre fazer a escolha (um projeto) e ser
escolhido (investido) deve ser compreendida, tendo em
vista uma apresentao de si a posteriori, que marca a
construo de uma memria e de uma identidade poltica
ancoradas na idia de vocao
43
. Tal idia estabeleceria
uma relao entre sujeito poltico, valor tico (de con-
vico) e valor de eficincia (de sucesso), em contraponto
com a lgica da poltica do poder
44
, do poder em si.
O verdadeiro poltico de vocao seria, portanto, o
poltico responsvel. Aquele poltico capaz de sacrificar
algumas de suas convices, se assim o contexto exigir,
mas que em determinado momento, no limite de seus
princpios, pode vir a dizer: No posso fazer de outro
modo; detenho-me aqui
45
. Na verdade, na ao poltica
no esto em jogo apenas o poder ou a paz e a satisfao
individuais embora estes existam mas, sim, esforos
responsveis por uma causa que, apesar de trans-
cendente ao indivduo, requer convices pessoais. A
poltica no em si o reino das intenes e da fora, a
poltica por excelncia o mundo das realizaes com-
prometidas em contexto.
46
Naquele momento, o partido simbolizava justamente
essa adeso. Simbolizava a crena na possibilidade de
construo de uma unidade ideolgica que o fortificaria
politicamente e, conseqentemente, eleitoralmente
dentro do panorama estadual. A disputa pela presidncia
do PMDB ps, no entanto, em evidncia as nuances e
matizes internas ao partido, bem como a cristalizao
do novo inimigo poltico ps-eleies de 1982: Brizola. A
justaposio da figura de Brizola do partido de tal
ordem que a sigla pouco mencionada nas entrevistas
realizadas com Jorge Gama
47
. sempre o nome de seu
lder que aparece e se apresenta como grande opositor
do PMDB no estado do Rio de Janeiro.
Para Jorge Gama, Brizola tornara-se um empecilho
na conquista da presidncia do partido, pois ao gover-
nador no interessava um PMDB hostil
48
. A chapa con-
corrente era composta por Miro Teixeira e majori-
tariamente pelos chamados euros, os intelectuais de
Ipanema. Como aliados, Jorge Gama contava com
membros do Partido, com os chaguistas, com os
prefeitos e com setores de uma esquerda dividida
liderados por Paulo Rattes, que figura sempre como
aliado poltico e amigo de confiana. A vitria (por 66%),
marcou mais um episdio em que ficou evidenciada
tambm a capacidade de trnsito e articulao de Jorge
Gama por intermdio das alianas por ele costuradas.
Seu vice, por exemplo, era o deputado federal Jorge Leite
personagem poltico conhecido por sua forte vin-
culao ao chaguismo, que mantinha uma mquina
poltica eficiente em todo o estado
49
. Os problemas, no
entanto, no haviam cessado com a conquista da presi-
dncia do partido, em 20 de outubro de 1983. Lidar com
a diversidade das frentes de apoio que tornaram possvel
tal empreendimento e, principalmente, com o estilo
poltico de seu vice transformou o mandato de Jorge em
uma constante mediao e negociao de conflitos
alm da fragilidade de sua condio de poltico sem
mandato.
O Deputado federal Jorge Leite e o Prefeito de Petr-
polis, Paulo Rattes lderes da chapa Unidade
confirmaram ontem seu favoritismo, na conveno do
PMDR-RJ, derrotando, com 66 por cento dos votos para
o diretrio, a chapa de Arthur da Tvala, do jornalista
Paulo Alberto Monteiro de Barros, de Marcelo Cerqueira
e Cludio Moacyr, entre outros. [...]
Devido impugnao na justia eleitoral de alguns
Diretrios zonais e ao impedimento do voto plural, a
chapa de Arthur da Tvola tambm perdeu na compo-
sio da no va Comisso Executiva, que tem agora como
Presidente o ex-Deputado Jorge Gama. A conveno do
PMDB-RJ transcorreu em clima de muita disputa e a
tnica foi a troca de provocaes e de ameaas de
agresso entre militantes das duas chapas. (O Globo,
21/11/1983)
43
WEBER, Max. Politics as a vocation, In: PIZZORNO, Alessandro (ed.). Political sociology. Selected readings. England: Peguin Books
Ltd., 1971.
44
Idem. op. cit. p.108.
45
WEBER apud TEIXEIRA, Carla Costa. A honra da poltica: decoro parlamentar e cassao de mandato no Congresso Nacional (1949-
1994). Rio de Janeiro: Relume-Dumar/Ncleo de Antropologia Poltica, 1998.
46
TEIXEIRA, op. cit. p.5.
47
Sento-S em sua anlise sobre o brizolismo, enfatiza tal colocao, demonstrando como o conceito de carisma fundamental para a
compreenso da construo da persona Brizola. C.f. SENTO-S, op.cit.
48
Segundo Jorge Gama, o chefe do executivo estadual promoveu um governo de coalizo ou, nos termos de Jorge, de cooptao, pois
trocou secretarias por apoio alm de ter conseguido aliar-se a alguns deputados estaduais brizolistas.
49
DINIZ, op. cit.
28 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
Naquele dia eu no vou esquecer eu cheguei no
partido, na Almirante Barroso n
o
. 82, e meia hora depois,
chegou o advogado do Jorge Leite, que era um advogado
da Assemblia, um advogado experimentado, chamado
Francisco Romo de Lima [], com uma procurao
pra eu assinar, para expulsar o vereador Jorge Felipe
que tinha trado o Jorge Leite na eleio. Olha que coisa!
Ele diz: O Jorge Leite mandou isso daqui, que ns vamos
expulsar o Jorge Felipe porque ele traiu a gente l em
Bangu, na Zona Oeste. [] Eu pensei, analisei. Se eu
assinar isso da, eu sou um escravo do Jorge Leite. Se eu
no assinar, ele meu maior inimigo. De qualquer
maneira, se eu assinar perco a minha independncia, se
no assinar vou pro enfrentamento. Disse: No assino.
Olha Romo, voc avisa ao Jorge que eu vou evitar levar
o partido para o Judicirio. Isso uma questo poltica,
eleitoral e vamos resolver isso aqui. O partido s ir pra
Justia em ltimo caso. E, mais ainda, quem vai repre-
sentar o partido na Justia, sou eu mesmo. No vou
assinar, no nada contra o Jorge, pea a ele desculpas,
mas no vai acontecer aqui levar o partido pra Justia,
sobretudo por causa de acerto eleitoral [] Foi um sinal
de guerra. Depois, fui embora pensando que no ia ficar
mais dez dias. (Jorge Gama, 07/09/2004)
Os confrontos foram constantes. De um lado, com
Jorge Leite e, de outro, com os intelectuais. Segundo
Jorge, as acusaes de suburbano, da Baixada e sem
muita expresso poltica constituam a tnica dos
discursos oposicionistas por parte dos intelectuais.
Fizeram uma reunio pra me dizer que eu no podia
ser o presidente do partido. J entrei na presidncia do
partido estigmatizado. A acusao aparece, aqui, como
uma das principais formas de vinculao a uma iden-
tidade deteriorada
50
. Jorge vinha da Baixada, uma regio
vinculada a smbolos de violncia e pobreza. Indepen-
dentemente de outras possveis pertenas sociais, naque-
le momento em particular, seu pertencimento deter-
minante dava-se pela associao a uma imagem que
denunciava, incriminava e segregava, corroborada pela
mdia
51
. Para ele, o maior problema no era, no entanto,
o discurso acusatrio e sim o chaguismo, representado
principalmente por Jorge Leite, que tentou, inclusive,
promover a destituio da executiva.
Todavia, em 1983, um acontecimento marcou a
histria poltica nacional e definiu um lugar para Jorge
Gama dentro do partido. A articulao pelas Diretas J
teve seu pontap inicial, ainda em maro de 1983, por
intermdio da apresentao de uma emenda constitu-
cional para o restabelecimento das eleies diretas, feita
pelo deputado federal do PMDB/MT, Dante de Oliveira
(emenda esta que ficaria conhecida pelo nome de seu
autor). Tal iniciativa, no entanto, teve pouca repercusso
em um primeiro momento, sendo noticiada apenas pelo
jornal Folha de So Paulo em um artigo assinado por
Tristo de Athayde, em 18 de maro, e no editorial do
dia 27 de maro daquele ano, no qual o jornal colocava-
se a favor do retorno do pleito direto em todos os nveis.
O ano de 1984 comea com intensa mobilizao. Tancre-
do Neves, Ulysses Guimares, Miguel Arraes (do PMDB),
alm de Lula, entre outros, tornaram-se figuras-chave
nesse movimento, que contou ainda com a participao
de vrios intelectuais e artistas, percorrendo o pas em
diversos comcios e shows em prol da campanha.
Jorge Gama, na poca presidente regional do PMDB/
RJ, relata sua insero e seu papel neste processo como
uma espcie de revelao. Nesse sentido, volta-se para
a construo de um discurso visionrio, segundo o qual
seu potencial de observador atento aos fatos e hbil
articulador lhe garante o privilgio de estar um passo
frente dos demais atores polticos dentro e fora de seu
prprio partido o que lhe assegura um lugar na hist-
ria (como denota a narrativa na primeira pessoa do
singular). frente da presidncia regional do partido,
Jorge Gama viajou por todo o estado do Rio de Janeiro,
estabelecendo contatos, firmando ou consolidando
alianas. Estava em campanha pela busca de uma
possvel (e desejada) unidade para o partido, como
tambm preparando o terreno para as eleies futuras.
Para o poltico profissional, o tempo da poltica no se
restringe ao perodo eleitoral, como assinalam diversos
autores que se debruam sobre este tema
52
. A dinmica
temporal de quem vive da poltica reinventada pela
necessidade de angariar apoios (de outros polticos, de
50
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulao da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Zahar, [1963] 1975b.
51
importante relembrar que nesse perodo e at a dcada de 1990 as imagens veiculadas pelas mdias televisiva e impressa
sobre a Baixada Fluminense faziam referncia constante a questes sobre violncia, criminalidade e pobreza, pouca ateno sendo
dada s notcias polticas que no estivessem a tais temas relacionadas. E as matrias de jornais que traziam o nome de Jorge Gama
geralmente enfatizavam sua origem: filho de carvoeiro, morador de Nova Iguau, Baixada Fluminense.
52
PALMEIRA, Moacir e HEREDIA, Beatriz. Os comcios e a poltica de faces. Anurio Antropolgico 94, 1995. VIEGAS, op.cit.
KUSCHNIR, op.cit. BORGES, op.cit. CHAVES, op.cit.
29 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
empresrios e dos eleitores) e conseguir acessos. Nesse
sentido, presidir o partido significava no somente
manter seu status, mas tambm dispor de recursos
(humanos e financeiros) alm de alguma visibilidade.
Representava tambm a possibilidade de se fazer notar
pelas lideranas mais importantes do partido em nvel
nacional e, desse modo, afianar apoio para uma possvel
candidatura.
Em 1986 (sem mandato eletivo desde 1982), Jorge
Gama foi o articulador da campanha de Moreira Franco
para o governo do estado do Rio de Janeiro. No mesmo
ano, disputou uma vaga na Cmara dos Deputados,
ficando com a primeira suplncia. Tal resultado foi
atribudo falta de (ou pouca) dedicao sua prpria
campanha, dado seu envolvimento na coordenao da
campanha de Moreira, e as inmeras atividades que lhe
ocupavam no partido (em 1986 passou o cargo de Pre-
sidente para o Senador Nelson Carneiro, ficando com o
cargo de secretrio geral do partido no estado). Em
conseqncia dos argumentos anteriores, o afastamento
de suas bases (a Baixada) acabou revelando-se muito
longo para quem tinha pretenses eleitorais. Seu projeto
poltico havia suplantado sua expectativa eleitoral. Ainda
assim, foi nomeado Sub-secretrio de Governo em maio
de 1987 e, depois da extino da pasta, assumiu a
Secretaria de Trabalho, corroborando a identidade de
articulador e mediador poltico e sendo recompensado
pelo trabalho durante a campanha do governador eleito
(Moreira Franco) com um cargo que viabilizava contatos
e acessos.
Jorge Gama: S por ser o ocupante da Secretaria de
Governo, j teria um considervel poder de influncia:
ao contrrio dos demais secretrios, que despacham
com Moreira s de quinze em quinze dias, despacha todo
dia. um poltico de centro esquerda. Jorge Gama
amortece os conflitos que surgem entre as centenas de
polticos da Aliana Popular Democrtica. ele, em
suma, que administra a distribuio dos melhores chu-
veirinhos de Moreira, os que vm em forma de emprego.
Chuveirinho, no universo vocabular do governador,
um afago, um agrado que se d a todos os tipos de
insatisfeitos. (Jornal do Brasil, 23/08/1987).
A mediao aparece, novamente, como um conceito-
chave para a compreenso da trajetria de Jorge Gama.
A construo de sua persona pblica no remetida ao
carisma individual ou a algo que o designe um lder nato,
ligando-se preferencialmente ao desempenho de um
papel poltico especfico crucial para a consolidao
de projetos e de sua prpria existncia poltica e pos-
sibilitado por seu potencial de metamorfose e mediao.
A habilidade com as palavras e a postura de distino
foram atributos selecionados em momentos cruciais e
diferentemente utilizados segundo os contextos em
questo. A composio de sua fachada, de sua apre-
sentao de si
53
e sua aptido como mediador trans-
formaram-no em poltico singular na Baixada, apesar
das derrotas nas urnas. Em sua atuao junto aos mo-
vimentos sociais, s caractersticas anteriormente
aludidas somava-se a prudncia na escolha do repertrio
de smbolos dada sua origem social e profissional
ora referindo-se origem popular, do Rocha, da
Baixada, ora profisso de advogado. Nesse sentido,
h alguns turning points na trajetria de Jorge Gama.
Evidenciados, ao longo da narrativa, nota-se como seu
discurso foi re-semantizado, suas bandeiras recons-
trudas e ao mesmo tempo em que se manteve fiel a
uma determinada faco suas alianas internas e
externas edificadas em etapas capitais para o partido a
que pertencia.
Os mltiplos processos de identificao acionados em
contextos sociais especficos demonstram o grau de
percepo de Jorge Gama acerca de sua prpria
capacidade de atuao no mundo poltico, bem como a
conscincia na aplicao de determinados meios para
atingir os objetivos desejados. Sua sobrevivncia
enquanto figura pblica deve-se fundamentalmente
sua funo (de articulador/ mediador) e sua manu-
teno dentro da arena poltica por intermdio do
exerccio de cargos pblicos (administrativos ou de
assessoria). Estar apartado deste meio e de suas relaes
implicaria sua morte poltica e, talvez, a impossibilidade
de um ressurgimento, dada as caractersticas particulares
de sua atuao.
Em 1990, Jorge voltou a substituir Alusio Teixeira
na Cmara dos Deputados (primeira substituio tendo
ocorrido em 1989) e, em outubro deste mesmo ano,
concorreu s eleies, no conseguindo, no entanto, se
reeleger. Nessa eleio, novamente a ligao entre
53
GOFFMAN, Erving. A representao do Eu na vida cotidiana. Petrpolis: Vozes, [1959] 1975a.
30 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
poltica e corrupo foi trazida tona. Segundo o Jornal
do Brasil, de 13 de novembro de 1990, o nome de Jorge
Gama aparecia entre os citados pelo relatrio final do
TRE/RJ
54
. Em 1993, saiu do partido e disputou as eleies
de 1994 j pelo PP. Um novo escndalo vinculou-o
contraveno do jogo do bicho. Em uma lista, apreendida
pelo Ministrio Pblico, nomes de vrios polticos
apareceram como receptadores de doaes do bicheiro
Castor de Andrade. Nesse mesmo ano, as eleies no es-
tado do Rio de Janeiro foram anuladas devido a suspei-
tas de fraude e remarcadas para dezembro, mas Jorge
Gama no voltou a concorrer.
A distncia relativa da imagem de Jorge Gama dos
esteretipos acionados para falar de poltica na Baixada
dessa vez no se concretizou. Mesmo minimizando os
efeitos polticos da associao com o jogo do bicho em
termos gerais (a partir de uma percepo no-negativa
sobre o seu papel na regio), a projeo poltica de Jorge
no se restringia aos limites territoriais da Baixada,
motivo pelo qual talvez tal ligao tenha repercutido
negativamente em esferas mais amplas. Tal episdio no
significou, no entanto, que as portas do mundo da poltica
fecharam-se para ele. Dedicou-se ao escritrio de
advocacia, situado no Centro do Rio de Janeiro, onde
prestava consultorias diversas a deputados e vereadores,
mantendo assim seus vnculos com polticos profissionais
e retornando ao partido de origem. Em 1998, a convite
do ento prefeito de Nova Iguau Nelson Bornier foi
para a sub-secretaria de Desenvolvimento da Baixada e
Municpios Adjacentes. Este cargo significava a possi-
bilidade de novamente dispor dos acessos. Jorge per-
maneceu neste cargo at receber o convite do ento
prefeito de nova Iguau Mrio Marques para assumir a
secretaria de governo do municpio em 2002
55
. Com a
derrota de Mrio Marques para a prefeitura de Nova
Iguau em 2004, foi ocupar novamente o cargo que j
ocupara anteriormente na Secretaria de Desenvolvi-
mento da Baixada cujo secretrio era seu afilhado
poltico, o ex-prefeito de Paracambi por dois mandatos e
atualmente deputado estadual em quarto mandato, Dlio
Csar Leal (PMDB). No fim de maro de 2006, com a
desincompatibilizao de Dlio Leal, Jorge Gama foi
indicado para assumir a Secretaria da Baixada. Em 2007
foi nomeado assessor especial no gabinete do Secretrio
estadual de governo de Sergio Cabral (PMDB).
Consideraes finais
Com uma trajetria poltica marcada por altos e
baixos, Jorge conseguiu permanecer no campo poltico.
As prticas necessrias para perpetuar-se no mundo
poltico da Baixada remetem ao assistencialismo/ clien-
telismo de um lado e/ou ao sistema de visibilidade/
marketing poltico, de outro. Em ambos os casos, Jorge
Gama coloca-se parte. No primeiro caso, por opo e,
no segundo, por falta de recursos. A mediao tornou-
se, portanto, o nico modo de efetivar sua permanncia
na poltica. Criando espaos de visibilidade, circulando
entre diferentes atores polticos, tendo trnsito livre em
diferentes esferas do poder (Executivo e Legislativo)
desde presidentes nacionais de partidos a vereadores de
cidades do interior do estado em uma palavra, con-
seguindo manter os acessos. Seu trajetria poltica foi
analisado tendo-se em vista a vocao de mediador tanto
quanto a dedicao tal atividade. Apesar de estar mais
prximo da classificao de ideolgico do que de assis-
tencialista, no me parece que essa dicotomia d conta
satisfatoriamente da trajetria de Jorge Gama. Ele pr-
prio no se define nem como uma coisa, e muito menos
como a outra. Sempre esteve muito ligado ao intrincado
processo de constituio de seu partido e das mudanas
pelas quais ele passou desde o vnculo com os inde-
pendentes, a aproximao com Moreira Franco e a de-
voo a Ulysses Guimares, at a configurao mais
recente, com a entrada de Anthony Garotinho e da go-
vernadora Rosinha Matheus e com a vitria do PMDB
para o executivo estadual. A adeso a uma determinada
faco no o impediu de galgar posies e constituir
alianas diversas dentro do partido como forma de
manter as condies para sua sobrevivncia poltica.
Suas ligaes com chaguistas como Jorge Leite, por
exemplo, e com a prpria Fundao Leo XIII, que desde
o governo de Chagas Freitas, esteve vinculada a notcias
de uso poltico, empreguismo e clientelismo nos mais
diversos contextos (fundamentalmente eleitorais) foram
ilustrativas dessa atuao.
54
Entre os demais nomes de polticos de Nova Iguau citados estavam o de Nelson Bornier (PL), que teria sido beneficiado com 381
votos; Jos Tvora (PFL), com 418 votos; Ernani Boldrim (PMDB), com 248 votos.
55
Jorge Gama foi convidado primeiramente para assumir a Secretaria de Sade no lugar de Gilberto Badar em outubro de 2002,
mas acabou permanecendo apenas na Secretaria de governo. A notcia foi veiculada pelo Jornal O Globo, no Caderno Baixada, em
27/10/2002 (p.9).
31 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
Assim, as formulaes de uma histria ou de suas
verses (como prefiro) so determinadas pelos discursos
e transformadas pela possibilidade de recontar e
reinventar, num mover-se constante entre diversos
campos, numa fluidez relacional na qual no s o tempo,
mas o espao e os possveis interlocutores configuram
distintos planos para a construo narrativa. Dentro
dessa composio relacional, e portanto dinmica, o
universo poltico conformado, atravs da apreenso de
prticas prprias e de formas de experincia significa-
tivas e as mudanas das imagens da Baixada acabam
tambm por ter impactos em sua trajetria. A tentativa
de apreender as relaes polticas travadas na Baixada
por intermdio da narrativa de alguns de seus atores
merece algumas consideraes. Lidar com trajetrias
implica, decerto, operar com a idia de sucesso temporal
dos acontecimentos pertinente a um (ou mais) ator (es),
em alguma medida, remetida a um deslocamento
linear, unidirecional
56
. Entretanto, neste caso em par-
ticular, a partir da construo narrativa sobre eventos
de uma memria da poltica nacional e de suas
implicaes locais que se encontram os elementos que
possibilitam recompor um quadro de foras no qual os
atores em questo disputam espao, poder, cargos e
mandatos. Entremeado de emoo, satisfao e crticas,
o depoimento de Jorge Gama ilumina a posteriori
aspectos da trajetria de nomes importantes da poltica
na Baixada, em termos de visibilidade nacional e
regional. Reestruturado, o discurso sobre si funde-se com
a histria da nao, da cidade, da Baixada, a justifica-
tiva de sua transformao/ converso em ator poltico
aparecendo como uma seqncia de proposies ver-
dadeiras e significativas para alm do mbito de uma
escolha individual e/ ou egosta, ou seja, surgindo como
vocao. Nesse sentido, h uma lgica retrospectiva e
prospectiva no relato do entrevistado que organizada
a partir de fatos significativos para si e para quem o
interroga. O antroplogo, como o inquisidor, contribui
para o condicionamento da produo desta fala tanto
quanto a relacionada a uma acusao de feitiaria
57
, ou
ainda quela ligada narrativa de acontecimentos
nacionais como as Diretas J, a partir da perspectiva de
Jorge Gama. O sujeito da narrativa constri seu prprio
romance, atribuindo constncia e conseqncia aos
momentos selecionados, marcando passagens, omitindo
outras, revelando assim a preocupao em apresent-lo
como um continuum coerente e conciso.
No entanto, a percepo de que o mundo social
marcado por acontecimentos cuja sucesso no tempo
no unilinear evidencia a multiplicidade e a profuso
das relaes que perpassam os indivduos, pensados aqui
como sujeitos fracionados, mas interligados no interior
do campo social. Apresentar as intrincadas relaes
polticas na Baixada a partir da verso de Jorge Gama
no significa retir-las de seu campo e das relaes de
poder a existentes, mas antes, afirmar o carter de
artefato da narrativa e, ao mesmo tempo, encar-la como
potencialmente produtora de realidades.
Referncias
ABREU, Alzira. Jornalistas e jornalismo econmico na
transio democrtica. In: ______, LATTMAN-WELTMAN,
F. e KORNIS, M.; Mdia e poltica no Brasil. Jornalismo e
Fico. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.
______ et al. Dicionrio Histrico e Biogrfico Brasileiro.
Rio de Janeiro: CPDOC/ FGV, 2001.
BARRETO, Alessandra Siqueira. Cartografia Poltica: as
faces e fases da poltica na Baixada Fluminense. Tese (Dou-
torado em Antropologia). Rio de Janeiro: PPGAS/Museu
Nacional/ UFRJ, 2006.
______. Um olhar sobre a Baixada: usos e representaes
sobre o poder local e seus atores. In: Campos, 5 (2), 2004,
p.45-64.
ALVES, Jos Cludio Souza. Dos bares ao extermnio. Uma
histria da violncia na Baixada Fluminense. Duque de
Caxias: APPH, CLIO, 2003.
______. Igreja Catlica: opo pelos pobres, poltica e
poder. O caso da parquia Pilar. Dissertao (Mestrado em
Sociologia e Poltica). Rio de Janeiro: PUC RJ, 1991.
AVRITZER, Leonardo. Conflito entre a sociedade civil e a
sociedade poltica no Brasil ps-autoritrio: uma anlise do
impeachment de Fernando Collor de Melo. In: ROSENN, K.
e DOWNES, R. Corrupo e reforma poltica no Brasil: o
impacto do impeachment de Collor. Rio de Janeiro: FGV
Editora, 2000.
BEZERRA, Marcos Otavio. Em nome das bases. Poltica,
clientelismo e corrupo na liberao de recursos federais.
56
BOURDIEU, op. cit. p.183.
57
GINZBURG, C. O inquisidor como antroplogo: uma analogia e suas implicaes. In: A Micro-Histria e Outros Ensaios. Lisboa:
Difel, (Memria e Sociedade), 1989.
32 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 17-32 1 sem. 2009
Tese (Doutorado em Antropologia). Rio de Janeiro: UFRJ/
MN/PPGAS, 1998.
______. Corrupo: um estudo sobre poder pblico e rela-
es pessoais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume-Dumar/
ANPOCS,1994.
BORGES, Antondia. Tempo de Brasilia. Etnografando
lugares-eventos da poltica. Rio de Janeiro: Relume-Duma-
r, Ncleo de Antropologa da poltica, UFRJ, 2003.
BOURDIEU, Pierre. A iluso biogrfica. In: Razes Prti-
cas. Sobre a teoria da ao. Traduo Mariza Corra. Cam-
pinas: Papirus, 1996.
_____. O poder simblico. So Paulo: DIFEL, 1989.
CASTRO, Celso. Comentrios. In: VELHO, Gilberto e KUS-
CHNIR, Karina (orgs.). Mediao, cultura e poltica. Rio de
Janeiro: Aeroplano, 2001.
CHAVES, Christine A. Festas da poltica. Uma etnografia da
modernidade no serto (Buritis, MG). Rio de Janeiro: Relu-
me-Dumar, Ncleo de Antropologa da poltica, UFRJ, 1996.
CORADINI, Odaci Luiz. Em nome de quem? Recursos sociais
no recrutamento de elites polticas. Rio de Janeiro: Relume-
Dumar (Coleo Antropologia da Poltica), 2001.
DINIZ, E. Voto e mquina poltica: patronagem e cliente-
lismo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formao do pa-
tronato poltico brasileiro. So Paulo: Editora da Universi-
dade de So Paulo, 1975.
FERREIRA, Marieta de Moraes. Em busca da Idade de Ouro:
as elites polticas fluminenses na Primeira Repblia (1889-
1930). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994.
GINZBURG, C. O inquisidor como antroplogo: uma ana-
logia e suas implicaes. In: A Micro-Histria e Outros
Ensaios. Lisboa: Difel, (Memria e Sociedade), 1989.
GOFFMAN, Erving. A representao do Eu na vida coti-
diana. Petrpolis: Vozes, [1959] 1975a.
_____. Estigma: notas sobre a manipulao da identidade
deteriorada. Rio de Janeiro: Zahar, [1963] 1975b.
GRYNSZPAN, Mrio. Os idiomas da patronagem: um estudo
da trajetria de Tenrio Cavalcanti, In: Revista Brasileira
de Cincias Sociais, n.14. Rio de Janeiro: Vrtice, ANPOCS,
outubro, 1990.
KUSCHNIR, Karina. Poltica e sociabilidade: um estudo de
antropologia social. Tese (Doutorado em Antropologia). Rio
de Janeiro: PPGAS, Museu Nacional/UFRJ, 1998.
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. O muni-
cpio e o regime representativo no Brasil. So Paulo: Alfa-
mega, [1949] 1975.
LOPEZ Jr., Feliz Gracia. As relaes entre executivo e legis-
lativo no municpio de Araruama. Dissertao (Mestrado
em Antropologia). Rio de Janeiro: PPGAS/MN/UFRJ, 2001.
MITCHELL, J. Clyde. Social Networks in Urban Situations.
Manchester: Manchester University Press, 1971.
PALMEIRA, Moacir e HEREDIA, Beatriz. Os comcios e a
poltica de faces. Anurio Antropolgico, 94, 1995.
SARMENTO, Carlos Eduardo. A morte e a morte de Chagas
Freitas. A (des)construo de uma imagem pblica: traje-
tria individual e reelaborao memorialstica. Rio de Ja-
neiro: CPDOC, 1999.
SENTO-S, Joo Trajano. Brizolismo: estetizao da poltica
e carisma. Rio de Janeiro: Edtora FGV, 1999.
SKIDMORE, Thomas. A queda de Collor: uma perspectiva
histrica. in: ROSENN, K. e DOWNES, R. Corrupo e refor-
ma poltica no Brasil: o impacto do impeachment de Collor.
Rio de Janeiro: FGV Editora, 2000.
TEIXEIRA, Carla Costa. A honra da poltica: decoro parla-
mentar e cassao de mandato no Congresso Nacional (1949-
1994). Rio de Janeiro: Relume-Dumar/Ncleo de Antro-
pologia Poltica, 1998.
VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose: antropologia das
sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
VIEGAS, Ana Claudia Coutinho. Trocas, faces e partidos:
um estudo da vida poltica em Araruama RJ. Dissertao
(Mestrado em Antropologia Social). Rio de Janeiro: PPGAS/
MN/UFRJ, 1997.
WEBER, Max. Politics as a vocation, In: PIZZORNO, Ales-
sandro (ed.). Political sociology. Selected readings. England:
Peguin Books Ltd., 1971.
33 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 33-40 1 sem. 2009
E ho Marques que no Castello, que eram suas
proprias casas, estava j por isso reteudo, tanto que
este Acordo DElRey lhe foy pobricado, logo na mesma
ora o comprio, e segundo palavras, nam sem muita
paixam, mostrando que o avia por grande abatimento,
e agravo. E dentro do termo se foy a Castello Branco,
onde esteve algus dias, em que com a danada vontade
que pra ElRey tynha, compillou, e formou hua instru-
am muito desnonesta, e de Capitolos muy falsos, e muy
defamatorios da vida, honra, e Estado DElRey, a qual
logo emviou a ElRey, e aa Raynha de Castella, que pola
pouca autoridade do messegeiro, ou pola desnonesti-
dade da sustancia, a dicta instruam nom foy recebida,
nem vista com aquelle credito, que ho Marques de-
sejava.
1
Esta parte da Crnica de D. Joo II do cronista Rui
de Pina (1440-1522)
2
, uma das que compem o
episdio da rivalidade formada no territrio portugus
entre o monarca D. Joo II e o Duque de Bragana,
pelo fato, segundo o cronista, de esse nobre ter trado
seu rei ao aliar-se ao reino de Castela. Pina declarou, ao
longo desta crnica, a importncia da fidelidade nas
relaes estabelecidas na Corte como elemento chave
para o poder rgio, em Portugal, se consolidar. Portanto,
a traio do Duque ofende, de acordo com a leitura tica
realizada por Pina, toda a estrutura de poder constituda
na poca.
Nota-se, pois, que o objetivo de Pina nesta crnica,
bem como na Crnica de D. Afonso IV precisamente
registrar a magnitude de Portugal, atravs das proezas
administrativas de cada monarca, enfatizando princi-
palmente os acontecimentos que impulsionaram o reino
a se fortalecer. Desde Ferno Lopes, a propsito, a histria
do reino aparece no enredo das crnicas, deixando
transparecer que o poder rgio estava legitimado a partir
da vontade dos povos.
E porem este degrado do Marques assi riguroso, e
acelerado, acrescentou muita parte na maa vontade do
O problema da compilao no ofcio dos cronistas
portugueses (limiar do sculo XVI)
Leandro Alves Teodoro
Mestrando em Histria pelo programa de ps-graduao da UNESP campus de Franca sob orientao
da prof dr Susani Silveira Lemos Frana. Bolsista FAPESP. E-mail: teodoro400@yahoo.com.br
Resumo
A proposta deste artigo perceber a mudana de
perspectiva da Crnica de D. Afonso IV do cronista Rui de
Pina compilada de uma crnica elaborada por Ferno
Lopes para a Crnica de D. Joo II, feita a partir do seu
prprio levantamento de dados e, especialmente, sua
prpria memria dos acontecimentos.
Palavras-chave: Idade Mdia. Portugal. Crnicas. Corte.
Rui de Pina.
Abstract
The proposal of this articles is to understand the change of
perspectives of the Crnica de Afonso IV compiled of a
chronicle elaborated for Ferno Lopes for the Crnica
de D. Joo II, of this first chronicler, done from its proper
data-collecting and, especially, its proper memory of
events.
Keywords: Middle Ages. Portugal. Chronicles. Court. Rui
de Pina.
1
PINA, R. de. Crnicas, ed. M. Lopes de Almeida. Porto: Lello & Irmo, 1977, p.904.
2
D. Duarte monarca da dinastia de Avis criou o cargo de cronista-mor da Torre do Tombo, cargo responsvel pela escrita da
histria do reino, ocupado inicialmente por Ferno Lopes e depois por Gomes Eanes de Zurara e Rui de Pina.
34 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 33-40 1 sem. 2009
Duque que j tynha pera ElRey, creendo que o fezera
por abatimentoseu, e de seu irmao, a quem se devia
outro resguardo. Em que nom mingou nada a de-
trimaam que ElRey, a requerimento dos povoos, em
todos os lugares, e terras do Regno, sem algua excep-
am... ... como tambm porque era razam, que em
principio de seu regnado nom lhe ficasse por saber a
justia que em seus Regnos avia, e se em suas terras, e
nas dos outros se faziam alguns insultos, e desmandos,
que dereito se ouvessem de proyeer, e remdiar.
3
As crnicas, dessa forma, mostram como se situava
a Corte no espao rgio, bem como os procedimentos
que legitimavam o poder temporal. Portanto, Pina
preocupou-se em ressaltar que as aes do rei eram
garantidas pela vontade dos povos, que reconhecia a
figura do monarca no centro do poder, pois, a boa
governana de seus Regnos, vassallos, e naturaaes delle,
em que pareceo mui claro, que era o proprio, e verda-
deiro coraam da Republica
4
. Pina considera que o rei e
a corte encontravam-se posicionados estrategicamente
no corao da Repblica, mantendo viva a monarquia e
toda a grandeza do povo portugus. Com efeito, segundo
este cronista, as atitudes do Duque de Bragana com-
prometeram a estabilidade do reino, do corao da Rep-
blica. Em razo de preservar as faanhas histricas da
dinastia de Avis, o cronista narrou o percurso que D. Joo
II fez para reverter a situao a favor do lado portugus,
condenando um nobre que ele tinha como um familiar.
Vale ressaltar que esse episdio entre o rei D. Joo II
e o Duque de Bragana, mostrando a fidelidade como
princpio motor da relao entre o rei e a Corte, tambm
levanta a possibilidade de notar que Pina menciona o
termo compilar e a questo da falsificao. Levando isso
em considerao, a crnica de D. Joo II, ao mesmo
tempo que narra o curso da histria, defende um ponto
de vista para observ-la, pois Pina, narrando uma rede
de acontecimentos que envolvem a figura do rei, aponta
a verdade como seu guia, em detrimento da falsificao
e das mentiras que podem estar presentes na compilao
de documentos.
No que diz respeito composio textual do sculo
XV, a compilao manifestou-se como ferramenta
fundamental que propiciava um mecanismo apto para
o cronista reunir um nmero significante de docu-
mentos.
5
Os modelos e prticas da cultura medieval no
universo do conhecimento tendiam a ser respeitados. O
historiador na Idade Mdia valorizava mais o tradicio-
nalismo do que a originalidade. A erudio correspondia
repetio, reafirmando exemplos a serem imitados,
exemplum vitae. Em outras palavras, o historiador, o
artista de uma maneira geral, preservava o modelo
estabelecido por Deus, ao continuar o servio de seus
predecessores mantendo os mesmos objetivos de tra-
balho. A histria estava submetida providncia divina,
apresentando o mundo de uma forma estvel e esfor-
ando-se para captar essa harmonia do mundo e traduzir
para o plano dos homens os ensinamentos do mundo
superior. Ferno Lopes buscou em suas crnicas justi-
ficar que o governo de D. Joo I no rompia com a
ordem natural da histria; com igual finalidade, Rui de
Pina teceu argumentos na crnica de D. Joo II de
legitimao de D. Manuel, porque o sucessor direto deste
havia morrido.
Neste sentido, houve a existncia na Idade Mdia
uma relao de dependncia da histria com a moral, a
retrica da Antigidade foi bem conhecida nesse perodo
graas ao empreendimento dos monges em traduzir os
ensinamentos dos clssicos, principalmente de Ccero.
6
Os escritos medievais podem ser comparados a um
grande tratado retrico e moralizante, cujo objetivo maior
era a repetio da verdade, sem qualquer pretexto de
originalidade. As mesmas prticas de compilao do
cronista Rui de Pina so encontradas inclusive na pro-
duo monstica e senhorial. Vale ressaltar que, em
Portugal, entre esses trs momentos de escrita
7
percebe-
3
PINA. Op. cit., p.904.
4
Idem, p.1032.
5
Sobre compilao ver: GUNENE. Histoire et Culture Historique dans lOccident Mdival. Paris: Aubier-Montaigne, 1980, p.211-
21 4.
6
GUENE. Op. cit. p.27-29.
7
Os escritos histricos em prosa que tratam da realeza de Afonso Henriques consolidao do reino portugus podem ser divididos em
trs momentos: monstico, senhorial e institucional. Conforme o espao senhorial e da corte concorrem para o registro da histria,
esta ganha um lugar relevante nas reparties burocrticas, visto que a monarquia de Avis cria um cargo somente com a funo
de assentar a memria do reino. Antes da criao do cargo de cronista-mor, em 1434, que teve como conseqncia a institucionalizao
da histria, j se produzia nos mosteiros portugueses volumosos cronies
8
. Alm desse acervo monstico, tambm anterior ao
projeto de oficializao da histria, surge, no sculo XIV, graas ao esforo do Conde de Barcelos, a Crnica de 1344, primeira crnica
com objetivo universalista elaborada em solo portugus. Entre o sculo XIV e XV, ocorreu uma mudana no olhar que os governantes
davam para a histria, que passou a ser escrita menos intensamente nos mosteiros e mais regularmente nos crculos rgios.
35 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 33-40 1 sem. 2009
se a compilao como o grande recurso para manter a
continuao da verdade e da preservao da moral.
... louvados, santos, e vertuosos eixemplos, e segura
doutrina, que na estria como em vida e imagem se nos
representam smos assi ensinados, que na smente em
nossos erros, e vcios naturaes nos esfriam, e refream
pra com menos lembrana hos obramos, mas ainda
pra as vertudes e craro nome, em tanto amr, e desejo
nos acendem, que com dobrado coraa, e hu vertuosa
enveja nos esforam e obriguam pera conseguirmos a
final tena porque nacemos, que he vivermos sempre
bem, porque moiramos melhor, e acabemos como
devemos.
8
Pela histria, para Pina, somos ensinados a seguir o
curso certo da vida, bem como encontrar os bons
exemplos, santos e louvados, que comportam como uma
segura doutrina. Para viver bem e morrer melhor, a
estoria serve de guia, pois a bondade e a prudncia Divina
a protege. Deus faz a histria e os homens a contemplam
com a finalidade prtica de observar os bons exemplos
para a vida. O offico estrial, como Pina escreve
corresponde, portanto, a uma atividade de contemplao
das excelncias divinas atravs da histria. S existia uma
histria, uma nica verdade, a partir do mesmo ponto
de vista, sem que houvesse mudanas na forma que esta
era sempre reinterpretada. Pina, no prlogo da Crnica
de D. Joo II, faz questo de evidenciar o papel da
histria, ou seja, trazer para o presente os bons exemplos,
sem fantasiar. Sua tarefa dizia respeito imortalizao
na escrita de algo j dado pelo plano divino, impedindo,
assim, que os exemplos passados e as virtudes do rei e do
reino fiquem apagados.
Com efeito, entre os cronistas eclesisticos e leigos
era aceitvel a idia de cpia, pois na atividade do registro
da memria escrevia-se sem a meta de compor um
trabalho fora do modelo textual que j estava sendo
utilizado. Dessa forma, no havia a pretenso de se fazer
um trabalho, nos scriptorium monsticos ou na Torre
do Tombo, original, buscando para todos os fins ser nico
ou precursor de uma nova escrita. A concepo realista,
entender que existia uma verdade pr-existente ao
desdobramento da prpria histria, fundamentava o
procedimento da compilao, isto , retomar aquilo que
j foi escrito indicava um recurso comum para os
cronistas monsticos, senhoriais e oficiais.
At meados do sculo XVII, o historiador tinha por
tarefa estabelecer a grande compilao dos documentos
e dos signos- de tudo o que, atravs do mundo, podia
construir como que uma marca. Era ele o encarregado
de restituir linguagem a todas as palavras encobertas.
Sua existncia se definia menos pelo olhar que pela
repetio, por uma palavra segunda que pronunciava
de novo tantas palavras ensurdecidas. A idade clssica
confere histria um sentido totalmente diferente: o de
pousar pela primeira vez um olhar minucioso sobre as
coisas e de transcrever em seguida, o que em palavras
lisas, neutralizadas e fiis.
9
No sculo XVIII sculo, estabeleceu-se na linguagem
uma ordem renovada, desassociando os elementos,
crenas, fbulas e lendas, dos significados das palavras,
houve uma separao, segundo Foucault, das palavras
e das coisas que a ela antes se referiam. Na Idade Mdia,
diferentemente, atribua-se a palavra uma representao
nica, ela condizia com uma verdade sem qualquer
questionamento de sua natureza. Portanto, conforme
Foucaut, compilar, alm de ter sido uma prtica legtima,
tambm era associado a uma leitura de mundo. A
finalidade do compilador, no momento que realizava sua
cpia era preservar documentos e a prpria linguagem
que moldurava as formas de decodificao das palavras
e do mundo.
10
Essa relao das palavras com as coisas
ilustra uma caracterstica da historiografia medieval, pois
sustenta o estatuto de uma concepo de verdade.
Quanto ao cronista Rui de Pina, ele tinha uma
concepo de compilao que era pactuada por seus
contemporneo. Pina escreve ao irmo do Duque,
dizendo que ele compilou e falsificou documentos a
respeito do rei, afirmando que essa compilao foi falsa
por ter sido criada sem provas concretas, a verdade, ter-
se-ia corrompido em razo de uma mentira. De tal modo,
o cronista traou critrios para considerar os documentos
como verdadeiros ou falsos
11
, visto que ele buscou
9
PINA. Op. cit. p. 889.
9
FOUCAULT, M. As Palavras e as Coisas. So Paulo: Martins Fontes, 2002, p.179.
10
FOUCAULT. Op. cit., p.171-181.
11
PINA. Op. cit., p.904.
36 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 33-40 1 sem. 2009
justificar que os documentos difamatrios da imagem
do monarca, forjados pelo irmo do Conde, no tinham
qualquer correspondncia com a realidade. Assim, nas
prprias crnicas, percebe-se uma concepo realista que
fundamenta o manejo de documentos. Portanto, o labor
cronstico do sculo XV tomou a precauo de partir de
um levantamento de fontes, de materiais que permitem
o resgate do passado. Por isso, evitando falsificar a
histria, ou torn-la mentirosa, Pina, em certas situaes,
pela pouca quantidade de documentos disponveis sobre
os primeiros reis de Portugal, baseou seu ofcio na
compilao de uma nica fonte, na crnica de 1419. No
entanto, as suas primeiras crnicas, de D. Afonso IV e
D. Joo II, tiveram outro ponto de partida, isto , se, por
um lado, as crnicas relativas aos reis da dinastia de
Borgonha so refundies de outras crnicas; por outro
lado Pina, como possua em mos uma diversidade de
documentos a respeito da poca em que vivia e tambm
por presenciar vrios acontecimentos narrados do
reinado de D. Afonso V e de D. Joo II, fez delas um
conjunto diferenciado por um estilo prprio de um
admirador dos reis que ele viu governar.
...El Rey emcomendou e mandou, que com muito
cuidado, e estudo procurassem e defendessem a causa
do Duque, e que por isso lhes faria muita mercee. Foy
fecto, e dado Libello contra ho Duque, que logo pro-
cedeo, com vinte e dous artygos fundados naquellas
cousas em que parecia elle ser culpado; os quaes pelo
Juiz lhe foram logo levados onde estava, e Lydos todos;
de que ho Duque logo mostrou alguma torvaam,
porque na sustncia delles conheceo logo craramente,
que muitas cousas suas eram revelladas, e descubertas,
que elle avia por mui responder, emcomendou a Ruy de
Pina, que era presente, que fosse dizer a El Rey seu
Senhor, que aaquellas cousas nom tynham respostas
mais propria, nem que mais conviesse aa sua grandeza,
vertudes,...
12
Na prpria Crnica de D. Joo II, o cronista Rui de
Pina menciona sua participao nos eventos oficiais,
nesse caso, no julgamento do Duque de Bragana. O
testemunho de Pina colaborou para que essa crnica fosse
preenchida com maiores detalhes e com o uso de vrias
fontes em sua elaborao.
Pina recebeu dois encargos diferentes, primeiro, em
1490, escrever a crnica do governo de D. Afonso IV e
de D. Joo II, posteriormente, em 1513, ele foi respon-
svel pela redao das crnicas de D. Sancho, D. Afonso
II, D. Sancho II, D. Afonso II, D. Dinis e de D. Afonso
IV. Este cronista levou mais tempo para escrever as
crnicas dos reis contemporneos a ele do que para
elaborar as outras crnicas. A diferena no tempo gasto
entre um conjunto de crnicas e o outro de aproxi-
madamente seis anos, essa variao explica-se, segundo
Radulet, pela tipologia da pesquisa histrica imple-
mentada em cada crnica, visto que:
tratando-se de acontecimentos recentes para os
quais existia uma grande quantidade de documentos
de arquivo e de testemunhos directos o cronista teve de
efectuar uma escolha programtica dos materiais,
estrutur--la de maneira orgnica e elaborar esquemas
interpretativos inteiramente originais.
13
Portanto, para essa mesma Radulet, o que explica o
maior tempo investido na redao das crnicas dos reis
contemporneos ao cronista so os procedimentos de
pesquisa, que representam um cuidado com o passado
diferente daquele dado nas crnicas feitas a partir da
compilao de uma nica fonte. A prioridade da com-
pilao era, no caso das crnicas dos reis passados, trazer
uma nova verso, revisada, de uma histria distante. J
na elaborao de uma histria recente outros problemas
podem ser colocados.
Em Pina, bem como em Lopes, perceptvel a di-
ferena na elaborao das crnicas quando elas dizem
respeito a um rei passado ou a um rei contemporneo a
ele. Portanto, dentro da produo oficial portuguesa, v-
se uma diviso clara entre as crnicas dos primeiros reis,
cuja elaborao baseou-se quase que por completo na
compilao, e dos reis contemporneos aos cronistas.
Alm de conseguirem reunir um nmero mais elevado
de fontes por ser uma histria recente, h os laos de
fidelidade entre o cronista e a prpria Dinastia de Avis
que fazem com que as crnicas dos reis contemporneos
tenham um valor diferencial. Uma das marcas da
historiografia a servio do rei a reverncia de cronistas
ao monarca. Dessa forma, a fidelidade construda entre
o rei e o cronista fez das crnicas dos monarcas contem-
12
PINA. Op. cit., p.92.
13
RADULET, M. C. O Cronista Rui de Pina e a Relao do Reino do Congo. Imprensa Nacional-Casa da Moeda, s.d, p.36.
37 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 33-40 1 sem. 2009
plados na obra de um rei contemporneo uma referncia
s glrias recentes de Portugal.
Das coronicas dos primeiros reys de Portugal,
primeiramente Coronica delRey D. Sancho deste nome
ho primeiro, e dos Reys de Portugal ho segundo, dirigido
aho muito Alto, e Excellente, e Poderoso Prncipe ElRey
D. Manoel Nosso Senhor, por Ruy de Pina, seu Coronista
mor, e Fidalguo de sua Caza.
14
Esse o incio do prlogo da Crnica Delrey D.
Sancho I, que anuncia uma concepo linear do governo
dos primeiros reis portugueses. Para Pina, o ltimo rei
seria D. Manoel, que mantinha laos de fidelidade com
esse cronista. D. Manoel aparece com maior destaque
que o rei D. Sancho, monarca que serve de personagem
principal para essa crnica. Os reis passados tm seus
mritos reconhecidos no conjunto de crnicas de Pina,
contudo, os reis do seu tempo, pela fidelidade do cronista
podem ser pensados em um outro conjunto da escrita
oficial do quatrocentos e na obra desse cronista.
Uma das semelhanas entre Crnica de D. Afonso
IV e a Crnica de D. Joo II a contemplao das
perfeyoens de ambos os monarcas, isto , da sabedoria
dos reis na conduo do pas, procurando acima de
qualquer interesse pessoal a paz e a harmonia do reino.
Logo no incio da crnica de Afonso IV, Pina
menciona:
... perfeito Rey, porque logo amou muyto seu povo,
& sempre o regeo com inteyra justia, & o emparou, &
sustentava os malfeytores, contra toda a honestidade,
& conscincia, & justia (...)
15
pera boa, & justa gover-
nana de seus povos, &vassalos, fez muytas, & boas leys,
& ordenaoens, que em seu tempo mandou sempre muy
bem guardar.
16
Percebe-se que Pina, na Crnica de D. Afonso IV,
segue um modelo de escrita semelhante Crnica de D.
Joo II, uma vez que os acontecimentos narrados foram
escolhidos devido proporo por eles adquirida na
consolidao do reino portugus. Comparando ambas
as crnicas, a funo do rei sbio, alm de manter a
estabilidade j alcanada, era tambm aumentar as
glrias da monarquia, garantindo a paz e conservando
o maior nmero de nobres fiis segurana do regno;
nesse sentido, Pina, nessas duas crnicas, procurou
apresentar as glrias alcanadas em diferentes momentos
da histria de Portugal. Contudo, apesar de na construo
da memria dos monarcas, D. Joo II e D. Afonso IV,
eles serem apresentados com propsitos parecidos, h
uma diferena, pois o trato dado por Pina ao passado
revela uma diferena quanto aproximao entre ele e
o rei.
No conjunto de crnicas de Pina, o aspecto emotivo
da fidelidade ao rei parece apagada na histria da
primeira dinastia. Essa mudana no trato do passado,
devida aproximao do rei enfocado na crnica um
aspecto que no se restringe ao trabalho de Pina, ao
contrrio, pode ser notado na produo cronstica desde
o incio da institucionalizao da histria em Portugal
at o limiar do sculo XVI. A despeito dessa dicotomia
rei passado/contemporneo, cabe considerar que as
crnicas de Rui de Pina aproximaram-se do fazer histria
caracterstico do sculo XV, apesar de maior parte da
produo desse cronista pertencer ao sculo XVI. Dessa
forma a obra de Pina, estava de acordo com um modelo
de escrita quatrocentrista, que sofre alteraes em
meados do sculo XVI, quando a escrita movida pela
histria dos reis s faanhas inditas dos portugueses,
ou seja, a expanso martima.
Os Descobrimentos forneceram, entretanto, uma
nova perspectiva sobre a construo da memria. O
grande processo de expanso martima se integrou ao
registro da histria de Portugal, em razo do lugar de
destaque que as navegaes ocuparam na trajetria do
pas
17
. Contudo, Pina e Zurara continuaram com a lgica
de escrita implementada por Ferno Lopes, a aborda-
gem das navegaes realizada por eles foi feita a partir
das normas de escrita j existentes, ou seja, os dois lti-
mos cronistas oficiais trataram a histria de uma ma-
neira bem similar, pensando a expanso martima como
evento quase secundrio, pois o enfoque era a escrita da
conduta moral dos personagens destacados da histria
de Portugal.
Ocorreu, contudo, uma mudana intelectual na
14
PINA. Op. cit., p.9.
15
Idem, p.335.
16
Ibid., p.36.
17
REBELO In: GIL, F. e MACEDO, H. Viagens do olhar. Campo das Letras, 1998, p.175-177.
38 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 33-40 1 sem. 2009
passagem do sculo XV ao XVI principalmente na
percepo de arte, porque, apesar de no quinhentismo
os aspectos ticos e religiosos da escrita da histria no
terem sido alterados, sobretudo na questo moralizante,
surgiram novas preocupaes
18
. Na cultura portuguesa
do sculo XVI, procurou-se uma nova frmula na
relao da arte e da moral
19
(visto que se exige uma
maior probidade intelectual, os conhecimentos dos
letrados se alargam, h uma maior contato com o
florescimento da cultura italiana do momento e apa-
recem os bolseiros del rei, alm da construo em solo
portugus de centros educacionais voltados para o en-
sino da retrica, dialtica e do latim.
Durante o reinado de D. Joo II, tornou-se mais
freqente o contato entre humanistas italianos com os
portugueses, o que mais possibilitou essa troca cultural
foi a iniciativa rgia de se aproximar do conhecimento
humanista, uma vez que os descobrimentos abriram
contatos de Portugal com o resto da Europa. A chegada
s ndias foi um passo importante dado pela nao
portuguesa para mudar sua viso sobre a arte e buscar
uma reforma profunda do estilo de se fazer o registro da
histria. O contato com a Itlia despertou a curiosidade,
a vontade pelo novo e a necessidade de alterar a expresso
artstica.
Essa mudana na forma de enxergar a arte contribui
decisivamente para que Damio Gis acusasse Rui de
Pina de ter roubado os mritos de escrita de Ferno Lopes.
Gis, na Crnica de Dom Manuel, critica a compilao
feita por Rui de Pina de parte da obra de Ferno Lopes,
inclusive da Crnica de D. Afonso IV, contudo a prtica
da compilao que deixa de ser to corrente no sculo
XVI era imprescindvel para os cronistas do quatro-
centos. Levando em considerao as prticas utilizadas
pelo cronista Rui de Pina no se pode dizer que ele ao
compilar tinha inteno de roubar o mrito literrio de
Lopes como mencionou Damio de Gis.
Em razo da formao de Pina dentro da Corte e sua
grande aproximao da forma como Zurara e Lopes
faziam a histria, a escrita desse cronista perpetuou traos
de uma poca para a escrita da histria iniciada no
comeo do sculo XV. J, no sculo seguinte, Barros,
cronista da expanso martima, trouxe para a escrita da
histria portuguesa novos contornos e influncias e, a
partir dele, comea uma nova formao para os homens
que assentavam a memria da nao. Damio de Gis,
por sua vez, pelo fato de estar em outro momento da
historiografia portuguesa, bem como por gozar de uma
nova formao dos homens das letras, cria um dilogo
com a escrita de Pina. A partir das crticas tecidas por
Gis a Pina, percebe-se, pois, a consolidao de outra
tradio. Vale lembrar que h, segundo Radulet, uma
grande possibilidade de Pina no ter sequer tomado
conscincia de que o material que ele utilizava na
refundio da histria dos primeiros reis de Portugal era
de Lopes
20
.
Nota-se uma lgica de escrita comum aos trs pri-
meiros cronistas, a forma como eles fizeram a histria
sustenta-se em procedimentos semelhantes. Lopes
compilou da crnica de 1344 para guardar a memria
dos reis passados, todavia, na elaborao da crnica de
D. Joo I, rei contemporneo a esse cronista, ele abusa
de suas qualidades de historiador, submetendo a hist-
ria dessa crnica a um enredo complexo, propondo uma
histria legitimadora
21
do Mestre de Avis. Lopes consultou
os arquivos com a finalidade prtica de fazer uma
histria exata do processo histrico que levou a Dinastia
de Avis sua consolidao no cenrio nacional. Assim
Lopes fundamentou sua obra em materiais do Arquivo
Rgio e em testemunhos orais da poca, articulando
vrias fontes para efetuar seu trabalho.
Os cronistas oficiais dos Quatrocentos selecionavam
os assuntos de suas crnicas de acordo com a magnitu-
de dos fatos na histria de Portugal, revelando uma pre-
ferncia pelas glrias recentes. Em suma, os cronistas
empreenderam duas formas de se tratar o passado:
documentar a histria dos reis passados e enaltecer a
memria dos monarcas recentes. D. Duarte, ao oficializar
a histria, revela um interesse pela reconstituio do
passado nacional, da histria de um povo vitorioso na
revoluo de 1383-1385.
Cap. VIII. De como se tratou ho casamento do
Imfante D. Pedro com a Ifamte D
a
Costama Manuel.
A este tempo elRei D. Afomso de Portugual, por este
trato que a Rainha D
a
Maria sua filha recebia del Rei de
18
Estudos sobre a cultura portuguesa do sculo XVI. Lisboa: Por ordem da Universidade, 1949.
19
CARVALHO, J. Estudos sobre a cultura portuguesa do sculo XVI. Lisboa: Por ordem da Universidade, 1949. p. 2.
20
RADULET. Op. cit.
21
SERRO, J. V. A Historiografia portuguesa. Lisboa: Verbo, 1972, p. 57.
39 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 33-40 1 sem. 2009
Castdla seu marido, era posto em muito cuidado e
gramde semtimemto, espicallmemte que com gramdes
roturas e periguos, em caso que hamtre eles ouuese,
ajmda ho remedyo era douidoso. E por isto, nom menos
o hafortunaua ho dezejo que tinha de uer casado seu
filho que auya j XVII annos.
22
Como se contratou o casamento do Infante D. Pedro
com a Infanta Dona Constana Manoel.
Neste tempo el Rey D. Afonso de Castella seu marido
era posto em muyto cudado, & grande sentimento, espe-
cialmente que com grandes roturas, & perigo em cazo
que antre elles os ouvesse, ainda era duuidoso.
E apos isto no menos o afortunava o desejo que
tinha de ver casado seu filho que via j desasete
annos...
23
O primeiro trecho corresponde Crnica de D.
Afonso IV de Ferno Lopes e o outro uma parte da
Crnica de D. Afonso IV de Rui de Pina. Pina compilou
da obra de Lopes, reproduzindo um texto cuja primeira
elaborao no lhe pertencia. No sculo XVI, Damio
de Gis ao acusar Pina de ter usurpado os mritos
literrios do cronista Ferno Lopes, esquecendo-se de que
a compilao foi livremente utilizada entre os cronistas
oficiais quatrocentristas e nem colocando em questo
que as crnicas dos primeiros reis de Portugal de Ferno
Lopes tambm foram compiladas. Lopes refundiu partes
da Crnica de 1344 que j tratavam de uma histria
exclusiva dos monarcas portugueses. Dos casos de
compilao da cronstica oficial do sculo XV, o conjunto
de crnicas dos reis passados de Pina pode ser visto como
o que mais se apropriou do recurso da refundio para
documentar a histria, uma vez que nos episdios de
compilao dos outros dois cronistas no se percebe a
mesma intensidade na reproduo de outro texto. mais
incomodativa a compilao em Pina para os historiadores
do Quinhentos, porm, isso no justifica o fato de ele ser
considerado um plagiador, antes desse sculo a cpia
parcial ou quase total estava legitimada pelos proce-
dimentos de escrita utilizados. O termo plgio ou a acu-
sao de plgio chega a ser anacrnia quanto se refere
ao labor de Rui de Pina, pois os mecanismos que
efetuavam seu ofcio eram prticas correntes.
No sculo XV, a retomada da Crnica de Afonso IV
por Pina teve um valor documental, o ofcio desse cronista
preservava a memria do povo portuguesa, por isso,
havia a preocupao de escrever-se sobre a histria dos
reis passados, contudo, a crnica de D. Joo II, alm do
carter documental expressa o carisma que Pina reco-
nhece no rei D. Joo II. O labor cronstico do sculo XV
mostra este trato do passado: de um lado, crnicas com-
piladas com o papel de lembrar as primeiras histrias da
formao do reino portugus, de outro, crnicas que re-
gistram, segundo os cronistas, o auge da histria de
Portugal, isto , o presente deles. Em Lopes, o governo
de D. Joo I abre a Stima Idade, poca, segundo Rebe-
lo, de quietude e repouso, na qual Deus e o homem
descansam
24
. Pina, na crnica de D. Joo II, apesar de
no ter o mesmo labor de Lopes destaca em sua obra a
serventia do rei D. Joo II para a solidificao do poder,
num momento em que o curso das navegaes come-
ava. A histria dos reis contemporneos possui uma
importncia legitimadora maior que a histria dos reis
passados, pois, alm transparecerem a fidelidade deles
com os reis, os cronistas, Lopes e Pina, nas crnicas
registradas pela primeira vez, assumem o compromisso
de deixar para a posterioridade o que se passou naquela
poca. Eles so os primeiros a imortalizar os aconte-
cimentos daquele perodo e reconhecendo de alguma
forma o valor do material que estavam criando, busca-
ram sempre enxergar as proezas em detrimento dos
fracassos dos governos do seu tempo.
Deste modo, a diferena entre a Crnica de D. Afonso
IV e a Crnica de D. Joo II diz respeito a uma variao
de mtodo, isto , muda-se a forma de organizao dos
documentos utilizados na composio de cada crnica.
A Crnica de D. Afonso IV que foi compilada de uma
crnica de Ferno Lopes sendo um material que cuja
temtica e forma de escrita aproxima-se do original,
contudo a outra crnica aqui abordada no se refere a
uma nica fonte. Assim, apesar dos temas entre ambas
as crnicas serem semelhantes h uma diferena quanto
ao trato dado ao passado.
Alm disso, o cronista Rui de Pina estava autorizado
a refundir parte do trabalho de Lopes, pois a compilao
22
Crnica dos Sete Primeiros Reis de Portugal, ed. crtica de Carlos da Silva Tarouca, 3 vols. Lisboa: Academia Portuguesa da Histria,
1952, p.171.
23
PINA. Op. cit., p.356.
24
REBELO, L. de S. A concepo de poder em Ferno Lopes. Livros Horizonte, 1983, p.65.
40 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 33-40 1 sem. 2009
mostrou ser uma prtica usada livremente pelos cro-
nistas do Quatrocentos. A compilao foi o principal
recurso que Pina utilizou na montagem da Crnica de
D. Afonso IV, j a escrita da Crnica de D. Joo II revela
na sua estrutura uma combinao mais complexa dos
documentos, mostrando tambm a relao de afetividade
entre o cronista e o prprio monarca.
Referncias
Fontes:
Crnica de Cinco Reis de Portugal, ed. diplomtica de A.
Magalhes Basto. Porto: Liv. Civilizao, 1945.
Crnica dos Sete Primeiros Reis de Portugal, ed. crtica de
Carlos da Silva Tarouca, 3 vols. Lisboa: Academia Portuguesa
da Histria, 1952.
PINA, R. de. Crnicas, ed. M. Lopes de Almeida. Porto: Lello
& Irmo, 1977.
______. Crnica de El-Rei D. Joo II. Coimbra: Atlntida,
1950.
Bibliografia:
AMADO, T. Ferno Lopes contador de histria. Sobre a
crnica de D. Joo I. Lisboa: Estampa, 1991.
BARRETO, L. F. Os Descobrimentos e a ordem do saber.
Lisboa: Gradiva: 1989.
BASTO, A. M. Estudos: Cronistas e Crnicas Antigas. Ferno
Lopes e a Crnica de 1419. Coimbra: Oficinas Atlntida. 1960.
CARVALHO, J. Estudos sobre a cultura portuguesa do
sculo XV. Lisboa: Por ordem da Universidade, 1948.
______. Estudos sobre a cultura portuguesa do sculo XVI.
Lisboa: Por ordem da Universidade, 1949.
DIAS, J. S. Os descobrimentos e a problemtica cultural do
sculo XVI. Lisboa: Presena, s.d.
FRANA, S. S. L. Os Reinos dos Cronistas Medievais. So
Paulo: Annablume, 2006.
FOUCAUL. M. As Palavras e as Coisas. So Paulo: Martins
Fontes, 2002.
GIL, F. e MACEDO, H. Viagens do olhar. Campo das Letras,
1998.
GOMES, R. C. A Corte dos reis de Portugal no Final da Idade
Mdia. Lisboa: Difel, 1995.
GUENE, B. O Ocidente nos sculos XIV e XV. Os Estados.
So Paulo: EDUSP, 1971/1981.
______. Histoire et culture historique dans loccident
mdival. Paris : Aubier Montaigne, 1980.
______. Chancelleries et monastres. La mmoire de la
Frence au Moyen ge. In : Les Lieux de mmoire. Paris:
Gallimard, 1997, p.587-606.
LANCIANI, G e TAVANI, G. Dicionrio da Literatura
Medieval Galega e portuguesa. Lisboa: Caminho, 1993.
LOYON, H.R. Dicionrio da Idade Mdia. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 1997.
MARQUES. A. P. A historiografia dos descobrimentos e
expanso portuguesa. Coimbra: Livraria Minerva, 1991.
MARQUES, O.A.H. A Expanso quatrocentrista. Lisboa:
Estampa, 1998.
______. A sociedade medieval portugus. Lisboa: S da
costa, 1971.
RADULET, M. C. O Cronista Rui de Pina e a Relao do Reino
do Congo. Imprensa Nacional-Casa da Moeda, s.d.
REBELO, L. de S. A concepo de poder em Ferno Lopes.
Livros Horizonte, 1983.
SERRO, J. V. A Historiografia portuguesa. Lisboa: Verbo,
1972.
VENTURA, M. G. O Messias de Lisboa. Um Estudo de
Mitologia Poltica Medieval (1383-1415). Lisboa: Cosmo,
1992.
41 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
Introduo
Neste artigo, procuramos sondar o uso de elementos
potencialmente heterodoxos (ou contrrios ortodoxia
crist) em Prosopopia
1
, exemplar retrico-potico de
teor encomistico atribudo a Bento Teixeira
2
, e na obra
satrica atribuda a Gregrio de Matos Guerra (fazendo
uma seleo de poemas profcuos a esta pesquisa). Em
termos gerais, so trs as justificativas desta escolha: (1)
poderemos problematizar o uso de tais referncias em
ambas as vertentes do gnero epidtico
3
(encmio e
vituprio); (2) devido presena de um alto teor de
imagens, conceitos e smbolos em voga nos sculos XVI/
XVII da Amrica portuguesa que, originalmente,
contrariam a dogmtica crist; (3) optamos por tra-
balhar com Bento Teixeira e Gregrio de Matos por
ambos tratarem de temticas diversas e, ao mesmo
tempo, por terem vivido e produzido sob a custdia de
Manuteno da ordem: (re)contextualizao de
tpi cas mitolgicas luz de uma economia crist*
Cleber Vinicius do Amaral Felipe
Graduando do Instituto de Histria da Universidade Federal de Uberlndia (UFU).
E-mail: clebervafe@gmail.com
Resumo
Neste artigo, buscamos mapear a utilizao de figuras de
ornato (incluindo representaes mitolgicas, herticas e
pags) e tpicas de inveno (entendidas como
construes poticas recorrentes e usuais) em
Prosopopia, obra atribuda a Bento Teixeira, e nas stiras
atribudas a Gregrio de Matos Guerra. Ocupamo-nos,
mais detidamente, em sondar elementos engenhosos que,
por sua origem pag ou potencialmente hertica,
poderiam contrariar os dogmas cristos, mas que, ao
serem (re)contextualizados e (re)significados, passam a
ser aceitos e aprovados pelas autoridades competentes do
Imprio portugus e da Igreja Catlica.
Palavras-Chave: Prosopopia. Gregrio de Matos.
Heterodoxia. Representao.
Abstract
In this article, we search to map the use of figures of
ornament (including mythological, heretical and pagans
representations) and topical invention (understood as
recurrent poetic and usual constructions) in Prosopopia,
text assigned to Bento Teixeira, and the satire attributed
to Gregrio de Matos Guerra. Dealing us more depth in
sound ingenious elements which, in its essence, go against
to Christians dogma, but, to be (re)contextualized and
(re)meanings, will be accepted and approved by the
competent authorities, namely: portuguese Empire and
the Catholic Church.
Keywords: Prosopopia. Gregrio de Matos.
Heterodoxy, Representation.
* Este artigo resultado parcial da pesquisa de Iniciao Cientfica Em defesa da ordem: potica epidtica e saberes heterodoxos.
Amrica portuguesa (1580-1750), de n: G-047/2008, financiada pelo PIBIC/CNPq/UFU, que compe o projeto Retrica, Potica
e Representao Poltica na Amrica Portuguesa (sculos XVIXVIII), coordenado pelo Prof. Dr. Guilherme Amaral Luz, com
auxlio da FAPEMIG.
1
Sua primeira edio data de 1601, mas provvel que esta obra j se encontrasse em circulao desde a dcada de 1580.
2
A autoria, no caso de Prosopopia, controvertida e imprecisa na fortuna crtica da obra. No tomamos posio no que diz
respeito identidade de Bento Teixeira, dado que sua relevncia no significativa na presente anlise. Para aqueles que buscam
discusses a respeito do autor, sugere-se: VERSSIMO, J. Histria da Literatura Brasileira: de Bento Teixeira, 1601 a Machado de
Assis, 1908, Braslia: Editora da Universidade de Braslia, 1981; ABREU, J. C. de. Ensaios e estudos: crtica e histria, Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 1975; CASTELLO, J. A. Manifestaes Literrias no Perodo Colonial (1500-1808/1836), So Paulo:
Cultrix, 1981.
3
O discurso epidtico caracteriza-se por seu objetivo de louvar valores e atitudes considerados nobres (encmios) ou censurar aqueles
considerados vis (vituprio), a fim de persuadir seu auditrio a compartilhar de um mesmo ethos e orientar suas atitudes e valores.
Ver: REBOUL, O. Introduo retrica. So Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 43-54.
42 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
um sistema scio-poltico semelhante, no esteio do
Antigo Regime.
Feitas tais consideraes, daremos contorno pro-
blemtica central deste artigo: perceber as possveis
formas de interao entre a dogmtica crist que
fornece princpios e elementos para a representao
teolgico-poltica do Estado Moderno e referncias que,
de alguma forma, poderiam contrari-la, como o caso
de recursos retricos vinculados a tradies pags,
judaicas ou herticas. A partir deste trabalho, almejamos
sondar os sentidos historicamente verossmeis da mobi-
lizao potica dessas referncias em textos que no
circularam marginalmente em seu espao/tempo, mas,
pelo contrrio, foram editados com todas as autorizaes,
seja da coroa luso-espanhola seja do Santo Ofcio.
Reflexo historiogrfica
Segundo Laura de Mello e Souza, desde o Descobri-
mento, teorias (apreciativas ou depreciativas) pautadas
no miraculoso, no sobrenatural e no maravilhoso
circundavam as colnias portuguesas na Amrica
4
.
Assim, a novidade acomodava representaes que
articulavam o estranho e o nunca antes visto com as
projees imaginrias (fossem monstruosas ou ednicas)
familiares cristandade europia. No obstante, o
imaginrio social da passagem do sculo XVI ao XVII
parece comportar manifestaes das novidades, apesar
de resguardar os valores tradicionais que lhes do sentido.
De acordo com Maravall, o perodo que se convencionou
chamar de barroco
5
(1600-1680) cultivava e exaltava
as novidades. Convencido da atrao exercida pelo
extraordinrio, o autor afirma que o barroco oferecia
um ambiente propcio para a profuso do novo, do
extravagante, recepcionado de formas diversificadas:
o novo agrada, o nunca antes visto atrai, a inveno
que estria embeleza; mas todas as aparentes audcias
sero permitidas desde que no afetem a base das
crenas sobre as quais se assenta a estrutura social da
monarquia absolutista; ao contrrio, servindo-se des-
sas novidades como veculos, introduz-se mais facil-
mente a propaganda persuasiva a favor do estabe-
lecido.
6
Neste ambiente ambguo, em que a novidade convive
com o status quo e ainda o serve, h que ser pensado o
uso de elementos pagos (quando no judaicos ou
herticos) em obras poticas quinhentistas e seiscen-
tistas, ainda mais quando se considera um perodo em
que a tradio cultural greco-latina goza de enorme
prestgio nos meios letrados da Europa e de suas perife-
rias. No se trata aqui, evidentemente, de tolerncia das
autoridades crists no que se refere a saberes poten-
cialmente indesejveis ou herticos. Recorrer s fbulas
clssicas no constituia, necessariamente, um perigo
para a ortodoxia crist dos sculos XVI e XVII, salvo
nos casos em que o fiel se deixava levar pelas crendices
pags, rompendo os laos com a ordem crist. A Igreja
aceitava e mesmo fazia uso dessas manifestaes ex-
teriores, mas sob viglia constante. Delumeau refora este
argumento quando afirma que:
Como o cristianismo tinha impregnado quinze s-
culos de histria europia, a mitologia j no podia ser
seno um lbum de imagens, de resto singularmente
rico, e um repertrio de alegorias. Os deuses tinham
abandonado os templos.
7
Esses elementos pagos, ao serem interpretados como
linguagem metafrica ou, antes, como formas simb-
licas de reconhecimento, no constituam mais qualquer
perigo, agindo como acessrios ornamentais com obje-
tivo de deleitar os leitores mais instrudos (ou discretos
8
)
que, conhecendo as fbulas, conseguiriam interpretar as
mensagens implcitas ou alegricas nelas veiculadas
4
SOUZA, L. M. O Diabo e a Terra de Santa Cruz, So Paulo: Companhia das Letras, 1986, p. 44.
5
O barroco, na concepo do autor, no designa conceitos morfolgicos ou estilsticos, repetveis em culturas cronolgica e
geograficamente separadas. Trata-se de um conceito de poca, que se estende, em princpio, a todas as manifestaes integradas na
cultura da mesma. Essa definio visa alcanar um conhecimento o mais sistemtico possvel de cada um dos perodos que submete
a estudo, sem que com isso renuncie a compar-los, depois, com todo rigor. Ver: MARAVALL, J. A. A cultura do Barroco: Anlise de
uma Estrutura Histrica, So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo, 1997, pp. 42-49.
6
Idem, p. 356.
7
DELUMEAU, J. A Civilizao do Renascimento, volume 1, Lisboa: Editorial Estampa, 1984, p. 119.
8
Hansen identifica duas formas de destinatrios: o discreto e o nscio. O discreto distingue-se pelo engenho e pela prudncia, que
fazem dele um tipo agudo e racional, capacitado sempre para distinguir o melhor em todas as ocasies. O nscio, ou vulgo, designa
indivduos com falta de juzo, rstico ou confuso. Trata-se, portanto, de uma oposio intelectual, cujo critrio fundamental a
agudeza. Ver: HANSEN, J. A. A stira e o engenho: Gregrio de Matos e a Bahia do sculo XVII, So Paulo: Ateli Editorial,
Campinas: Editora da Unicamp, 2004, pp. 93-103.
43 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
luz de uma economia crist
9
. A ortodoxia, portanto,
admite a sobrevivncia de manifestaes heterodoxas que
a moral crist, por outro lado, poderia desaprovar ou
desacreditar. Esses elementos, desativados de sua po-
tencialidade original e re-contextualizados, so manu-
seados pelo prprio cristianismo
10
.
Admitimos, como hiptese, que dogmas ortodoxos e
elementos heterodoxos, quando ocupam o mesmo ce-
nrio no campo potico, podem interagir de maneiras
diferenciadas: podem implicar excluso recproca, se sua
interao for tomada como intolervel; podem se con-
fundir e, por acrscimo, obscurecer o provvel sentido
atribudo pelo poeta; podem se separar, como lugares
distintos ou divergentes; podem se confundir na forma
de alegorias ou simbolismos complexos, em que um
sentido prevalece sobre o outro. Em todos esses casos,
sejam incompatveis ou sincrnicas, as figuras e tpicas
elegidas podem determinar a eficcia potica e, no mais
das vezes, provar, por efeito de amplificao, a lio
moral transmitida pelo poeta. No caso da poesia con-
tempornea Bento Teixeira e Gregrio de Matos, pa-
rece prevalecer esta ltima forma de interao que
apresentamos (apesar de no podermos excluir as
outras). Nela, vemos algo de semelhante ao que afirma
Jean Starobinski, quando prope que:
Sendo o mundo da fbula, por decreto do poder
espiritual, um mundo profano, sem verdadeiro contedo
sagrado, no pode haver blasfmia nem lesa-majestade
quando o desfiguramos
11
.
Bianca Morganti, em sua dissertao Mitologia nOs
Lusadas: balano histrico-crtico, analisando a fortuna
crtica de Os Lusadas, especialmente a controvrsia
envolvendo o uso da mitologia na epopia crist, admite
duas formas de recepo: o auditrio poderia acolher a
obra de bom grado, considerando as figuras mitolgicas
como acessrios eruditos e ornamentais que geravam
deleite e acentuavam a agudeza do poema, deixando-o
solene; por outro lado, o pblico poderia critic-la,
aludindo natureza potencial dos mitos e, portanto,
contraditrios mstica crist
12
. O controle dessa
polissemia denota ambigidade quanto ao uso da
mitologia no interior de uma cultura crist.
por esta razo que devemos nos preocupar com a
retomada e com a legitimidade de tpicas e referncias
poticas e textuais. O percurso entre o posicionamento
de quem escreve e a acepo de quem l pode assumir
vias diversas, que variam entre caminhos certeiros e
oblquos, traados conforme a interpretao do objeto
(l-se texto). Optamos, especificadamente, por mapear
e analisar algumas das apropriaes de elementos
heterodoxos, conduzidas tanto por Bento Teixeira
quanto por Gregrio de Matos, para, ento, poder
inquirir a respeito de seus efeitos, naturais poesia dos
sculos XVI e XVII.
A retrica em Prosopopia:
discusses e resultados
No domnio da inveno retrico-potica, Bento
Teixeira emula modelos prprios da tradio clssica;
isto : ao mesmo tempo, imita-os e procura super-los,
recorrendo a argumentos que intencionam aproximar
os modelos prestigiosos antigos da trajetria histrica do
Imprio catlico lusitano. A verossimilhana da narra-
tiva depende dos recursos estilsticos e das tpicas
retricas elegidas pelo aedo. Um desses recursos, estra-
tgico em seu exrdio, , por exemplo, quando o poeta
assume uma posio de modstia afetada, adquirindo
confiabilidade, como veremos adiante, sob a mscara
do rstico, por traz da qual o autor mostra-se incapaz
de fingir, dissimular ou florear a verdade, seja no domnio
da elocuo seja na capacidade de mentir convin-
centemente.
No prlogo, arquitetando a dedicatria a Jorge
dAlbuquerque, Bento Teixeira faz aluso implcita Ars
Poetica horaciana: sua inteno comparar a forma
com a qual poetas e pintores lidam com seus ins-
trumentos de trabalho. No caso dos pintores, um
9
Delumeau nos lembra que as imagens retiradas das fbulas antigas produziam ensinamentos que podiam ser traduzidos em duas
linguagens diferentes: a da Antiguidade greco-romana e a do cristianismo. Este ltimo caso o mais recorrente e, segundo o autor,
a Igreja estava longe de reprov-lo. A Europa do Renascimento, dessa forma, se paganizou e descristianizou menos do que durante
muito tempo se pensou. Ver: DELUMEAU, J. A Civilizao do Renascimento, volume 2, Lisboa: Editorial Estampa, 1984, p. 116.
10
Ver: STAROBINSKI, J. As mscaras da civilizao: ensaios. So Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 237.
11
Idem, p. 244.
12
Interpretar tpicas retricas como fato postular a obra como expresso, o que causa conflito em termos de aceitao. Essas figuras
desempenham papel lexical e, habitualmente, so traduzveis, contando com leitores discretos capazes de fazer essa mediao. Se
os artifcios retricos no forem compreendidos, o discurso perde sua eficcia potica. Ver: HANSEN, J. A. A stira e o engenho:
Gregrio de Matos e a Bahia do sculo XVII, So Paulo: Ateli Editorial, Campinas: Editora da Unicamp, 2004, p. 34.
44 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
rascunho antecede a concluso da obra, como um pr-
requisito artstico. O autor de Prosopopia, acatando a
essa idia, considera que sua obra um rascunho que,
posteriormente, com o consentimento do Governador
de Pernambuco, seria aperfeioada e ampliada, alme-
jando compor um retrato potico original e completo.
Ao assumir uma posio modesta, como que diminuindo
sua imagem perante a do heri, Bento Teixeira apela
para a boa vontade do homenageado, que deveria
valorizar a inteno do presente e no as formas e o
seu contedo. Neste caso, h duas tpicas em jogo: a
persona do rstico, que lugar de humildade adequado
s circunstncias hierrquicas entre o aedo e o heri
13
, e
um lugar de amizade, prprio dos encmios, a partir do
qual mais se valoriza o motivo da oferta (o desejo ou a
obrigao de agradar ou servir) do que o prprio resultado
final da obra. Em ambas, o que se busca , pelo ethos do
orador/aedo, a docilidade do leitor/ouvinte, sustentando
uma relao de cumplicidade, e sua boa disposio para
o que est a ser narrado.
Assumindo a modstia afetada, o poeta rstico exige
um leitor necessariamente discreto
14
, onde a persona do
orador/aedo assume, ao mesmo tempo, duas posies:
uma inferior (indicando suposta deficincia ou incom-
pletude em relao ao leitor discreto) e outra superior
(e, portanto, apreciativa, indicando possuir a humildade
que falta aos poetas vaidosos que, louvando heris, bus-
cam as glrias somente para si). Este lugar humilde,
entendido como um lugar-comum em que o orador
assume uma modstia afetada, alm de configurar um
ethos favorvel ao orador/aedo, ao mesmo tempo, am-
plifica a grandiosidade dos feitos a serem narrados.
Outro artifcio utilizado pelo autor, para oferecer
autoridade e veracidade narrativa, diz respeito a uma
fronteira que demarca o lugar dos homenageados e o
lugar dos heris antigos. Sua inteno enaltecer os
Albuquerques, enquanto modelos exemplares, ao con-
trrio dos heris clssicos que integram uma narrativa
supostamente irreal ou fabulosa. Afirmando a superio-
ridade de seus homenageados, em comparao com os
antigos, o poeta similarmente se coloca acima dos poetas
pagos, uma vez que a suposta preciso de seus relatos
oferece ao discurso algo que os antigos, em meio a
narrativas fantsticas e sobrenaturais, no teriam conse-
guido alcanar: a verdade.
Logo no incio do exrdio cujo objetivo tornar o
auditrio dcil (em situao de compreender e aprender),
atento e benevolente Bento Teixeira deixa claro seu
posicionamento em relao aos poetas antigos:
Cantem Poetas o Poder Romano,
Submetendo Naes ao jugo Duro;
O Mantuano pinte o Rei Troiano,
Descendo confuso do Reino escuro;
Que eu canto um Albuquerque soberano,
Da F, da cara Ptria firme muro,
Cujo valor e ser, que o Ceo lhe inspira,
Pode estancar a Lcia e Grega lira.
(Bento Teixeira, Prosopopia, Canto I)
maneira de Cames, o aedo de Prosopopia elege,
portanto, lugares distintos para poetas antigos e
modernos, deixando claro duas vantagens dos segundos
sobre os primeiros: a veracidade dos fatos narrados (ao
contrrio das fbulas pags) e a superioridade moral
dos seus heris: seja pela sua natureza crist ou pelo seu
altrusmo, que os transforma em um nobre modelo pa-
tritico, essencial na expanso e defesa do Imprio
lusitano. Estes feitos, nobres e verdicos, podem estan-
car os feitos gregos e latinos.
Segundo os padres picos, as fbulas dos antigos
so evocadas para sustentar/reforar um determinado
argumento-tipo ou juzo moral, atribuindo-lhe consis-
tncia e veracidade
15
. Sua funo incrementar um
13
A persona rstica, segundo Alcir Pcora, favorece a que a qualificao de sua autoridade para dizer o que diz repouse mais em sua
boa inteno de dizer a verdade e dar ao homenageado os atributos a que faz jus, do que na exata maneira de diz-lo, na justeza de
sua elocuo diante da prescrio elevada do gnero. PCORA, A. A histria como colheita rstica de excelncias. In: As
excelncias do governador: o panegrico fnebre a d. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia, 1676). So Paulo: Companhia
das Letras, 2002, p. 63.
14
Hansen afirma que os tipos do discreto e do vulgar funcionam como mecanismos polticos de constituio de unidades de excelncia
e de no-unidades viciosas. A discrio implica a tcnica da agudeza e, por extenso do saber agir conforme as circunstncias.
Sendo assim, o discreto deve saber simular e dissimular: a dissimulao entendida como uma tcnica de fingimento moralmente
virtuoso que oculta o que realmente existe, enquanto a simulao finge a existncia do que no h. Ver: HANSEN, J. A. O
Discreto. In: NOVAES, A. Libertinos e libertrios. So Paulo: Companhia das Letras, 1996, pp. 77-102.
15
necessrio considerar as limitaes tanto da narrativa histrica quanto das narrativas literrias sem, necessariamente, confundi-
las ou hierarquiz-las, e reconhecer o apoio mtuo (e metdico) que uma pode oferecer outra. Ver: PCORA, A. Mquina de
gneros, novamente descoberta e aplicada a Castiglione, Della Casa, Nbrega, Cames, Vieira, La Rochefoucauld, Gonzaga, Silva
Avarenga e Bocage, So Paulo: EdUSP, 2001, pp. 14-15.
45 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
discurso atribuindo-lhe autoridade e eloqncia. A in-
vocao das Musas
16
um artifcio comumente encon-
trado em epopias da Antigidade, como o caso das
obras de Homero e Virglio. Sua funo potica oferecer
acesso s realidades originais, recuperando aconteci-
mentos primordiais
17
. Em Prosopopia, tal invocao
assume diferentes tons:
As Dlficas irms chamar no quero,
Que tal invocao vo estudo;
Aqule chamo s, de quem espero
A vida que se espera em fim de tudo.
le far meu Verso to sincero,
Quanto fra sem ele tosco e rudo,
Que per rezo negar no deve o menos
Quem deu o mais a mseros terrenos.
(Bento Teixeira, Prosopopia, Canto II).
O autor dispensa os servios das musas, assumindo
que essa invocao resulta em vo estudo. Sua proposta
oferecer a verdade, e no narrativas fabulosas e
inverossmeis. A energia potica da verdade, nesse
sentido, superaria o fingimento ficcional dos antigos
versos. Bento Teixeira, por isso, requisita a ajuda de Deus,
entidade suprema do Cristianismo, que daria acesso s
verdades histricas. A interao entre dois elementos
potencialmente contraditrios no oferece aos versos,
necessariamente, um teor conflituoso. Recusar a auto-
ridade das musas amplia a importncia de Deus en-
quanto nico ser detentor de todas as verdades. Se a
eficcia dos versos de Prosopopia depende da sua
veracidade, dispensar as Dlficas irms e invocar o Deus
cristo evita que o poema se torne tsco e rudo.
No campo da elocuo avaliando a redao do
discurso e as figuras de estilo Bento Teixeira enaltece
a figura dos Albuquerques, remetendo a antigos per-
sonagens ilustres, reconhecidos como modelos tradi-
cionais dignos e renomados
18
. Existe, portanto, uma
correlao entre dois tempos: o tempo mtico do heri e
o tempo contemporneo obra. As virtudes dos vares
portugueses, homenageados de Prosopopia, so
espelhadas em personagens cujos feitos, imortalizados,
ecoam com o passar das geraes. No entanto, faz-se
necessria uma ressalva: essas qualificaes picas,
realizadas por meio de comparaes, aluses, analogias,
atuam como figuras de elocuo (lxis), cujo intento
enobrecer a figura dos Albuquerques e, ao mesmo tempo,
estabelecer modelos que sirvam de referncia para os
leitores coevos. A eficcia dessas figuras simblica, uma
vez que a comparao respeita aos padres tradicionais,
enfatizando as virtudes hericas prprias dos perso-
nagens picos, e no ao indivduo por trs do heri:
Outro Troiano Pio, que em Dardnea
Os Penates livrou e o padre caro;
Um Pblio Cipio, na continncia;
Outro Nestor e Fbio, na prudncia.
(Bento Teixeira, Prosopopia, Canto XXVII)
Duarte Coelho possui suas virtudes espelhadas nos
antigos: apresenta a continncia de Pblio Cornlio
Cipio (236 a.C. 183 a.C.), general romano virtuoso,
smbolo de coragem e perseverana blica, caractersticas
que lhe renderam reconhecimento mtico. Em seguida,
Duarte comparado a Nestor
19
e a Quinto Fbio Mximo
(275 a.C. 203 a.C.), no quesito prudncia: o primeiro
um cone homrico: pea fundamental na empresa
dos gregos contra os troianos; o segundo teria sido grande
estrategista blico, cujo faro na batalha debilitou moral
e fisicamente Anbal e seus exrcitos durante a Segunda
Guerra Pnica. Esses personagens exercem uma funo
dupla no poema: como modelos memoriais, enaltecem
as qualidades de Duarte Coelho, pois so personagens
virtuosamente qualificadas; como figuras de elocuo,
16
Filhas de Zeus e da deusa Memria, as nove musas (Glria, Alegria, Festa, Danarina, Alegra-coro, Amorosa, Hinria, Celeste e
Belavoz) habitam o monte Parnaso, em Delfos. Sua natureza proftica constantemente requisitada pelos poetas da antiguidade.
Elas agiam como intermediadoras entre os homens e os deuses. Ver: ELIADE, M. Mito e Realidade. So Paulo: Perspectiva, 1972,
pp. 107-112.
17
Idem, p. 110.
18
A eficcia de Prosopopia dependia da capacidade do aedo em mobilizar, tanto como um orador, lugares comuns retricos, ou
tpicas de inveno, para usar um vocabulrio mais tcnico. Este aedo necessita imortalizar as personagens, enumerando e
qualificando suas virtudes e, dependendo do engenho potico, oferecendo sobrevida prpria poesia. De acordo com Trajano Vieira,
os prodgios hericos so uma necessidade potica e, nesse sentido, poeta e heri trabalham juntos para superar a transitoriedade.
Vieira admite que a poesia pica, alm de conferir glria imperecvel aos heris, possui um carter educativo e formador, oferecendo
modelos de conduta a serem seguidos, edificando virtudes exemplares e indispensveis para o reconhecimento permanente. Ver:
VIEIRA, T. Introduo. In: CAMPOS, Haroldo de. Ilada de Homero, vol. 1. So Paulo: Arx, 2003, pp. 12-14.
19
Nestor foi rei de Pilo, filho de Neleu, casado com Eurdice. Muito clebre na Ilada, aparecendo como um velho prudente e portador
de grandes conselhos. Trata-se do arqutipo da sabedoria, da continncia e da prudncia.
46 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
causam deleite e, por se tratar de grandes referncias a
obras prestigiosas da Antigidade, acentuam a distino
e agudeza do poema, afetando um auditrio que, com
tais referncias picas, entendem a gravidade da
exaltao.
Similar a Duarte Coelho, sua prole, composta, se-
gundo o poema, por vares ilustrssimos (Cada qual a
seu Tronco respondente, Canto XXIX), dar prosse-
guimento aos grandes feitos do pai. Jorge e seu irmo,
no canto XXXI, so identificados como Martes, hipr-
bole
20
que engrandece os atributos blicos por fazer
meno ao deus da guerra, reconhecido pelas habilidades
com as armas e o esprito guerreiro. No canto seguinte,
so comparados a dous soberbos Rios espumosos, que
designam a fria, inquietude e fora incessante dos
homenageados
21
. Estas metforas so parmetros
amplificadores, que instruem (docere) e agradam (de-
lectere), e so capazes de persuadir (movere) atravs
dos artifcios retricos emprestados da mitologia clssica.
Outro exemplo interessante est no canto XLII. Nas
palavras de Proteu, Jorge dAlbuquerque mais invicto
do que Enias, que desceu ao Reino de Cocito. Enias,
protagonista da grande epopia de Virglio, importante
guerreiro na batalha de Tria, reconhecido por sua
coragem, astcia e eloqncia. No por acaso que
conseguiu enganar o co infernal e invadir as terras
de Hades, retornando com vida depois de cumprir sua
misso. Jorge dAlbuquerque, portanto, supera aquele
que desceu ao Reino escuro, personagem fundamental
na fundao mtica do Imprio Romano, varo pio
que porta as mais diversas virtudes. O jogo de figuras
antagnicas, tal como claro/escuro, luz/sombra, acen-
tuam a distino entre os bons e maus costumes, ou
entre vcios e virtudes. No presente caso, o Reino escuro
est associado ao mundo de Hades, o mundo da perdio.
Em outros momentos, Bento Teixeira compara Jorge
dAlbuquerque ao Sol luzente (Canto XLII), indicando
a luz como metfora da virtude. Esse jogo de cores e
efeitos, presentes em Prosopopia, nos parece ser recurso
retrico para a construo de heris iluminados,
afastados da vil escurido. A referncia ao Reino de
Cocito pode suscitar nos leitores uma associao ao
Reino dos Infernos. Jorge, portanto, supera o mundo
do pecado e da danao, estando, assim, invicto dos
castigos eternos.
Proteu: um profeta do passado
Alm de recorrer a heris clssicos, com vistas a
enaltecer a figura dos Albuquerques, Bento Teixeira
invoca a presena de deuses mitolgicos no decorrer de
sua obra. O autor requisita, inicialmente, os servios de
Proteu, divindade prpria do panteo grego, descendente
de Ttis, filha de Nereu, e do tit Oceano. Integrava o
Conselho de Ancies, em virtude de sua sabedoria e da
capacidade de prever o futuro. Possua, ainda, a habil-
idade de metamorfosear, adquirindo o aspecto de figuras
monstruosas, cujo objetivo seria afugentar os mortais
que o abordam para ouvir suas profecias.
Vem o velho Proteu, que vaticina
(Se f damos velha antiguidade)
Os males a que a sorte nos destina,
Nascidos de mortal temeridade.
Vem nua e noutra forma peregrina,
Mudando a natural propriedade.
No troque a forma, venha confiado,
Se no quer de Aristeu
22
ser sojigado.
(Bento Teixeira, Prosopopia, Canto XV)
Aps a leitura das duas primeiras linhas do canto XV,
percebemos novamente o posicionamento do poeta que
insiste no desapego fidedigno s tradies clssicas.
Proteu s vaticina se dermos f velha antiguidade e
isso mostra, por sua vez, os efeitos figurativos de sua
construo potica. Sem qualquer retomada dos valores
20
A hiprbole indica uma figura de exagero, que amplifica o argumento. Baseia-se numa metfora ou numa sindoque; sua funo
semntica invocada quando no se encontra um termo apropriado que d conta da grandiloqncia ou vulgaridade da
narrativa, tentando exprimir o inexprimvel. Ver: REBOUL, O. Introduo retrica, So Paulo: Martins Fontes, 1998, pp. 123-
1 24.
21
Estratgia potica, as perfrases so requisitadas nos casos em que o poeta, ao descrever um ser ou enaltecer sua conduta, simula
no dispor de palavras altura da homenagem e, por isso, busca contemplar suas caractersticas, utilizando termos ou palavras
que, no conjunto, assumem as pretenses retrico-poticas do orador. Esse artifcio assume uma natureza dupla: pode designar algo
que teria sido perigoso nomear abertamente e, por outro lado, pode desmistificar ou vulgarizar objetos ou seres mticos, aludindo a
eles com linguagem profana, abolindo figuras prestigiosas a partir de mscaras mitolgicas. Ver: STAROBINSKI, J. As mscaras
da civilizao: ensaios. So Paulo: Companhia das Letras, 2001, pp. 231-260.
22
Para informaes sobre o mito de Aristeu, ver: BULFINCH, T. O livro de ouro da mitologia: histrias de deuses e heris. So Paulo:
Martin Claret, 2006, pp. 251-254.
47 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
mitolgicos, em sua potencialidade, ou culto tradio
e cultura pags, a invocao de Proteu no se assenta
em perigos doutrinrios e, por isso, pouco abala a
ortodoxia crist.
A narrativa de Proteu oferece autoridade aos versos
de Prosopopia, visto que, sendo um sbio profeta, re-
conhece os grandes feitos que meream ser guardados
na memria. Quando o autor de Prosopopia abre mo
de ocupar a persona de narrador, ele assume uma posio
de modstia, mostrando-se impotente frente a feitos de
heris to grandiosos. A presena de Proteu personifica
a sabedoria pica e sua fala, com ares de profecia, refora
e incrementa o discurso, tornando-o convincente e
legtimo.
O deus profeta, por sua vez, assume ares solenes e
refora a posio modesta dispensada pelo poeta, no af
de narrar os indescritveis feitos de Jorge dAlbuquer-
que, conforme indica o trecho abaixo:
Seus hericos feitos extremados
Afinaro a dissoante prima,
Que no muito to gentil subjeito
Suplir com seus quilates meu defeito.
(Bento Teixeira, Prosopopia, Canto XXIII)
Pensando na tradio de leitura da epopia camo-
niana, Bianca Morganti afirma que, nos sculos XVI e
XVII, havia basicamente trs formas de entender a
presena da mitologia em Os Lusadas: como orna-
mento, com a inteno de causar deleite em seus leitores;
entender os deuses como heris, cujos feitos foram imor-
talizados nos textos picos; como alegoria
23
, compreen-
dendo o mito em analogia com a mstica crist. Gui-
lherme Amaral Luz cogita a hiptese de essas trs
interpretaes tambm terem sido as que dirigiram o uso
da mitologia em Prosopopia. Segundo o autor, neste
caso, Proteu poderia:
(...) personificar, ao mesmo tempo, uma figura de
ornato, um heri sbio e um profeta cristo. Como figura
de ornato, com suas transmutaes monstruosas, ele
a prpria metfora da metfora ou da pluralidade de
formas sensveis imperfeitas assumidas pela verdade.
Como sbio, detm o conhecimento da virtude dos heris
e dos desafios impostos pela fortuna. Como profeta
cristo, anuncia a fatalidade das aes na direo dos
seus resultados j sabidos de antemo.
24
Resta lembrar, ainda, que os dotes profticos de Proteu
vaticinam um futuro que, para o leitor, j passado.
Mtodo similar encontrado nOs Lusadas, quando
Jpiter, para alvio de Vnus, profetiza feitos gloriosos
aos portugueses (Canto II, est. 44).
Este recurso proftico refora a autoridade imposta
pela memria reerguida. Cantar a grandeza dos home-
nageados com ares profticos no constitui perigo algum
para as autoridades religiosas, partindo do pressuposto
de que os fatos so eventos passados, mas que, no
entanto, so dignos de lembrana e memria. Nesse
sentido, no h qualquer profecia no canto de proteu
que no seja figura de elocuo
25
.
A figura de Proteu artifcio pico duplamente peri-
goso, seja pela sua natureza pag, seja pelos seus atribu-
tos profticos, saberes potencialmente contrrios aos
dogmas cristos. O carter proftico pode ser relacionado
a um movimento poltico-cultural portugus tpico da
virada do sculo XVI para o XVII: o sebastianismo. Este
fenmeno uma (re)apropriao portuguesa do mito
do Encoberto, descrito nas Trovas do sapateiro Gonalo
Annes Bandarra, entre 1530-1540. Em suas trovas,
possvel encontrar referncias da Sagrada Escritura,
preceitos judaicos e elementos prprios do maravilhoso
medieval, tratando-se, portanto, de um hibridismo
literrio. Este documento postula as glrias, dificuldades
e o destino imperial do reino portugus e se tornaria,
cerca de um sculo depois, a Bblia do sebastianismo.
De acordo com Jacqueline Hermann:
Se Bandarra acabou sendo o profeta eleito para a
pregao messinica e real que ganharia corpo e
adeptos a partir do incio do sculo XVII, d. Sebastio
emprestou sua prpria vida para a confirmao final
dessa revelao.
26
23
Entendendo a alegoria como uma modalidade da elocuo ou ornamento do discurso, que age como um dispositivo retrico cujo
procedimento fundamental a tcnica da substituio. Ver: HANSEN, J. A. Alegoria: Construo e interpretao da metfora, So
Paulo: Atual, 1986, pp. 1-2.
24
LUZ, G. A. O canto de Proteu ou a corte na colnia em Prosopopia (1601), de Bento Teixeira. In: Tempo, Niteri-RJ: UFF, v. 25,
2008, p. 211.
25
Idem, p. 212.
26
HERMANN, J. No reino do desejado, So Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 121.
48 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
O sebastianismo oferecia aos portugueses uma dou-
trina baseada na esperana, almejando o retorno de um
rei salvador, (con)fundindo luta poltica e profecia mes-
sinica. Tomando como base a anlise crtica de
Jacqueline Hermann, a profecia era um recurso para
aqueles que estavam dominados pelo medo e des-
contentes devido perda de autonomia do Imprio
portugus. A esperana se esvaecia e tudo o que restava
era uma crena na qual se apoiar, na tentativa deses-
perada de retomar a identidade poltica e resistir ao surto
de descontentamento e nostalgia:
Profecia inacabada, sua consumao se daria
atravs da ressurreio do rei e do reino, revelando um
sentido muito prprio para a sacralidade do monarca
da Lusitnia, eleito por Deus para a direo de seu
Imprio na terra.
27
Num ambiente de insegurana e medo, muitas
pessoas se prendem a uma crena ou doutrina de carter
proftico, atribuindo importncia desmedida s adi-
vinhaes
28
, enquanto premeditao de acontecimen-
tos, longnquos ou prximos. O retorno do rei Desejado
exprimia as esperanas de um corpo poltico sem
cabea, entregue aos domnios castelhanos, correndo
o risco de perder sua identidade imperial. Esperana,
essa, que almejava recobrar a autonomia do Imprio
portugus que se manteve hibernada por sessenta longos
anos sem, no entanto, deixar de viver um horrvel
pesadelo.
Lmnio: personificao do vil(o)
em Prosopopia
Lmnio
29
, epteto que designa o deus Vulcano, tam-
bm evocado por Bento Teixeira. Em Prosopopia, ele
assume o papel de figura de elocuo que representa a
natureza vil, por fazer resistncia ao nobre caminho
trilhado por Jorge dAlbuquerque e sua tripulao.
Admitido como o pai da barbrie, o deus do fogo oferece
ao aedo ares trgicos por representar os pagos,
indivduos que fazem resistncia expanso da f e, por
extenso, do Imprio portugus. A presena da alteridade
encontra-se expressamente presente na terminologia
barbrie
30
, que sustenta uma densa carga toponmica:
essa nomenclatura, portadora de significados diversos e
convencionais, dificilmente definida, seno por tpicos
negativos. Tal como o mal, que se define pela ausncia
de bondade, termos como brbaro, pago, herege,
gentio, mouro, so definidos pela ausncia de alguma
virtude configurada como excelente. Sendo assim, o
brbaro pode ser o no-grego, o no-civilizado ou,
no caso de Prosopopia, pode designar o no-cristo.
A noo de barbrie depende do ponto de referncia de
quem designa; determina-se, portanto, uma fronteira
convencional e negocivel, que homogeneza o outro,
traando uma caricatura pouco delineada do mesmo.
De acordo com Francis Wolff
31
, vrias so as apli-
cabilidades da terminologia barbrie: pode implicar
algum em estgio arcaico de socializao remetendo
queles que ignoram as boas maneiras, portando-se
rudemente, de forma grosseira , pode designar um
estgio arcaico, no quesito cultura composto por indi-
vduos insensveis ao saber e, por isso, culturalmente
inferiores e pode, por fim, denunciar um estgio pr-
humano, ou seja, composto de povos selvagens, que
lidam com a ausncia de qualquer sentimento huma-
nitrio. Em todos esses casos, o brbaro definido pela
ausncia de algo que remete civilidade/civilizao. Em
todos os casos citados, os valores tidos como baixos o
so baseados em padres evoludos da humanidade.
Levar a civilizao aos povos brbaros significa diluir
sua cultura, efetivando um processo de aculturao.
Recorramos metfora do espelho: para arranc-los de
sua barbrie, faz-se necessrio que eles se espelhem em
uma sociedade/humanidade civilizada.
Como artifcio retrico, a figura de Lmnio duplo
signo de paganismo: por um lado, fruto da fbula pag
e, por isso, potencialmente contraditria mstica crist;
por outro, sua prole composta por pagos. O deus
27
Idem, p. 307.
28
Segundo Jean Delumeau, a adivinhao em seu sentido mais amplo, era e ainda para aqueles que a praticam uma reao
de medo diante do amanh. Na civilizao de outrora, o amanh era mais objeto de temor do que de esperana. DELUMEAU, J.
Histria do medo no ocidente, 1300-1800: uma cidade sitiada, So Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 397.
29
Quanto verso mitolgica apropriada pelo autor, ver: TEIXEIRA, B. Prosopopia, Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro,
1972, pp. 122-123.
30
Como Starobinski nos lembra, um termo carregado de sagrado demoniza o seu antnimo. Neste caso, o brbaro se ope ao cristo.
STAROBINSKI, J. As mscaras da civilizao: ensaios. So Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 33.
31
Ver: WOLFF, F. Quem brbaro? In: NOVAES, A. Civilizao e barbrie. So Paulo: Companhia das Letras, 2004.
49 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
ferreiro assume no somente a personificao de um
deus pago, mas do prprio paganismo. Como argu-
mento-tipo, Lmnio amplifica a vileza combatida pelos
Albuquerques; como figura de elocuo, oferece ao aedo
uma voz dissonante que, por sua vez, tende a mover
nimos, dado que esta divindade trama contra os ho-
menageados e mobiliza todo um arsenal de infortnios,
como ser mostrado mais adiante.
A aparncia de Lmnio, descrita por Proteu, parece
condizer com sua natureza/essncia vil. Ao narrar sua
compleio, o poeta anuncia a fisionomia dos infortnios
que viro. Como esta descrio parte de Proteu, total-
mente vivel que ares profticos norteiem a sua fala:
E com rosto cruel e furibundo,
Dos encovados olhos cintilantes,
Frvido, impaciente, (...).
(Bento Teixeira, Prosopopia, Canto XLVII)
Retomando os conceitos utilizados por Bianca Mor-
ganti, so trs as possibilidades de recepo da figura de
Lmnio pelo auditrio de Prosopopia: como figura de
ornato, reforando o estilo pico e valorizando a estrutura
esttica pautada na mitologia greco-romana, compondo
as belas maneiras e a fala depurada; metafrica, en-
tendendo os deuses como grandes heris reconhecidos
na Antiguidade, dignos de referncia e imortalidade; e
alegrica, remetendo, intrinsecamente, a uma realidade
mstica crist ou, no mnimo, que no se oponha a ela
32
.
Enquanto pea ornamental, Lmnio artifcio empre-
gado com vistas a aprimorar o engenho potico e o
carter esttico de Prosopopia; simboliza, por outro
lado, a figura do anti-heri, sendo responsvel pelos
infortnios que dificultaram e que, por pouco, no
impediram a empresa de Jorge dAlbuquerque e sua
tripulao.
O sentido alegrico
33
, por sua vez, no claro (a
alegoria impe esta dificuldade interpretativa), mas abre
espao para possveis interpretaes. Em uma das verses
mitolgicas, Vulcano foi arremessado do Olimpo pela
me (Juno) por ter nascido com a aparncia disforme.
Devido queda, que durou um dia e meio, o deus do
fogo tornou-se coxo, sobrevivendo to somente por ser
imortal. Essa deformidade, portanto, pode indicar a
natureza coxa dos pagos que, por falta da f crist,
so incompletos, disformes. Por outro lado, na
tradio crist, Lcifer e os anjos cados sofreram queda
semelhante, por se rebelarem contra Deus, e foram
precipitados para o Inferno. Esta analogia no seria
estranha em uma sociedade fortemente cristianizada,
como o caso de Portugal e suas extenses coloniais. O
deus ferreiro e, portanto, do fogo, poderia ser, assim, uma
clara metfora de seres infernais.
Sendo pai da barbrie, ou personificao da mesma,
Lmnio se sente ofendido ao perceber que sua prole
estava sendo convertida e/ou dizimada por vares por-
tugueses. Persuadindo Netuno, senhor das guas, Vul-
cano requisitou uma tempestade que pudesse impedir o
regresso de Jorge e seus homens, utilizando, para isso,
argumentos que apelam vaidade
34
. No seu discurso,
Lmnio convence Netuno atravs de soberbas conside-
raes que reafirmam sua posio entre as divindades
pags, como importante membro e habitante do Olimpo:
Em preo, ser, valor, ou em nobreza,
Qual dos supremos mais queu altivo?
Se Neptuno do Mar tem a braveza,
Eu tenho a regio do fogo activo.
Se Dite aflige as almas com crueza,
E vs, Ciclopes trs, com fogo vivo,
Se os raios vibra Jove, irado e fero,
Eu na forja do monte lhos tempero.
(Bento Teixeira, Prosopopia, Canto LI)
Netuno, como bom irmo, atende s suas vontades
(ao final da obra, ele se arrepende desta escolha). A
resistncia do deus do fogo aos feitos dos Albuquerques
pode ser entendida, por extenso, como a resistncia dos
32
Ver: MORGANTI, B. F. A Mitologia nOs Lusadas Balano Histrico-Crtico. Dissertao (Mestrado). So Paulo: IEL/Unicamp,
2004, pp. 156-171.
33
Segundo Hansen, existe duas opes de recepo para o leitor: analisar os procedimentos formais que produzem a significao
figurada, lendo-a apenas como conveno lingstica que ornamenta um discurso prprio, ou analisar a significao figurada nela
pesquisando seu sentido primeiro, tido como preexistente nas coisas e, assim, revelado na alegoria. Ver: HANSEN, J. A. Alegoria:
Construo e interpretao da metfora, So Paulo: Atual, 1986, p. 2.
34
De forma semelhante, Baco, em Os Lusadas, convence os deuses marinhos a lanarem uma tormenta contra a embarcao de
Vasco da Gama. Baco e Vulcano, nessa concepo, ocupam posies similares: ambos tentam impedir o progresso da virtude,
resistindo empresa de nobres vares portugueses. Tanto Baco quanto Vulcano assumem a postura de anti-heris. Ver: CAMES,
L. V. de. Os Lusadas. Porto Alegre: L&PM, 2008, pp. 173-198.
50 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
nativos braslicos aos colonizadores lusos, no acatando
a f crist e impedindo a expanso da cristandade e do
Imprio portugus. Enquanto figura de linguagem,
Lmnio representa a resistncia a duas metas (indis-
sociveis naquele ambiente poltico e cultural) prprias
s aes de vares tidos como excelentes: a difuso da f
e a expanso do reino portugus. A divindade do fogo, o
brbaro, o demnio, o infortnio ou, simplesmente,
Lmnio conspirava contra guerreiros prudentes e cora-
josos que contribuam na expanso do Imprio lusitano.
Ao conjurar maus agouros contra a embarcao de
Jorge, Lmnio busca interromper a Fortuna, at ento
favorvel, dos irmos Albuquerque. O poema apresenta,
neste momento, um suspense que mobiliza o leitor,
pois o desfecho supostamente sofrer uma inverso, j
que a Fortuna se volta contra a Virtude, categorias que,
at aquele instante da narrativa, coabitaram pacifi-
camente. Quando o curso da histria tende a mudar (para
pior), o nimo dos leitores acompanha essas mudanas.
Jorge, contudo, oferecendo mostras de eloqncia e
virtuosidade, ofusca seu temor e busca (re)animar a sua
tripulao contra os riscos do infortnio:
Per perigos cruis, per casos vrios,
Hemos dentrar no porto Lusitano,
E suposto que temos mil contrrios
Que se parcialidam com Vulcano,
De nossa parte os meios ordinrios
No faltem, que no falta o Soberano,
Poupai-vos pera a prspera fortuna,
E, adversa, no temais por importuna.
(Bento Teixeira, Prosopopia, Canto LXI)
Dessa forma, o curso da narrativa, que parecia tomar
um rumo trgico, recobra o caminho da vitria da
virtude contra a m fortuna (infortnio). Lmnio v seus
desgnios fracassados. Acentuar a vileza de Vulcano
amplifica a nobreza de Jorge, quando este no apenas
resiste, como tambm recobra o alento de sua tripulao,
tal como se deve proceder algum que ocupa uma posio
de prestgio
35
. Na embarcao, Jorge mostrou-se perso-
nagem valorosa, pois enfrentou o risco do infortnio,
indevidamente manipulado por Lmnio. Em seguida,
assumindo conduta exemplar, ofereceu sua vida, para
que outros pudessem sobreviver. Esse ato evitou o mpeto
da vaidade, mostrando que Jorge dAlbuquerque reivin-
dicava a responsabilidade e agia, portanto, tendo em
vistas o corpo coletivo, e no suas vontades particulares:
E se determinais a cega fria
Executar de to feroz intento,
A mim fazei o mal, a mim a injria,
Fiquem livres os mais de tal tormento.
Mas o senhor que assiste na alta Cria
Um mal atalhar to violento,
Dando-nos brando Mar, vento galerno,
Com que vamos no Minho entrar paterno.
(Bento Teixeira, Prosopopia, Canto LXVI)
No parecer dos moralistas de fins dos quinhentos,
a vaidade impede que o indivduo obre em favor do bem-
comum, requisito primordial na construo de exemplos
nobres. Deve-se ter em mente o todo, e no as partes. As
decises devem privilegiar o corpo social; Jorge assumia
a responsabilidade de conduzir o organismo cvico sob
sua responsabilidade, atuando de modo anlogo aos
governantes prudentes, cujo valor estaria na sua posio
relativa ao conjunto que comanda, tal como entende,
por exemplo, Luz:
O todo vive por meio das relaes complementares
entre as suas partes. A parte no tem significado e valor
em si, quando isoladas, mas apenas como meio comple-
mentar de realizao da ordem do todo. O valor est na
posio que cada parte ocupa no conjunto de relaes
que compem o corpo mstico.
36
A stira e sua repercusso:
discusses e apontamentos
Atravs de um humor-trgico (ou, talvez, de uma
dramatizao via escrnio), as stiras atribudas a Gre-
grio de Matos demonstram um apurado teor crtico, o
que atribui aos versos uma tendncia moralista, a julgar
35
A utilizao de tpicas retricas tradicionais que recorrem s antteses, tal como vcio/virtude, ou brbaro/civilizado, so
recursos indispensveis na composio de retratos biogrficos encomisticos. A presena de virtudes exemplares e vcios
condenveis, no decorrer da narrativa, amplificam o contraste entre atos bons e maus. A composio de modelos pblicos de
conduta depende desses artifcios retricos para ser eficaz.
36
LUZ, G. A. A morte-vida do corpo mstico: espetculo fnebre e a ordem csmica da poltica em Vida ou Panegrico Fnebre a
Afonso Furtado de Mendona (1676). In: ArtCultura, Uberlndia: UFU, no prelo (2008), p. 19.
51 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
pela intolerncia latente s prticas de determinados
estratos da sociedade.
Desde o sculo XIX, uma gama de autores coloca
em xeque a autoria e originalidade dos versos atribudos
a Gregrio de Matos: Varnhagen (1850), por exemplo,
considera-o um escravo imitador que plagia grandes
nomes castelhanos como Gngora e Quevedo, para
obter reconhecimento e prestgio. No obstante, Joo
Ribeiro parece compartilhar de posio similar, apesar
de considerar os modismos da imitao um processo
legtimo nos tempos de Gregrio. Crticos como Paulo
Rnai e Slvio Jlio parecem investir ainda mais na
desmoralizao dos poemas gregorianos. Oscar Mendes,
sob influncia dessa censura, chega a se referir ao poeta
como o padroeiro dos plagirios
37
. Constatamos a
existncia, no entanto, de autores que no buscam
generalizar/relativizar as contribuies do poeta baiano,
tais como Pedro Calmon e Afrnio Coutinho. O primeiro
no admite que esta confuso autoral possa ser atribuda
ao poeta, em detrimento da prpria organizao dos ap-
grafos. O segundo, atento s prticas comuns poesia
seiscentista, divulga a legitimidade da imitao, enquan-
to recurso ainda latente, herdado nos moldes renas-
centistas
38
.
No ansiamos em tomar partido neste debate pol-
mico, tampouco seguir os rumos desta discusso, pois,
para nossa proposta, pouco valem consideraes re-
ferentes autoria ou plgio, termos que reconhe-
cemos como exteriores e posteriores poca de Gre-
grio
39
. A preocupao que norteia esta pesquisa se volta
muito mais para o contedo satrico seiscentista do que
para os possveis eptetos poticos que comumente so
tomados por autores, no sentido romntico do termo.
Araripe Jnior se refere a Gregrio de Matos como toda
a poesia do sculo XVII no Brasil, ou seja, este nome
prprio deixou de designar um indivduo para qualificar
uma poca. Por esse motivo, nos agrada a expresso
poeta coletivo, utilizada por Wilson Martins, o que
supe a superficialidade de se considerar uma indi-
vidualidade autoral
40
.
A stira de codinome Gregrio de Matos escancara
os vcios da sociedade atravs de encenaes irnicas e/
ou dramticas. Em sntese, ela fere para curar, pois
amplifica o mal e, implicitamente, prope uma correo.
Nos encmios, o homenageado detm, enquanto modelo
referencial e exemplar, as virtudes tidas como excelentes
e ideais; no caso da stira, atravs da anttese vcio/
virtude, acentua-se a deformidade do satirizado que,
de alguma forma, impede a manuteno da ordem
pblica. O vcio, portanto, deturpa o organismo cvico, e
a crtica satrica solicita, indiretamente, a interveno
de virtudes que, alm de suplantar os vcios, restaurariam
a ordem social almejada. Segundo Hansen, a stira
sempre dupla quanto ao seu efeito de sentido,
afirmando uma ausente plenitude do bem comum, iden-
tificada com a boa poltica e a boa religio, oposta
decadncia do presente mau e corrupto, negado como
teatro da falha, falta e culpa.
41
A eficcia satrica conta com o conhecimento de seus
auditrios, ou seja, a deformao dos indivduos de-
pende de um prvio conhecimento de suas falhas e faltas.
Assim como o encmio, a stira tambm depende da
conciliao entre o til e o agradvel. Objetivando o re-
pdio, o riso, o escrnio
42
, a stira trabalha com inver-
ses, moldando conceitos virtuosos que, na verdade, so
mostrurios de vcios que contaminam a sociedade. Tal
como afirma Hansen, dois conceitos distantes e opos-
tos so aproximados e fundidos num nico gnero
metafrico
43
, o que proporciona aprendizagem e prazer.
Apresentar uma caricatura disforme, alm de conveno
37
GOMES, J. C. T. Gregrio de Matos, o Boca de Brasa: Um Estudo de Plgio e Criao Intertextual. Rio de Janeiro: Vozes, 1985, pp. 54-
83.
38
Idem, pp. 86-87.
39
Ver: HANSEN, J. A. A stira e o engenho. Gregrio de Matos e a Bahia do sculo XVII. So Paulo: Ateli Editorial, 2004, p. 32.
40
Ver: GOMES, J. C. T. Gregrio de Matos, o Boca de Brasa: Um Estudo de Plgio e Criao Intertextual. Rio de Janeiro: Vozes, 1985,
pp. 14-15.
41
HANSEN, J. A. A stira e o engenho: Gregrio de Matos e a Bahia do sculo XVII, So Paulo: Ateli Editorial, Campinas: Editora da
Unicamp, 2004, p. 201.
42
H que se pensar, portanto, no efeito do cmico enquanto procedimento instrutivo, que concilia educao e deleite. Jos Macedo nos
lembra que os mecanismos de fabricao do cmico, mesmo sendo intemporais, produzem efeitos distintos, cujo nexo encontra-se
nos cdigos culturais partilhados. A risibilidade, no caso da stira, deve ser resultado de uma crtica histrica, de tal forma que o
leitor identifique a ironia e, atravs das frmulas baixas, repudie os vcios do satirizado. O auditrio precisa conhecer a fbula
para, ento, entender os efeitos da inverso. Ver: MACEDO, J. R. Riso, cultura e sociedade na Idade Mdia. So Paulo: Editora Unesp,
2000, p. 26.
43
HANSEN, J. A. A stira e o engenho: Gregrio de Matos e a Bahia do sculo XVII, So Paulo: Ateli Editorial, Campinas: Editora da
Unicamp, 2004, pp. 54-55.
52 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
engenhosa, uma forma de repudiar vcios ento into-
lerveis. Trata-se de uma aprendizagem inversa e/ou
reversa, na qual se privilegia a falha, subtendendo sua
correo. O teatro satrico, em suma, faz do vcio uma
virtude, pretendendo o inverso: transformar em virtude
os vcios.
Quanto aos dispositivos de elocuo adotados pelo
poeta, optamos por analisar, inicialmente, a apropriao
das Parcas, recorrente no universo potico colonial. Na
mitologia, as Parcas (muitas vezes reconhecidas como
as Moiras, ou Destinos), filhas da Noite, so divindades
responsveis pela sorte dos homens. Num total de trs,
as Parcas habitam as regies olmpicas: Cloto porta o
fio do destino humano; Lquesis coloca o fio em fuso;
tropos, por fim, corta o fio, sendo a responsvel direta
pela morte dos homens
44
. No por acaso que so
reconhecidas como as fiandeiras. Gregrio de Matos
se apropria dessas figuras, por exemplo, para indicar
momentos trgicos, cuja morte conseqncia der-
radeira. Segue uma de suas apropriaes:
Neste tmulo a cinzas reduzido
Da virtude o Heri mais portentoso
Se oculta, feito estrago lastimoso
Da dura Parca, de que foi vencido.
De um incndio cruel ficou rendido
Aquele peito forte, e valeroso,
Que por Deus tantas vezes amoroso
Tinha grandes incndios padecido.
Porm a Parca andou muito advertida
Em lhe tirar a vida desta sorte,
E tirana no foi, sendo homicida.
Que se o matou em um incndio forte,
Foi, porque se de incndios teve a vida,
De incndios era bem tivesse a morte.
(Gregrio de Matos)
45
O poeta, em sua narrativa, anuncia a dura Parca
que, vencedora, tomou a vida de Manuel da Ressurrei-
o. Ao atribuir Parca adjetivos depreciativos, como
tirana ou homicida, o poeta procura demonstrar seu
suposto pesar, devido ao destino trgico e desmerecido
deste Heri. Uma vida de incndios, ou seja, de esprito
inflamado, deve ter seu trmino em meio a um incndio
(podendo ser entendido literalmente como fogo, ou
alegoricamente como a perdio da alma, que queima
no Inferno). A tirania da Parca, portanto, um falso e
irnico predicado para designar uma morte devida e
supostamente conveniente. Segue outro exemplo, dessa
vez referente morte de Jos de Mello, assassinado por
Lus Ferreira de Noronha, capito da guarda do gover-
nador Cmara Coutinho (1690-1694):
Brilha em seu auge a mais luzida estrela,
Em sua pompa existe a flor mais pura,
Se esta do prado frgil formosura,
Brilhante ostentao do cu aquela.
Quando ousada uma nuvem a atropela,
Se a outra troca em lstima a candura,
Que h tambm para estrelas sombra escura,
Se para flores h, quem as no zela.
Estrela e flor, Jos, em ti se encerra,
Porque ser flor, e estrela mereceu
Teu garbo, a quem a Parca hoje desterra.
E para se admirar o indulto teu,
Como flor te sepultas c na terra,
Como estrela ressurges l no cu.
(Gregrio de Matos)
46
Comparar o homenageado estrela e flor (re)a-
firma, indiretamente, as duas naturezas humanas (sob
uma lente crist): uma terrena e outra celeste. A flor,
formosa em sua textura, possui uma existncia finita,
irrisria e vulnervel. A estrela, no entanto, brilha por
tempo indeterminado, se fazendo presente a nossos olhos
mesmo aps seu desaparecimento. A distino e o garbo
de Jos so desterrados pela Parca que, aqui, parece
simbolizar a morte honrosa, apesar de triste. Ao ser
sepultado como flor, aqui na terra, ele perde sua natureza
mortal. No entanto, ressurge como uma estrela, o que
supe uma ascendncia, um acolhimento da bem-aven-
turana. O brilho e posicionamento das estrelas parecem
metaforizar uma transcendncia celeste, divina, gloriosa.
A morte, nesse sentido, no compartilha da mesma
crueza denotada na morte de Manuel da Ressurreio.
44
Ver: COMMELIN, P. Mitologia grega e romana. So Paulo: Martins Fontes, 1997, pp. 82-84.
45
MATOS, G. Gregrio de Matos: obra potica. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 198.
46
Idem, pp. 204-205.
53 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
Gregrio de Matos, ao narrar a morte do governador
Matias da Cunha, utiliza expresses e recursos retricos
que, alm de demonstrar lamento, ilustram uma morte
exemplar, mas deve-se levar em conta o teor satrico
de suas palavras. Segue o trecho a ser analisado:
caso o mais fatal da triste sorte!
terrvel pesar! dor imensa!
Quem viu, que em breves dias de doena
Acabasse valor, que era to forte!
Quem viu prostrar-se a gala de Mavorte,
Que hoje em cinza se ve morte apensa!
Que como se prostrou, logo a licena
Concedeu livremente ousada morte.
J se v o valor, que esclarecido
Foi, em urnas de pedra sepultado
Do sujeito mais grave, e entendido.
Parca rigorosa sujeitado,
Acabado j, e em cinzas consumido
o esforo, que se viu mais alentado.
(Gregrio de Matos Guerra)
47
A triste sorte, da qual se refere Gregrio, pode ser
traduzida como o destino, ou talvez a providncia. O
poeta fica ressentido ao testemunhar homem to forte
perecer, sem qualquer possibilidade de reagir doena
que o afligia (febre amarela). Comparado a Mavorte
(variao/epteto que designa Marte), o homenageado
acaba reduzido a cinzas, sujeitado Parca rigorosa,
morte severa, iminente. Mais uma vez, a figura da Parca
metaforiza a morte, amplificando sua malignidade e
preciso. Ao atribuir morte uma imagem (mesmo que
mitolgica), o poeta humaniza-a, a ponto de atribuir-
lhe caractersticas prprias do homem: o rigor, o aprumo,
a sujeio. A personificao da morte acaba acomodando
adjetivos que expressam seu efeito e/ou intensidade,
maneira do poeta. A prxima estrofe condensa o que
podemos nomear de lamento, como se a morte, im-
prescindvel, pudesse operar num tempo imprprio, ou
errar os clculos, tomando a vida de um indivduo
precipitadamente:
Teu alto esforo, e valentia forte
Tanto a outro nenhum valor iguala,
Que teve o cu cobia de logr-lo,
Que teve inveja de venc-la a morte.
O cu veio a logr-la, mas por sorte,
Que por poder no pde conquist-la;
A morte por haver de contrast-la
Vigor de lei tomou, e deu-lhe o corte.
Prmios, que mereceste, e nunca viste,
Todos com teu valor os desprezaste,
E com os merecer lhe resististe.
O cargo, que na vida no lograste,
Esse o mofino , rfo, e triste,
Pois te no falta a ti, tu lhe faltaste.
(Gregrio de Matos Guerra)
48
Inicialmente, destacam-se as falsas virtudes do
homenageado: valentia, esforo e fortaleza inigual-
veis. Tanto a morte quanto o cu pecam para possuir o
satirizado: a primeira o inveja, o segundo o cobia. O
embate entre o cu e a morte indica a luta de Matias da
Cunha pela vida, mas, como se sabe, a morte indo-
mvel, imbatvel. Mais adiante, o poeta faz meno aos
prmios que o protagonista recusara, dado o seu brio e
altivez. Neste caso, o governador resiste ao mere-
cimento, visto que suas proezas mundanas no lhes
renderam frutos benficos. Na estrofe seguinte, o poeta
refora sua posio, quanto morte do mesmo:
Quem h de alimentar de luz ao dia?
Quem de esplendor ilustrar a Nobreza?
Quem h de dar lies de gentileza
A toda a gentileza da Bahia?
J feneceu do mundo a galhardia,
Melanclica jaz a natureza,
Vendo em p reduzida a fortaleza,
E em cinzas desatada a fidalguia.
O Marte (digo), que ao combate expunha
O peito sem temor, que ao mundo assombra,
Sendo da paz terror, da guerra espanto.
Foi este o Senhor Matias da Cunha,
Que hoje nos d tornado em fria sombra
Ao discurso pesar, aos olhos pranto.
(Gregrio de Matos Guerra)
49
Quem de esplendor ilustrar a Nobreza?, inquire o
47
Idem, p. 137.
48
Idem, pp. 137-138.
49
Idem, p. 138.
54 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
poeta, apesar de esta falsa-pergunta denotar ironia, j
que a resposta est intrnseca na prpria pergunta. Junto
ao governador, perece a galhardia, o brio, o garbo. A
fortaleza se converte em p, e a nobreza em cinzas. O
Marte Matias da Cunha, que causava espanto na
guerra e terror em tempos de paz, na troa de Gregrio
torna-se fria sombra, digna de pranto e pesar. Como a
stira opera com inverses, h que se perceber o duplo
sentido de seus versos. Sem qualquer dificuldade, o poeta
poderia fazer desses versos uma homenagem, um louvor,
pois opera com tpicas e requintes prprios do encmio.
O processo de inverso, no qual a stira amplifica a
desonra do homenageado, um requisito bsico para o
sucesso da mesma, supondo, claro, que o auditrio
(re)conhea o perfil do satirizado e a ironia dos versos
em pauta.
Em outro episdio, ao censurar o suicdio cometido
pelo Conde de Ericeyra, D. Lus de Meneses (1632-1690),
Gregrio faz meno ao mito de caro que, junto a
Ddalo, foram os responsveis pela construo do la-
birinto que asseguraria o crcere do Minotauro, nos
limites de Creta. Ao se perderem no labirinto, Ddalo
arquiteta dois pares de asas de cera, para fugirem. Antes
de alarem vo, Ddalo pede ao seu filho, caro, que no
se aproxime do sol, mantendo dele uma distncia segura
e seguindo seus passos. caro, imprudente e encantado
pelo brilho solar, acaba se entregando tentao de se
aproximar do astro, derretendo suas asas, o que ocasiona
sua queda e morte.
esta queda que serve de referncia para o uso
metafrico de Gregrio, nos versos seguintes:
caro da nossa guerra
ares corta o Conde s,
caro caiu no P,
e o Conde caiu na terra:
se, porque o rio o enterra,
o nome lhe ficou dado
de caro ser sepultado:
assim porque a terra dura
deu ao Conde sepultura,
ficou a terra um condado.
De cera, e pluma se val
caro para viver,
e o Conde para morrer
valeu-se do natural:
quanto fora artificial
da natureza sobrada
fica a do Conde adiantada,
porque caro quando bia
faz tragdia de tramia,
e o Conde de capa, e espada.
(Gregrio de Matos)
50
Gregrio de Matos, para ridicularizar o suicdio
cometido pelo Conde de Ericeyra, que se joga da janela
de seu jardim, utiliza a queda de uma personagem
mitolgica bem conhecida: a imprudncia de caro e sua
conseqente morte. Gregrio contrape o ardil de caro,
no mpeto de sobreviver com base em uma fora ar-
tificial de asas artesanais, e da naturalidade com que o
Conde antecipa sua prpria morte. A tragdia de um,
que luta pela sobrevivncia (apesar de ser um impulso
fraudulento, conforme o poeta) se contrape ao desapego
do outro, que se mata.
Conclumos, portanto, que o uso de referncias mi-
tolgicas no causa qualquer prejuzo s stiras atribudas
a Gregrio de Matos, mas, pelo contrrio, torna seus
versos mais engenhosos, supondo um estilo loquaz que
faz uso de figuras pags e/ou heterodoxas na busca por
efeitos moralizantes afinados com os padres de uma
Monarquia corporativa crist. Estas estimativas, soma-
das s analises que reverberam no decorrer de nosso
trabalho, j do margem a consideraes significativas,
que, no entanto, no se vem privadas de novas interro-
gaes e inquritos.
Consideraes finais
Nossa proposta, nesse artigo, foi realizar uma leitura
retrico-histrica, considerando as convenes retricas
(tpicas de inveno, figuras de elocuo...) e sua efic-
cia em discursos histricos destinados a um auditrio
particular. Em exemplares poticos quinhentistas e
seiscentistas, fundamental sondar essas convenes,
prprias do contexto histrico da poca. Esta forma de
leitura busca evitar anacronismos, interpretando textos
datados metodicamente, com a devida ateno crtica.
Como j se alegou, o uso de elementos externos
mstica crist geraram debates acirrados e dissonantes.
Sondando a fortuna crtica de Os Lusadas, Morganti
50
Idem, p. 131.
55 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
percebe que nos trs sculos que procederam edio da
obra, as interpretaes a respeito da mitologia eram
polmicas e controvertidas. No sculo XVII, Manuel
Pires de Almeida e seus adversrios, chamados apo-
logistas de Cames, foram peas-chave nesse debate. O
primeiro considerava o uso de fbulas pags incon-
veniente em um poema que cantava a expanso da f
crist. De acordo com esse autor, esses recursos estils-
ticos no contribuam para o fim ltimo da poesia:
mover, deleitar e instruir. Pires de Almeida afirma que
Cames desconsidera a crena do povo para quem
escreve, deixando a verossimilhana em segundo plano.
J os apologistas autorizam o emprego da mitologia
clssica, destacando a utilidade das fices poticas e
afirmando que a epopia portuguesa ensina e move os
leitores emulao dos grandes feitos, tidos como
excelentes
51
.
No h dvidas de que o novo ou seja, o atpico
gera certa intolerncia e estranhamento por parte dos
homens que o recepciona, mas a valorizao da cultura
greco-latina em obras poticas remonta a uma postura
bem quista e tradicional entre os poetas da poca,
convencionalmente chamada de barroca. Nosso estra-
nhamento, ao nos deparar com uma cultura pag imersa
em obras de cunho cristo no se equipara s impresses
causadas durante os sculos XVI e XVII. Como Delu-
meau apontou, a mitologia era um lbum de imagens
incapacitado de abalar os alicerces de quinze sculos de
tradio crist. Apesar da dupla possibilidade de recep-
o por parte da audincia, a fbula mitolgica no
subjugava a dogmtica crist, mas, antes, como nos
assevera Starobinski, sobrevive sob sua tutela.
Gregrio de Matos e Bento Teixeira investem no
resgate de elementos pr-cristos para a construo
de retratos poticos em suas obras, seja de heris seja de
anti-heris cristos. No nos parece provvel afirmar que
a retomada de elementos pagos seja por ocasio de um
momento histrico conturbado ou que os poetas se sen-
tiam obrigados a reproduzir servilmente categorias
prprias das picas da Antigidade. Recusamo-nos, mais
ainda, a admitir que o uso de mitologia contradiga
necessariamente uma obra de cunho cristo, tendo em
vista as inmeras possibilidades de interpretao que
comporta. Bento Teixeira, no decorrer de sua obra,
invoca a ajuda do Deus cristo, afirmando que no
bebe do licor ou compartilha a falsa pompa dos
antigos poetas. Gregrio de Matos nem precisa reforar
esse posicionamento, pois suas eventuais apropriaes
mitolgicas no deixam sequer suspeitas de adeso ao
paganismo. Nesse sentido, os elementos mitolgicos,
descarnados de seu sentido primeiro, agem como
instrumentos artsticos ou tcnicos que enriquecem o
propsito de ambos os poetas: longe de qualquer
impedimento, os recursos mitolgicos intensificam as
finalidades retricas ltimas da potica barroca: docere,
movere et delectare.
As tpicas heterodoxas, portanto, so apropriadas
tanto no encmio quanto no vituprio, resgatando
igualmente seus significados originais, ou seja, exige-se
(e supe-se) do leitor a mesma percia e assimilao
destes recursos, a mesma discrio. Mas uma dvida
ainda se coloca: como a apropriao pode ser similar, se
os efeitos da stira e do encmio so opostos? Se
atentarmos para os caminhos trilhados nesta pesquisa,
perceberemos que possvel a conciliao destes aspectos,
que longe esto de serem contraditrios. Defenderemos
esta afirmao com um exemplo: se a figura de Marte,
deus da guerra, apropriada em um texto encomistico,
tal como o em Prosopopia, possivelmente (e prova-
velmente) so seus atributos louvveis que sero res-
gatados, tais como suas habilidades blicas ou sua percia
com armas. Na stira, por sua vez, Marte faria parte de
uma pardia ou ironia, para acionar atributos que o
satirizado no apresenta, podendo ser (e geralmente so)
os mesmos atributos comuns aos anncios encomis-
ticos. Desta forma, se o leitor (re)conhece as faanhas
do deus Marte, possivelmente compreender sua
apropriao tanto nos domnios da stira quanto nos
domnios do encmio. A diferena entre estas apro-
priaes deve ser levantada no ato da leitura, ou seja, o
auditrio que deve ler os anncios como srios ou
irnicos, fator responsvel pela inverso de sentidos nas
construes poticas. A mesma figura de elocuo,
portanto, poder ser utilizada para fins diversos, mas a
ateno do leitor no deve se voltar para a tradio
recuperada (que a mesma), e sim para sua finalidade,
aps ser (re)contextualizada.
No caso da apropriao das Parcas, a situao
similar: o poeta no evidencia qualquer apego s tradies
mitolgicas, tampouco crena numa trade de fiandeiras
51
Ver: MORGANTI, B. F. A Mitologia nOs Lusadas Balano Histrico-Crtico. Dissertao (Mestrado). So Paulo: IEL/Unicamp,
2004, pp. 156-159.
56 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
que tecem uma linha cujos extremos so a vida e a morte.
Quando se refere dura Parca ele, analogicamente,
remonta dura morte, injusta e inevitvel. Se o auditrio
reconhece o significado dessas tpicas, ele assimila no
a tradio mitolgica (que supostamente comum
audincia), mas o engenho no qual ela se constitui e para
o qual ela se (re)figura. Da mesma forma, um anncio
encomistico poderia se apropriar dessas figuras, com a
finalidade de rebuscar o engenho, exigindo-se do pblico
a mesma assimilao da tradio, mas no dos critrios
de recepo, que so inversos.
Com um propsito educativo-poltico, Bento Teixeira
e Gregrio de Matos pretendem deleitar, ensinar preceitos
morais e normas de conduta atravs do retrato potico
dos homenageados, exortando seus auditrios a emul-
los (no caso dos encmios) ou a repudi-los (no caso
das stiras). Para isso, exigida dos poetas certa destreza
no emprego de procedimentos elocutivos, assim como
na eleio dos episdios mais (in)expressivos da vida dos
homenageados/satirizados. A aceitao dessas obras
(cunhadas em arranjo poltico) dependia da distino
argumentativa, das habilidades retricas e da capacidade
que o poeta tinha de mobilizar seu pblico. Em suma, a
eficcia do efeito educativo dependia das habilidades
do orador em moldar seus argumentos de acordo com o
auditrio, inspirando confiana, suscitando afetos e
moldando posicionamentos; elementos fundamentais da
retrica e, por extenso, das prticas poticas seis-
centistas.
Dessa forma, os recursos estilsticos que retomam
elementos da tradio pag ampliam o alcance das obras
e os valores morais que integram as biografias
encomisticas e satricas. Nesse sentido, no admitimos
que o uso dessas referncias tenha um significado
puramente ornamental em seu sentido mais pueril. O
destaque de modelos (para fins elegacos ou irnicos)
depende do arsenal de referncias que o poeta dispe para
intensificar e amplificar os requisitos que se espera ou
no de um indivduo. Apontar as glrias e vanglrias
dos protagonistas levanta um quadro de qualidades e
virtudes a serem espelhadas e uma relao de vcios e
prticas a serem evitadas a todo custo. A eficcia e
sucesso da propaganda poltica esto vinculados ao labor
potico dispensado pelo autor e aos artifcios retricos
mobilizados pelo mesmo. As figuras de elocuo,
portanto, longe de atender somente s intenes
particulares e ornamentais dos poetas, mobilizavam
aspectos do imaginrio e da cultura letrada da poca, o
que era fator decisivo na eficcia propagandstica da
obra e da sua verossimilhana para o pblico.
Referncias
ABREU, J. C. de. Ensaios e estudos: crtica e histria, Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 1975.
BULFINCH, T. O livro de ouro da mitologia: histrias de
deuses e heris. So Paulo: Martin Claret, 2006.
CAMES, L. V. de. Os Lusadas. Porto Alegre: L&PM, 2008.
CASTELLO, J. A. Manifestaes Literrias no Perodo Colo-
nial (1500-1808/1836), So Paulo: Cultrix, 1981.
COMMELIN, P. Mitologia grega e romana. So Paulo: Mar-
tins Fontes, 1997.
DELUMEAU, J. A Civilizao do Renascimento, Lisboa: Es-
tampa, 1994. 2 vols.
DELUMEAU, J. Histria do medo no ocidente, 1300-1800:
uma cidade sitiada, So Paulo: Companhia das Letras, 1993.
ELIADE, M. Mito e Realidade. So Paulo: Perspectiva, 1972.
GOMES, J. C. T. Gregrio de Matos, o Boca de Brasa: Um
Estudo de Plgio e Criao Intertextual. Rio de Janeiro:
Vozes, 1985.
HANSEN, J. A. Alegoria: Construo e interpretao da
metfora, So Paulo: Atual, 1986.
HANSEN, J. A. A stira e o engenho: Gregrio de Matos e a
Bahia do sculo XVII, So Paulo: Ateli Editorial, Campinas:
Editora da Unicamp, 2004.
HANSEN, J. A. O Discreto. In: NOVAES, A. Libertinos e li-
bertrios. So Paulo: Companhia das Letras, 1996, pp. 77-102.
HERMANN, J. No reino do desejado, So Paulo: Companhia
das Letras, 1999.
LUZ, G. A. O canto de Proteu ou a corte na colnia em Proso-
popia (1601), de Bento Teixeira. In: Tempo, Niteri-RJ:
UFF, v. 25, pp. 193-215, 2008.
LUZ, G. A. A morte-vida do corpo mstico: espetculo
fnebre e a ordem csmica da poltica em Vida ou Panegri-
co Fnebre a Afonso Furtado de Mendona (1676). In:
ArtCultura, Uberlndia: UFU, no prelo (2008).
MACEDO, J. R. Riso, cultura e sociedade na Idade Mdia.
So Paulo: Editora Unesp, 2000.
MARAVALL, J. A. A cultura do Barroco: Anlise de uma
Estrutura Histrica, So Paulo: Editora da Universidade de
So Paulo, 1997.
MATOS, G. Gregrio de Matos: obra potica. Rio de Janeiro:
Record, 1999.
MORGANTI, B. F. A Mitologia nOs Lusadas Balano His-
trico-Crtico. Dissertao (Mestrado). So Paulo: IEL/
Unicamp, 2004.
57 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 41-57 1 sem. 2009
WOLFF, F. Quem brbaro? In: NOVAES, A. Civilizao e
barbrie. So Paulo: Companhia das Letras, 2004.
PCORA, A. A histria como colheita rstica de exce-
lncias. In: As excelncias do governador: o panegrico
fnebre a d. Afonso Furtado, de Juan Lopes Sierra (Bahia,
1676). So Paulo: Companhia das Letras, 2002
PCORA, A. Mquina de gneros, novamente descoberta e
aplicada a Castiglione, Della Casa, Nbrega, Cames, Vieira,
La Rochefoucauld, Gonzaga, Silva Avarenga e Bocage, So
Paulo: EdUSP, 2001.
REBOUL, O. Introduo retrica, So Paulo: Martins
Fontes, 1998.
STAROBINSKI, J. As mscaras da civilizao: ensaios. So
Paulo: Companhia das Letras, 2001.
SOUZA, L. M. O Diabo e a Terra de Santa Cruz, So Paulo:
Companhia das Letras, 1986.
TEIXEIRA, B. Prosopopia, Rio de Janeiro: Instituto Na-
cional do Livro, 1972.
VERSSIMO, J. Histria da Literatura Brasileira: de Bento
Teixeira, 1601 a Machado de Assis, 1908, Braslia: Editora
da Universidade de Braslia, 1981.
VIEIRA, T. Introduo. In: CAMPOS, Haroldo de. Ilada
de Homero, vol. 1. So Paulo: Arx, 2003.
59 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 59-67 1 sem. 2009
Das cinzas do Welfare State emergiam os principais
temas que conformariam a agenda de discusses da
esquerda renovada, nos anos 1980-2000. Em meados
da dcada de 1970, o modelo de economia e sociedade
consolidado aps a Segunda Guerra Mundial fora
intensamente criticado por uma frao dinmica das
elites intelectuais ocidentais, de orientao claramente
reformista. Renunciavam tanto ao capitalismo acelerado
de economia mista quanto ao comunismo do bloco
sovitico sem, contudo, aderir revoluo do mercado
pregada j nestes tempos por Sir Keith Joseph que,
retomando dos escombros de 1929 o pensamento do
polmico Friedrich A. Hayek atravs da influncia de
Milton Friedman, se tornaria o pai do Thatcherismo
1
.
Sob a tica destes intelectuais, o capitalismo do
Welfare State, baseado nos pressupostos keynesianos de
interveno do Estado na atividade econmica e na
promoo do pleno emprego e do bem-estar social,
encontrava-se em uma encruzilhada criada pelas
contradies de seus prprios fundamentos. Em outras
palavras, para esta elite intelectual reformista, a cons-
truo de uma sociedade afluente, onde as restries
materiais e espirituais pudessem ser sanadas atravs do
consumo privado, dos servios sociais pblicos e do pleno
emprego, naufragava sob o peso de suas prprias
insuficincias, deixando para trs um rastro de desiluso
causada s massas, esperanosas de serem includas
, de destruio dados os alegados danos ambientais
e sociais provocados pela idia do crescimento como
meio e fim e de desperdcio considerando a suposta
incapacidade do Estado de atuar como empresrio e
regulador da atividade econmica. Para estes intelectuais,
se nos anos 1930-1940 a interveno do Estado teria sido
importante para sanar dificuldades emergenciais,
relacionadas a um contexto de crise econmica e de
destruio material, a institucionalizao deste inter-
vencionismo nos anos 1950 teria demonstrado ser
impraticvel a longo prazo.
Limites para o Crescimento
A denncia dos chamados limites para o
tica e Sociedade Afluente: intelectuais e a
agenda para uma esquerda reformista (anos 1970)
Daniel de Pinho Barreiros
Ps-Doutor em Histria pela UFF. Professor Civil do Colgio Militar do Rio de Janeiro.
E-mail: barreiros.cmrj@gmail.com
Resumo
O artigo analisa comparativamente as idias sociais de
importantes intelectuais ligados ao debate poltico norte-
americano, engajados na crtica ao Welfare State e ao
capitalismo de crescimento acelerado, bem como traz
tona um momento importante da histria intelectual do
sculo XX, que se refere ao surgimento do conceito de
sustentabilidade.
Palavras-chave: Welfare State. Intelectuais.
Sustentabilidade.
Abstract
The article analyses the social thought of some remarkable
intelectuals that were engaged in the American political
debate in the seventies. These thinkers were recognized
for their partisan discourse against the Welfare State and
the accelerated capitalism as well. Furthermore, the
article sheds some light on the arousal of the concept of
sustainability.
Keywords: Welfare State. Intellectuals. Sustainability.
1
YERGIN, Daniel e STALINSLAW, Joseph, The Commanding Heights: the battle for the world economy. New York: Touchstone,
2002, p. 74-81.
60 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 59-67 1 sem. 2009
crescimento foi o ponto de cruzamento entre as
principais linhas argumentativas contrrias perma-
nncia do paradigma intervencionista keynesiano nas
polticas econmicas nacionais. Muitos dos intelectuais
envolvidos no debate ligados ou no nova esquerda
criticaram uma suposta orientao produtivista do
capitalismo do ps-guerra, no qual os aumentos no PNB
e a expanso do consumo privado seriam os ndices de
bem-estar por excelncia, em detrimento de valores no-
econmicos tais como o meio ambiente, a vivncia social
comunitria, a sade e a cultura. Assim, vrias foram
as crticas ideologia do crescimento econmico
acelerado dos anos 1950-1960, diferindo entre si em
aspectos gerais ou especficos. Elas convergem, no
entanto, na rejeio ao capitalismo dirigido e a um padro
de desenvolvimento econmico considerado inadequado
para os novos tempos.
Fred Hirsch
2
, em seu trabalho Social Limits to
Growth
3
, elaborado com apoio financeiro do Twentieth
Century Fund e publicado em 1976
4
, defendeu que as
sociedades afluentes nos anos setenta ou seja,
aquelas marcadas pelo crescimento acelerado do ps-
guerra e do Welfare State apareciam como vtimas
do que chamou de paradoxo da afluncia: quanto mais
o crescimento econmico tornava-se um objetivo
premente, e quanto mais indivduos aproximavam-se do
padro de consumo, mais decepcionantes seriam os
frutos desta expanso econmica, e menor a satisfao
e bem-estar obtidos com os mesmos. Assim, a frustra-
o na afluncia resulta de seu xito em satisfazer ne-
cessidades materiais previamente dominantes
5
. Para
Hirsch, uma sociedade cujo fim ltimo reside na ex-
panso total do produto econmico tal como defendi-
do pela ideologia do crescimento dos anos 1950
demonstra um amplo potencial de instabilidade social,
tendo em vista que a disputa pelos chamados bens
posicionais produtos e servios que conferem status
ao indivduo torna-se mais agressiva na medida em
que uma parte substancial da populao ultrapassa o
nvel da subsistncia bsica. Em suma, o crescimento
econmico e a difuso do consumo expandiriam propor-
cionalmente os nveis de conflito na sociedade, ao invs
de reduzi-los
6
.
Uma verso mais radical da idia de limites do
crescimento econmico pode ser encontrada na obra
do economista E. F. Schumacher
7
, cujas propostas e
diagnsticos quanto crise do Welfare State tiveram
ampla repercusso no seio do ativismo social dos anos
1970, em especial ligado a temas ambientais e chamada
revoluo do local. Em Small is Beautiful
8
, publicado
em 1973, Schumacher afirmava que as sociedades
capitalistas de crescimento acelerado haviam alcanado
seu ponto de inviabilidade, para o qual a nica sada seria
a reviso de todos os princpios ligados vida social e
econmica do ocidente, comeando pela rejeio
ideologia do crescimento e aos valores sociais prove-
nientes da Revoluo Industrial. O problema residiria
justamente na ainda ampla aceitao da idia de uma
2
Fred Hirsch (1931-1978) nasceu na ustria e graduou-se pela London School of Economics em 1952. Foi jornalista econmico e
economista do Fundo Monetrio Internacional. Tornou-se professor de Economia na Universidade de Warwick em 1975, poucos
anos antes de sua morte. Foi autor de uma vasta quantidade de trabalhos sobre assuntos monetrios internacionais e sobre questes
inflacionrias, mas seu posicionamento liberal-esquerdista ganhou notoriedade ao final dos setenta com o livro Limites Sociais do
Crescimento, elaborado durante sua permanncia no Nuffield College, Oxford, entre os anos de 1972 e 1974.
3
A primeira edio de Social Limits to Growth foi publicada em 1976 pela Harvard University Press Cambridge, Massachussets,
Estados Unidos. A traduo brasileira foi feita com base na terceira edio americana, pela mesma editora. HIRSCH, Fred. Limites
Sociais do Crescimento. Trad. Waltersir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
4
O Twentieth Century Fund foi, nos anos 1970, uma fundao independente, de orientao liberal-esquerdista, sem fins lucrativos,
que tinha como misso financiar e elaborar estudos sobre instituies, questes econmicas, polticas e sociais. Atualmente chama-
se The Century Foundation, tendo includo em sua pauta de investigaes os temas da desigualdade social, da previdncia social,
reformas eleitorais, estudos sobre a mdia e suas implicaes sociais, segurana interna e assuntos internacionais. Possui escritrios
em Nova Iorque e em Washington, D.C.
5
HIRSCH. Op. cit., p. 21.
6
Idem, p. 13-14; 20-21.
7
Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977) nasceu na Alemanha e foi Rhodes Scholar em Oxford durante os anos 1930, onde
estudou Economia, tendo sido acolhido como um protegido por Lord Keynes. Lecionou na Universidade de Colmbia, Nova Iorque,
antes de dedicar-se aos negcios, agricultura e ao jornalismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, retornou Inglaterra onde
retomou brevemente a vida acadmica em Oxford. Terminado o conflito, entre 1946 e 1950, atuou como conselheiro da British
Control Comission dedicada recuperao da economia alem. Entre 1950 e 1970, foi Chief Economic Advisor do British Coal Board,
quando teria previsto a ascenso da OPEP e os problemas concernentes energia nuclear. Em 1955, em visita Burma como
consultor, desenvolveu seu conceito de Economia Budista, rompendo com os paradigmas da Modernidade ocidental.
8
A primeira edio de Small is Beautiful no Brasil foi publicada pela Editora Zahar, Rio de Janeiro, em 1977, com o ttulo O Negcio
Ser Pequeno: um estudo de Economia que leva em conta as pessoas. A primeira edio em ingls foi publicada na Gr-Bretanha por
Blond & Briggs Ltd. No presente trabalho utilizamos a edio de 1974, publicada por Sphere Books Ltd, Londres, Inglaterra.
SCHUMACHER, E. F. Small is Beautiful: a study of economics as if people mattered. London: Abacus, 1974.
61 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 59-67 1 sem. 2009
desejvel afluncia, ou seja, de que o problema da
produo havia sido resolvido com base no planejamen-
to e no industrialismo. As sociedades industriais avan-
adas, na verdade, padeceriam de uma crise moral,
autodestrutiva, que soterrava o bem-viver sob os cl-
culos do PNB e da expanso do consumo de durveis. A
substncia humana dizia Schumacher no pode
ser medida pelos ganhos quantitativos proporcionados
pela economia, e sim, pelos sintomas de perda obser-
vados, com a expanso da criminalidade, do consumo
de drogas e do vandalismo. Assim, (...) ns temos que
incisivamente entender o problema e comear a vis-
lumbrar a possibilidade de desenvolver um novo estilo
de vida, com novos mtodos de produo e novos pa-
dres de consumo; um estilo de vida voltado para a
permanncia
9
.
Mas por que a expanso econmica acelerada do ps-
guerra no poderia prosseguir? Schumacher foi alm da
idia de limites fsicos para o crescimento econmico,
denunciando tambm suas conseqncias morais.
Condenou Keynes e os fomentadores do capitalismo
dirigido por orientarem os homens e os sistemas
econmicos no caminho da cobia, desprezando assim
todas as possveis implicaes ticas de uma expanso
desenfreada do produto. Rejeitou ainda a idia de que a
construo da paz e do desenvolvimento social
pretensos frutos do Welfare State e do keynesianismo
seria possvel por meio do incentivo avareza, restando
tica contentar-se em vigorar to somente no final deste
processo, quando uma sociedade plena tivesse sido
erigida. Imediatamente encontramos uma sria difi-
culdade: o que suficiente? Quem pode nos dizer?
Certamente no o economista que busca o crescimento
econmico como o mais nobre de todos os valores (...)
onde est a sociedade rica que diz: Chega! Temos o
suficiente? Ela no existe.
10
A plenitude e a prosperidade do Welfare State
significavam, para Schumacher, a exausto energtica
e ambiental do planeta, sendo portanto uma promessa
impossvel de ser cumprida. Assim, uma sociedade que
buscasse valores voltados para a vida humana sim-
plesmente no poderia prosseguir no caminho da busca
de riquezas, tendo em vista que este no seria compatvel
com a realidade de um meio ambiente limitado. O
Produto Interno Bruto pode crescer rapidamente: tal
como medido pelos estatsticos, mas no do modo como
vivenciado pela populao, que encontra-se oprimida
pela crescente frustrao, alienao, insegurana, entre
outros
11
. Assim, na medida em que as naes tornam-
se industrialmente bem sucedidas, se defrontam com
problemas morais e espirituais que devem passar a
ocupar uma posio central no espectro de atenes da
sociedade.
Toda expanso das necessidades tende a expandir a
dependncia em relao foras externas que no se
pode controlar, assim aumentando o temor existencial.
Apenas pela reduo das necessidades que se pode
promover uma genuna reduo nestas tenses que so
as causas ltimas do conflito e da guerra.
12
Estas questes morais estariam ligadas, portanto,
busca da sabedoria, ou em outras palavras, da perma-
nncia, da sustentabilidade da vida no planeta
13
.
A materialidade dos Limites
para o Crescimento
Hirsch rejeitou a preponderncia dos limites fsicos
para o crescimento, afirmando que as concluses obtidas
por Meadows em The Limits to Growth no expressavam
o verdadeiro dilema do capitalismo ocidental nos anos
1970
14
. Os entraves expanso econmica no estariam
ligados necessariamente escassez de recursos naturais
considerando-se a inovao tecnolgica e a capacidade
de substituio destes insumos por outros , e uma
situao de inviabilidade do sistema no estaria situada
num horizonte distante de um sculo. Para Hirsch, os
entraves j estariam plenamente presentes naquela
dcada, com conseqncias menos apocalpticas que as
vislumbradas pela equipe do MIT. Nesse sentido, a
preocupao com os limites do crescimento expressada
9
SCHUMACHER. Op. cit., p. 10-11; 16-17.
10
Id., p. 19.
11
Ibid., p. 25.
12
Ibid. , p. 26-27.
13
Ibid., p. 18-27.
14
Refere-se ao o relatrio The Limits to Growth, elaborado pela equipe do ambientalista Dennis L. Meadows, do Massachusetts
Institute of Technology (MIT), e apresentado ao Clube de Roma em 1972, no mbito do projeto On The Predicament of Mankind
(Sobre o Desafio da Humanidade).
62 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 59-67 1 sem. 2009
pelo Clube de Roma est notavelmente mal colocada
15
.
O cerne do problema estaria na falsa promessa do
Welfare State, de que o crescimento econmico ace-
lerado e a interveno do Estado no ps-guerra gerariam
uma nova sociedade, materialmente afluente, com renda
democratizada, paz social e bem-estar garantidos. Ao
contrrio, os valores tidos como hegemnicos sob o
Welfare State teriam aguado o conflito social e a com-
petitividade entre os indivduos, provocando assim
diversas fontes de frustrao e mal-estar existencial.
A disseminao da economia material e do acesso
aos bens de primeira necessidade nas sociedades indus-
triais portanto, a elevao do nvel de consumo privado
individual teria deslocado o significado do bem-estar
para alm das condies de vida dignas, depositando-
o no consumo cada vez mais intenso dos chamados bens
posicionais, ou seja, a) passveis de escassez fsica ou
social (jias, obras de arte, produtos industriais de tira-
gem limitada, artesanato de luxo); ou b) impassveis de
consumo generalizado, sob pena de congestionamento
e desvalorizao (manufaturados de altssima tecnolo-
gia, veculos de luxo, turismo, vrios servios pessoais,
servios educacionais especiais, etc). Em suma, era o
acesso aos chamados bens de status que determinaria,
na sociedade do Welfare State, os vencedores e os per-
dedores. Ocorre que a elevao geral das rendas nacio-
nais por meio do crescimento econmico e como
conseqncia, a expanso do poder aquisitivo da popu-
lao como um todo no permitiria, por definio,
que a riqueza oligrquica a aquisio de bens
posicionais , fosse difundida pela sociedade. O acesso
a estes bens de status seria determinado pela renda
relativa, isto , pela posio hierrquica atingida pelo
indivduo no conjunto das rendas pessoais, e no pela
renda absoluta.
Uma pessoa pode aumentar sua capacidade de
adquirir [bens posicionais] melhorando sua posio na
distribuio de renda e riqueza, isto , tornando-se mais
rica em relao aos seus prximos. O mesmo resultado
no ser obtido se ela tornar-se mais rica juntamente
com aqueles que a cercam (...).
16
O crescimento econmico geraria expectativas de
uma completa distribuio do acesso aos bens posicionais
em toda a sociedade; tal possibilidade seria, no entanto,
uma completa mistificao, na medida em que os meca-
nismos de preos tenderiam a encarecer os bens de status
de acordo com os nveis de crescimento da renda global,
conservando assim a hierarquia de consumo. As esco-
lhas oferecidas pelas oportunidades de mercado so
celebradas como um elemento libertador para o indi-
vduo. Infelizmente, a libertao individual no se faz
para todos os indivduos em conjunto
17
. Em suma, o
crescimento econmico acirraria o conflito distributivo,
ao invs de ameniz-lo.
Hirsch enfatizou as implicaes coletivas das deci-
ses individuais, sob orientao da lgica de mercado.
Tomando como exemplo a crena, generalizada nos
anos sessenta e setenta, de que o investimento pessoal
em capital humano (educao e treinamento) seria um
dos principais vetores de difuso do bem-estar material
(atravs de empregos de maior remunerao), afirmou
que a expanso desenfreada da demanda por servios
educacionais de todo o tipo reduziu, e no expandiu, a
possibilidade de prosperidade econmica para uma maior
parcela da populao. Na medida em que o acesso
educao desempenha uma notria funo hierarqui-
zadora nas sociedades de capitalismo avanado fun-
cionando, portanto, como um bem posicional , e a
elevao do nmero de diplomados no acompanhada
pela mesma expanso de postos de trabalho de alta
renda, os critrios de seleo tornam-se cada vez mais
proibitivos, preservando-se a hierarquia no acesso aos
bens de status. Assim, a tomada de decises individuais
em um ambiente de acirrada competio provoca gran-
des perdas sociais, ao invs de ganhos. (...) o desperdcio
social resultar das expectativas decepcionadas dos
indivduos e da frustrao que experimentam em terem
de aceitar empregos em que no podem usar plena-
mente o conhecimento adquirido
18
. O valor, para mim,
da minha educao depende no s do seu grau, mas
tambm do grau de educao do homem que est
minha frente na fila de candidatos a um emprego
19
. O
mesmo raciocnio valeria para o consumo de todos os
15
HIRSCH. Op. cit., p. 17.
16
Id., p. 58-59.
17
Ibid., p. 46.
18
Ibid., p. 81.
19
Ibid., p. 16.
63 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 59-67 1 sem. 2009
bens posicionais, condio de obteno do bem-estar
sob o Welfare State: Em lugar de aliviar a procura
insatisfeita no sistema econmico, o crescimento ma-
terial a exacerba, a esta altura. O centro da instabilida-
de a divergncia entre o que possvel ao indivduo e o
que possvel para todos
20
. Quanto maior a renda m-
dia na sociedade, maiores seriam as frustraes pela
preservao das hierarquias. O progresso geral sob o
capitalismo acelerado seria, portanto, para Hirsch, uma
iluso
21
.
Hirsch e Schumacher no foram os porta-vozes
privilegiados de uma vanguarda, e sim, exemplos de um
ambiente intelectual em transformao nos anos setenta.
Suas crticas no foram nicas, e as especificidades de
suas anlises no representavam espcie alguma de
discurso comum. Suas preocupaes gerais faziam coro
com uma gama de outras, demonstradas por intelectuais
progressistas e ativistas sociais. Gradualmente, o resul-
tado deste esforo intelectual em conjunto foi o bastante
para transformar os parmetros nos quais o problema
do desenvolvimento econmico era pensado por foras
polticas no campo dos partidos de esquerda reformistas.
Limites Conceituais para o Crescimento
Alm dos limites fsicos e dos limites sociais, foi
comum entre as elites intelectuais reformistas a idia de
limites conceituais e tericos para o crescimento eco-
nmico; ao desconsiderar questes basilares e enfatizar
outras, deletrias ou desnecessrias, a cincia econmica
referncia intelectual das lideranas polticas e empre-
sariais viria transformando a interao entre Socie-
dade e Economia em uma relao de submisso da
primeira em relao segunda. Assim, mais uma vez, o
capitalismo de crescimento acelerado revelaria outra de
suas perversas faces, ao descumprir as promessas do
Welfare State de uma vida plena e livre.
do economista tcheco Eugen Lbl
22
uma im-
portante critica setentista cincia econmica ocidental.
Em Humanomics
23
, de 1976, Lbl atacou dois sculos de
pensamento econmico ao rejeitar os pressupostos da
economia clssica, bem como da economia neoclssica,
da reviso keynesiana e do marxismo, entendidos todos
eles como frutos de uma concepo de cincia
inadequada, e portanto, indesejvel pelas suas
conseqncias.
Para Lbl, parte substancial dos problemas pro-
vocados pelo capitalismo acelerado e pelo Welfare State
provm de uma concepo de Economia que descon-
sidera o Homem em sua condio fundamental de
criatura pensante, na medida em que adota princpios
mecanicistas e objetivistas como instrumentos de
explicao da dinmica econmica. Para que o sistema
econmico sirva ao Homem, e no o inverso o Homem
seja escravo de sua prpria criao , preciso que este
mesmo sistema seja regido por concepes cientifico-
filosficas que valorizem o emprego das capacidades
intelectuais de cada indivduo, bem como o poder hu-
mano de escolher e direcionar o destino das sociedades.
Entretanto, desde Quesnay e Smith, a Economia teria
sido constituda como uma cincia tipicamente new-
toniana, que considera a dinmica econmica de forma
mecnica, regulada por leis objetivas e invariveis,
externas portanto ao controle humano. Marx tambm
teria respondido a esta mesma lgica objetivista ao
formular os princpios do materialismo dialtico, e Key-
20
Ibid., p. 103.
21
Ibid., p. 15-16; 50-51; 61-64; 74-84; 101-103.
22
Eugen Lbl (1907-1987) nasceu em Holitz, Imprio Austro-Hngaro (atualmente Hol, Repblica Eslovaca). Formou-se em
Engenharia, tendo prosseguido seus estudos em Viena. Na juventude participou de grupos de intelectuais esquerdistas. Sob a
influncia destes grupos ingressou no Partido Comunista de Tchecoslovquia em 1931. Em 1937 tornou-se Secretrio da Unio de
Amigos da Unio Sovitica. Em 1939, migrou para Londres sob ordens do Partido, atuando no Fundo para Refugiados Tchecos. Em
1943 foi indicado pelo governo tcheco, no exlio em Londres, como Conselheiro do Ministro da Economia Jn Masaryk, e ocupou
cargo de destaque no Ministrio para Renovao Econmica da Tchecoeslovquia. Foi Ministro do Comrcio Exterior de 1945 at
1949, quando foi preso sob influncia do governo sovitico e expulso do Partido, acusado de traio e de reformismo (defendia a
intensificao do comrcio com o Ocidente, por exemplo). Foi condenado priso perptua em 1952 por traio, espionagem e
sabotagem, e em 1955, escreveu testemunho sobre os mtodos de investigao, interrogatrio e julgamento do governo comunista
tcheco. Em 1960, Lbl foi solto, e em 1963, reabilitado. Atuou no Banco Estatal da Tchecoeslovquia como Diretor Regional.
Insatisfeito pelo cargo ocupado, e cioso por tornar prticas suas idias de reforma econmica, desejava retomar o cargo de Ministro
do Comrcio Exterior, mas sem sucesso. Convidado a palestrar em pases capitalistas, teve vrias permisses negadas pelo governo.
Em 1967, a Academia Eslovaca de Cincias publicou um de seus libelos contra o marxismo e a favor de transformaes polticas e
econmicas em seu pas (vahy o Duevnej Prcia Bohatstve Nroda, ou Reflexes sobre o Trabalho Intelectual e a Riqueza das
Naes). Com a Primavera de Praga e a represso sovitica a partir de 1968, Lbl deixa seu pas e migra para os Estados Unidos,
tendo atuado como Professor de Economia e Cincia Poltica no Vassar College, de Nova Iorque, at 1976.
23
Humanomics: how we can make the economy serve us, not destroy us foi publicado pela primeira vez em 1976, pela Random House
de Nova Iorque, Estados Unidos. Foi publicado no Brasil como LOEBL, Eugen. A Humanoeconomia: como poderemos fazer com que
a economia nos sirva e no nos destrua. Trad. Csar Tozzi. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1978.
64 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 59-67 1 sem. 2009
nes no teria oferecido qualquer alternativa aos prin-
cpios positivistas presentes no pensamento econmico
neoclssico.
A orientao geral da cincia econmica contem-
pornea teria sido, para Lbl, a nfase em aspectos quan-
tificveis, fazendo cristalizar-se a idia, por exemplo, de
que a Economia no nada mais que o conflito em torno
da distribuio de recursos escassos. Todos os demais
aspectos que efetivamente movem os sistemas econ-
micos aqueles que no podem ser quantificados
seriam sumariamente desprezados. A Economia mo-
derna seria tambm uma cincia desprovida de noo
de tempo e espao. Na medida em que se limita a analisar
o que produzir, como e para quem, o pensamento
econmico ocidental do mainstream permitir-se-ia
comparaes absurdas, tais como entre economias tri-
bais e o turbo-capitalismo norte-americano, vistas como
diferentes somente no que diz respeito quantidade
de conhecimento acumulado em uma e em outra. Ape-
sar, portanto, de sua nfase no quantificvel e no com-
provvel, a cincia econmica ocidental, para Lbl,
estaria desligada de toda a complexidade da realidade
social.
A crise da economia, responsvel pela crise socio-
econmica de nossos dias, no se deve a qualquer de-
ficincia dos economistas, nem falta de seu conhe-
cimento ou sofisticao. Deve-se a estes princpios
bsicos da economia, inclusive seus sistemas de
referncia.
24
As relaes de mercado, a determinao dos preos e
a idia de Equilbrio, todas elas concebidas como ex-
presses de foras para alm do Homem, seriam na
verdade concepes falaciosas ou totalmente desprovidas
de sentido
25
.
Hirsch e Schumacher tambm criticaram a nfase
nos aspectos quantificveis por parte da cincia eco-
nmica tradicional, em especial no que diz respeito aos
procedimentos de clculo do Produto Nacional Bruto,
medida por excelncia do bem-estar sob o capitalismo
acelerado do Welfare State. Para Hirsch, o PNB repre-
sentaria um cone do reducionismo e da ineficincia da
teoria econmica, na medida em que contabiliza indis-
criminadamente toda a produo e o consumo em uma
sociedade, no levando em conta o essencial, que seriam
as especificidades do mesmo processo de consumo e de
produo. Sob este raciocnio, a expanso do uso pessoal
de combustvel para aquecimento em um inverno rigo-
roso significaria aumento de consumo, que por sua vez
indicaria uma absoluta melhoria do bem-estar da po-
pulao. Da mesma forma, a expanso dos gastos posi-
cionais com educao indicariam uma elevao do bem-
estar da populao. A expanso da produo e consumo
de automveis tambm seria um importante ndice nos
clculos do Produto Nacional, bem como a elevao dos
gastos governamentais na conteno da poluio.
Entretanto, em nenhum destes casos o clculo do PNB
revelaria realmente algo sobre a felicidade e o bem-
viver em uma dada sociedade: a maior utilizao de
combustvel representou mais despesas para o consu-
midor, a contratao de dispendiosos servios educa-
cionais representou um gasto defensivo contra a
concorrncia, mais veculos em circulao provocam
maior emisso de poluentes e congestionamento urbano,
com conseqncias para a sade humana. Assim, con-
clua que (...) a noo de bem-estar se relaciona com a
qualidade das necessidades, e no apenas com a diferen-
a algbrica entre necessidades subjetivas e sua satis-
fao (...)
26
. Assim, a orientao benthamita na concei-
tuao do bem-estar nas sociedades capitalistas ociden-
tais onde a capacidade aquisitiva o critrio mais im-
portante provocaria distores graves; seria insufi-
ciente para apreender o fato de que quanto mais necessi-
dades bsicas so atendidas pela indstria, novas e mais
refinadas necessidades so criadas, gerando uma espcie
de consumo que antes defensivo ou seja, uma forma
de preservar o lugar na hierarquia social que real-
mente um ndice de melhoria de vida
27
.
Segundo Schumacher, a Economia teria ultrapassado
os limites em que uma cincia poder ser socialmente
benfica, na medida em que pretendia normatizar toda
a realidade. A teoria econmica convencional, quando
enfatiza o clculo do Produto Nacional Bruto como ndice
de bem-estar, deixa de responder a questes morais e
ticas. Seria o crescimento do PNB algo bom ou
24
Id., p. 30.
25
Ibid., p. 26-44.
26
HIRSCH. Op. cit., p. 93.
27
Ibid., p. 85-97.
65 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 59-67 1 sem. 2009
ruim? Quem se beneficia dele e como? A idia de que
pode existir um crescimento patolgico, um crescimen-
to insalubre, desagregador e destruidor para ele [o
economista tradicional] uma idia perversa que no deve
ser permitida de emergir
28
. A desmedida influncia da
teoria econmica sobre as sociedades e governos
modernos expressar-se-ia pela sua capacidade em
determinar aquilo que econmico (ou seja, vlido de
ser buscado) e o que no-econmico. Assim, os
economistas viriam utilizando-se da relao custo-
benefcio e do valor monetrio como uma forma de
analisar qualquer aspecto da vida humana, mesmo a
explorao do capital natural consubstanciado nos
recursos renovveis e no-renovveis. No levar-se-ia
em conta que a expanso do consumo e da produo
requer suprimentos de recursos escassos, que no
poderiam ser disponibilizados magicamente por meio
do mercado. O nico critrio para determinar a im-
portncia relativa destes diferentes bens a taxa de lu-
cro que pode ser obtida disponibilizando-os
29
. Em
outras palavras, ns devemos esperar que a Economia
estabelea suas metas e objetivos a partir de um estudo
do Homem, e que a metodologia para este estudo deve,
ao menos em grande parte, se estabelecer a partir do
estudo da Natureza
30
. Assim, as distores provocadas
pela compreenso equivocada dos economistas deveriam
ser revertidas atravs de uma cincia econmica mais
reflexiva
31
.
Consideraes finais: por um novo modelo
de desenvolvimento nos anos 1970
Apontando, portanto, limites sociais e conceituais para
o crescimento econmico, estes intelectuais reformistas
deram, nos anos 1970, um importante passo rumo
conceituao de um novo padro de desenvolvimento,
que buscava oferecer uma alternativa de superao do
capitalismo do Welfare State. Estas alternativas va-
riaram conforme o diagnstico da crise assumido por
cada um dos intelectuais envolvidos no debate sobre os
limites para o crescimento.
Schumacher destacou a importncia das pequenas
unidades produtivas, do emprego de trabalho humano e
de mtodos e processos poupadores de recursos naturais.
Ao reconhecer os limites morais do crescimento eco-
nmico, buscou conceber alternativas para um padro
de desenvolvimento baseado em (...) uma nova orien-
tao de cincia e tecnologia em direo ao orgnico,
ao gentil, ao no-violento, ao elegante e ao belo
32
.
Acreditou que um futuro prspero e sustentvel para a
civilizao dependia da produo e difuso de maqui-
nrio e instrumentos de trabalho com baixo custo,
fomentando assim o deslocamento da nfase na grande
indstria erro fatal do capitalismo acelerado do
Welfare State em direo reduo das unidades
produtivas at atingir-se a completa disseminao do
auto-emprego. Um sistema econmico baseado em
produtores autnomos e servido por bens de capital
compatveis garantiria o resgate do trabalhador como
sujeito de seu prprio destino, bem como teria impactos
positivos na eliminao do desemprego estrutural.
Mtodos e tcnicas voltados para o auto-emprego
valorizariam a criatividade humana, contribuindo para
consolidar uma filosofia do trabalho que no o enten-
desse como uma atividade automtica e alienada, e sim
como algo decretado pela Providncia, para o bem do
corpo e da alma. O ponto de partida de um novo padro
de desenvolvimento estaria em (...) um planejamento
para o pleno emprego, e o seu propsito principal seria
o emprego para todos que precisam de um emprego
externo: isto no seria a maximizao do emprego,
nem a maximizao da produo
33
. Alm disso,
pequenas unidades produtivas e produo em pequena
escala tenderiam a ter um menor impacto sobre o meio
ambiente que aquele provocado pelas grandes in-
dstrias
34
.
A preocupao ambiental marcante no padro de
desenvolvimento desenhado por Schumacher, em
especial atravs de suas concepes sobre a relao entre
o homem e a terra nas prticas agrcolas. Em uma so-
ciedade voltada para a permanncia e para a susten-
tabilidade, o uso adequado do solo no deveria ser
28
SCHUMACHER. Op. cit., p. 40.
29
Ibid., p. 40-41.
30
Ibid., p. 38.
31
Ibid., p. 33-42.
32
Ibid. , p. 26-27.
33
Ibid., p. 47. Schumacher entendia que as mulheres no precisariam de trabalho externo, uma vez que suas tarefas em cuidar dos
mais jovens j seriam trabalho suficiente e necessrio.
34
Ibid., p.26-31.
66 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 59-67 1 sem. 2009
entendido como uma questo de ordem econmica, e
sim, antes de tudo, metafsica. Em outras palavras, a
transposio da lgica industrial para a agricultura
reduo de custos e elevao da eficincia produtiva
estaria levando a uma ruptura danosa na harmonia
existente entre a humanidade e o Planeta, entendidos
como uma unidade no ciclo da vida. A agricultura, que
representaria o manejo de processos vitais, estaria sendo
paulatinamente moldada de acordo com os parmetros
da indstria, que simbolizaria a eliminao do fator
vivo da produo atravs da automao e do uso de
insumos sintticos. Desta forma, o balano entre o
natural e o criado estaria sendo corrompido, amea-
ando a permanncia da civilizao. Os recursos na-
turais
(...) so fins em si mesmos; so meta-econmicos, e
por isso racionalmente justificvel dizer que (...) so
sagrados de alguma forma. O homem no os fez, e seria
irracional para o homem tratar coisas que no foram e
nem podem ser feitas ou recriadas por ele aps des-
trudas da mesma forma que trataria obras de sua pr-
pria criao.
35
Um novo padro de desenvolvimento, portanto, no
poderia prescindir de uma agricultura sustentvel, onde
fosse possvel manter o homem em contato com a
natureza viva, enobrecer o habitat e produzir alimentos
e materiais necessrios para uma vida digna. Podemos
dizer que o manejo da terra pelo homem deve ser
prioritariamente orientado na direo de trs objetivos
sade, beleza e permanncia. O quarto objetivo (...),
produtividade, ser ento obtido quase como um sub-
produto
36
. A sustentabilidade deveria ser fomentada por
meio de polticas pblicas que viabilizassem a recons-
truo da cultura rural, a difuso do acesso terra, e o
desenvolvimento territorial local (ou seja, a agricultura
sustentvel da localidade produzindo alimentos e
materiais com mo-de-obra e insumos locais, para o
consumo da populao local).
Produo atravs de recursos locais para necessida-
des locais a forma mais racional de vida econmica,
enquanto a dependncia de importaes e a conseqente
necessidade de produzir para exportar para pessoas
distantes e desconhecidas no-econmica e justificada
somente em casos excepcionais, e em pequena escala.
37
Assim, um melhor caminho para a obteno da
permanncia seria o abandono completo da idia de
crescimento econmico e o apoio a atitudes modestas de
no-violncia, como aquelas demonstradas pelos
conservacionistas, ecologistas, promotores da agricultura
orgnica, entre outros.
O conhecimento, a cincia e a tecnologia tambm
cumprem um papel fundamental na anlise de Lbl.
Acreditava que uma nova sociedade e um novo padro
de desenvolvimento deveriam contemplar ou adviriam
das novas tecnologias da informao e das comu-
nicaes, entendendo-as como a chave de um mundo
ps-industrial. Para Lbl, o conhecimento humano a
origem de toda a riqueza, e no a terra, ou o capital, ou
o trabalho, tal como postulado em diferentes momentos
pela teoria clssica, neoclssica e marxista. Em um tempo
no qual a cincia aplicada havia substitudo o trabalho
manual na transformao das foras naturais em foras
produtivas, a capacidade intelectual apareceria como
elemento chave na viabilizao do desenvolvimento
econmico. O pensamento seria o principal motor do
ganho em uma sociedade, que consistiria da elevao
dos padres de vida, relativamente desconexo em rela-
o ao processo de crescimento econmico em si. Um
medicamento qualquer, por exemplo, poderia ser inter-
pretado como um produto de avanados processos
industriais, ou como um fator de ganho para a socie-
dade, na medida em que permitiria expandir o bem-estar
e a expectativa de vida, bem como reduzir o sofrimento
advindo de uma molstia. Remdios, assim como muitos
outros fatores de ganho, seriam produtos do intelecto
humano antes de serem fruto do output industrial.
Ganho se materializa em riqueza, num padro mais
elevado de vida, e num grau mais elevado de inde-
pendncia da natureza, para citar algumas mani-
festaes
38
.
Concluindo, um novo padro de desenvolvimento
demandaria uma nova tecnologia, que pudesse superar
35
Ibid., p. 88.
36
Ibid., p. 93.
37
Ibid., p. 49.
38
LOEBL. Op. cit., p. 10.
67 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 59-67 1 sem. 2009
a degradao dos recursos ambientais e o desemprego, e
no agrav-los, tal como aconteceria sob o capitalismo
acelerado. Alm de dimenses econmicas e sociais
evidentes, a tecnologia poupadora de trabalho e con-
sumidora de energia teria conseqncias existenciais
graves, na medida em que o homem ver-se-ia cada vez
mais privado do trabalho criativo, com intensas impli-
caes ldicas, que lhe permitiria um contato saudvel
com o mundo material. A quantidade de satisfao real
de que uma sociedade desfruta tende a ser inversamente
proporcional quantidade de maquinaria poupadora de
trabalho empregada nela
39
. Assim, a tecnologia deveria
ser utilizada de forma sbia e no-destrutiva, de modo
a auxiliar no aumento do tempo social gasto com tra-
balho manual; tal orientao no implicaria a reduo
do bem-estar, haja visto que o labor tenderia, desta
forma, a aproximar-se cada vez mais do lazer, perdendo
paulatinamente sua dimenso rotineira e alienada,
aproximando-se do emprego pleno da criatividade e das
potencialidades individuais. Poderamos chamar isso de
tecnologia de auto-ajuda, ou tecnologia popular, ou
democrtica uma tecnologia em que todos so
permitidos e que no est reservada aos que j so ricos
e poderosos
40
. As sociedades ocidentais inclusive
aquelas em processo de desenvolvimento no neces-
sitariam de produo em massa, mas sim, produo
para a massa e pela massa, atravs de mtodos ecol-
gicos e descentralizados.
41
Referncias
BELL, Daniel. O Advento da Sociedade Ps-Industrial: uma
tentativa de previso social. Trad. Helosa de Lima Dantas.
So Paulo: Cultrix, 1977.
DRUCKER, Peter. Uma Era de Descontinuidade: orientaes
para uma sociedade em mudana. Trad. J.R. Brando Aze-
vedo. Rio de Janeiro: Zahar, 1970.
HIRSCH, Fred. Limites Sociais do Crescimento. Trad.
Waltersir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
LOEBL, Eugen. A Humanoeconomia: como poderemos fazer
com que a economia nos sirva e no nos destrua. Trad. Csar
Tozzi. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1978.
MEADOWS, Dennis et al. The Limits to Growth: a report for
the Club of Romes project on the predicament of mankind.
2. ed. New York: New American Library, 1975.
SCHUMACHER, E. F. Small is Beautiful: a study of economics
as if people mattered. London: Abacus, 1974.
WOODWARD, Herbert N. Capitalismo Sem Crescimento.
Trad. lvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.
YERGIN, Daniel e STALINSLAW, Joseph, The Commanding
Heights: the battle for the world economy. New York, Tou-
chstone, 2002.
39
SCHUMACHER. Op. cit., p. 124.
40
Ibid., p. 128.
41
Ibid. , p. 84-95; 122-132.
69 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 69-78 1 sem. 2009
Introduo
O presente artigo pretende apontar as caractersti-
cas dos caminhos seguidos pelo governo angolano aps
a independncia em relao questo do desenvolvi-
mento agrrio. O ideal marxista-leninista assumido
oficialmente pelo MPLA teve impacto importante nas
polticas para o setor da agricultura.
Na primeira parte do artigo apresentamos o am-
biente poltico no contexto da independncia de Angola,
e o desequilbrio instalado no pas. A seguir, procura-
mos chamar ateno para a estrutura do Estado que
nascia, e direcionamos posteriormente para as difi-
culdades da experincia agrcola em Angola.
Os desdobramentos polticos
aps a independncia de Angola
em 11 de novembro de 1975
Os movimentos de libertao colonial em Angola
(MPLA
1
, FNLA
2
e UNITA
3
) estavam divididos e enfraque-
cidos na altura da Revoluo dos Cravos (25 de abril de 1974),
no qual o Movimento das Foras Armadas de Portugal
derrubou o regime salazarista de Marcelo Caetano.
As caractersticas da experincia socialista na
agricultura de Angola aps a independncia
Rodrigo de Souza Pain
Doutor pelo Programa de Ps-Graduao de Cincias Sociais em Desenvolvimento,
Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA /UFRRJ).
Membro do Centro Angolano de Altos Estudos Internacionais (CAAEI). E-mail: rodrigo_pain@ig.com.br
Ivan Arruda
Mestrando em Educao pela Pontifcia Universidade Catlica da Campinas.
Professor da Faculdade de Pindamonhagaba-SP (FAPI). E-mail: profivanarruda@hotmail.com
Resumo
As dificuldades encontradas na recm independente
Repblica Popular de Angola, principalmente no
desenvolvimento agrrio est no centro do artigo. Desta
forma, apresentamos a criao de instituies no seio do
governo socialista do Movimento Popular de Libertao
de Angola (MPLA), a instabilidade poltica vivida no pas,
o conflito armado e suas implicaes para a agricultura.
Palavras-chave: Agricultura. Angola. Socialismo e
Desenvolvimento Agrrio.
Abstract
The difficulties found in just the independent Popular
Republic of Angola, mainly in the agrarian development
are in the center of the article. In such a way, we present
the creation of institutions in the socialist government of
the Popular Movement of Release of Angola (MPLA), the
instability politics lived in the country, the armed conflict
and its implications for agriculture.
Keywords: Agriculture. Angola. Socialism and Agrarian
Development.
1
A origem do MPLA data-se como partido poltico em 10 de dezembro de 1956, fundado como resultado da fuso de outras organizaes.
Sua base de apoio saiu das comunidades de brancos, mestios e Kimbundu.
2
A FNLA surgiu entre o povo Bacongo, do norte de Angola. Suas origens vm da fundao da UPNA (Unio dos Povos do Norte de
Angola) e UPA (excluindo a referncia do norte) em julho de 1955. Inicialmente o idealismo da UPA partia da idia de reativar o
antigo Reino do Congo. Em maro de 1962, forma a FNLA com a unificao da UPA com o Partido Democrtico de Angola (PDA).
3
A UNITA foi o ltimo dos trs movimentos a ser fundado. Jonas Savimbi, seu lder, acusou Holden Roberto, lder da FNLA de
regionalismo e faccionismo quando trabalhavam juntos. Sua base de apoio principal entre o povo Ovimbundu do Planalto
Central, e principal grupo tnico de Angola. Sua fundao data o dia 13 de maro de 1966.
70 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 69-78 1 sem. 2009
Aps diversas negociaes, chegou-se ao Acordo de
Alvor, que previa um governo de transio com repre-
sentantes do governo portugus e dos trs movimentos
at a independncia, prevista para 11 de novembro de
1975.
No entanto, esse governo de transio no consegue
por fim as hostilidades entre esses trs movimentos, que
aumentam o contingente militar, continuando a guerrear
entre si, colocando Portugal, que passava por uma
instabilidade poltica interna, sem condies suficientes
para impor o previsto no Acordo. Destarte, a guerra civil
instala-se no pas e o MPLA vence a batalha de Luanda,
em Julho de 1975 passando a ser o nico movimento no
governo, controlando militarmente doze das ento
dezesseis provncias do pas.
Prximo ao dia marcado para a independncia, o Alto
Comissrio e demais membros portugueses de gover-
nao e do exrcito se retiram de Angola, entregando o
poder de soberania nas mos do povo angolano. O
MPLA proclama ento a independncia, em Luanda, sob
a liderana de Agostinho Neto, no meio de conflitos
armados generalizados, com duas invases estrangeiras
(frica do Sul e Zaire) e interveno cubana. Dessa ma-
neira, a independncia, conforme aponta o socilogo Jos
Maria Nunes Pereira Conceio, em sua tese de dou-
torado, nasce no interior de uma crise generalizada
4
.
Uma das conseqncias do perodo da guerra da
independncia foi o abandono macio dos portugueses
de terras angolanas. As terras ocupadas por eles, e por
alguns estrangeiros foram deixadas de lado quase na
totalidade. Como a poltica agrcola que surgia no seio
do Partido nico naquele momento no encorajava a ini-
ciativa privada, muito menos familiar, as reas efetiva-
mente agricultveis foram drasticamente reduzidas, au-
mentando por outro lado, as terras efetivamente vagas.
Nesse contexto, importante salientar que o pero-
do anterior independncia e caracterizado da luta de
libertao nacional (a partir dos meados dos anos 1950)
no provocou danos substantivos produo agrria da
colnia, pois ela foi travada basicamente em reas sem
grande importncia econmica e jamais alcanou nveis
de alta intensidade como nos conflitos armados que se
seguiram
5
. Devido ao clima de instabilidade na poca da
independncia, Angola sentiu com o xodo de mais de
300.000 colonos brancos
6
.
Estrutura poltica angolana
ps-independncia
Em parte da Angola independente, o movimento de
libertao que assumiu o controle do poder, o MPLA,
tornou-se partido nico e, dois anos depois, adotou o
marxismo-leninismo como sua doutrina e de Estado,
transformando-se em MPLA-PT (Partido do Trabalho)
7
.
Assim, o centro de todas as decises importantes da
sociedade e do Estado estava localizado no partido. Isto
significa, pelo menos na teoria, que o partido quem
comanda o Estado
8
. O governo esteve formalmente
subordinado ao MPLA. A poltica econmica foi con-
duzida por um partido-Estado que via na naciona-
lizao dos meios de produo uma forma de demo-
cratizao das estruturas econmicas do pas.
Os rgos governamentais em funcionamento ao
nvel nacional eram o Comit Central, a Diviso Poltica
do MPLA e o Conselho de Ministros, responsvel pela
implementao das polticas do partido. No que diz
respeito ao judicirio
9
, a Constituio adotada em 1975
estipulava um judicirio independente, mas de 1976 at
o incio dos anos 1990, a principal instncia jurdica foi
o Tribunal Revolucionrio do Povo que interrogava
prisioneiro acusado de por em perigo a segurana do
Estado, ou de algum tipo de sabotagem econmica
10
.
4
CONCEIO, Jos Maria Nunes. Angola: uma poltica externa em contexto de crise (1975-1994). Tese de Doutorado, Universidade de
So Paulo, 2002, p.14. No prprio dia 11 de novembro de 1975 eram criados dois Estados: a Repblica Popular de Angola, com
capital em Luanda e dirigido pelo MPLA; e a Repblica Democrtica de Angola, com capital em Huambo e encabeada pela FNLA
e UNITA (essa aliana durou apenas oitenta dias).
5
Idem, p. 60-61.
6
GALLI, Rosemary E. A crise alimentar e o Estado socialista na frica Lusfona. Revista Internacional de Estudos Africanos, n. 6-7,
Lisboa, 1987, p.146.
7
O MPLA podia ser considerado como uma coalizao de vrias foras nacionalistas e socialistas, e era fortemente influenciado pelo
marxismo. No entanto, a construo de uma economia e sociedade socialista no consta na verso original da Lei Constitucional de
1 9 7 5 .
8
Simbolicamente ao analisar a bandeira do pas recm independente e do partido, j nota-se semelhanas; assim como a idia
socialista presente no hino angolano.
9
A dificuldade para desenvolver o sistema judicirio foi muito grande, em Angola tinham apenas 4 advogados e 2 juizes no exato
momento da independncia.
10
TVEDTEN apud LIBERATTI, Marco Antonio. A guerra civil em Angola: dimenses histricas e contemporneas. Dissertao de
Mestrado, Universidade de So Paulo, 1999, p. 62.
71 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 69-78 1 sem. 2009
Tambm foram criados grupos polticos filiados ao
MPLA, organizaes que congregam de formas abran-
gentes categorias sociais, considerados genericamente
como organizaes de massa, e serviam de elo entre o
aparato burocrtico -administrativo do Estado angolano
e sua sociedade. Como exemplos podemos citar, a
Organizao das Mulheres Angolanas (OMA), a Ju-
ventude do Movimento Popular de Libertao de Angola
JMPLA), a Unio dos Jornalistas de Angola, e na rea
sindical, Unio Nacional dos Trabalhadores Angolanos
(UNTA)
11
.
No campo econmico seguindo a teoria marxista, a
estruturao do setor industrial estatal foi criada a partir
de confiscos, nacionalizaes e da construo das uni-
dades econmicas marcou o incio da Primeira Rep-
blica. As mais diversas formas de organizao criadas
em substituio ao aparelho do Estado colonial portu-
gus no encontravam dinamismo necessrio conso-
lidao e desenvolvimento das estruturas do Estado,
objetivando a construo do socialismo
12
.
Na rea educacional, na altura da independncia,
apenas 85 % da populao era iletrada e a sada radical
dos colonos significava tambm a fuga de professores.
Na verdade, a educao colonial herdada, no qual um
dos principais objetivos, segundo o educador brasileiro
Paulo Freire, era a desafricanizao das populaes
autctones, sendo discriminadora e em nada poderia
concorrer no sentido da reconstruo nacional, pois era
para isto no fora construdo
13
. A escola colonial era
antidemocrtica nos seus objetivos, no seu contedo, nos
seus mtodos, divorciada da realidade do pas, era, por
isso mesmo, uma escola de poucos, para poucos e contra
as grades maiorias. Selecionava at mesmo a pequena
minoria dos que a ela tinham acesso, expulsando grande
parte deles aps os primeiros encontros com ela, e, conti-
nuando a sua filtragem seletiva, aumentando o nmero
dos renegados. Esses renegados em quem enfatizavam
o sentimento de inferioridade, de incapacidade, em face
do seu fracasso
14
.
Dessa forma, o setor educacional converteu-se na
grande prioridade nacional para o novo governo
socialista. Ao mesmo tempo, numerosos centros de
alfabetizao foram ligados a empresas, mercados e
outras zonas de trabalho onde se concentrava a po-
pulao adulta. Porm, o grande crescimento alfa-
betizador desvaneceu progressivamente com a chegada
cada vez mais agressiva da guerra civil. A violenta
conjuno dos legados coloniais e blicos deixou as infra-
estruturas educacionais devastadas, uma contnua falta
de professores, muitas crianas fora da escola, e claro,
uma profunda incapacidade do governo na soluo destes
problemas.
No campo poltico, a tentativa de golpe de Nito Alves
abala a sociedade luandina. Em maio de 1977, con-
tradies sobre as formas da construo do socialismo
conduziram a uma tentativa de golpe de Estado, cuja
resposta em defesa da causa socialista acaba com uma
parte significativa da burguesia nacionalista angolana,
o que viria a fazer de Angola um pas mais fragilizado
nas vertentes poltica e militar. O nmero exato daqueles
que foram mortos ainda desconhecido, mas estimado
em dezenas de milhares.
A Assemblia do Povo estabelecida em 1980 e era
eleita por um sistema de voto indireto por membros do
MPLA. Com 350 membros, tinha pouca influncia, e no
representava adequadamente as mulheres, camponeses
e trabalhadores. Marco Antonio Liberatti, em sua dis-
sertao de mestrado, afirma que as maiorias dos mem-
bros eleitos eram provenientes das reas urbanas e eram,
em grande medida de alto escalo militar e funcionrios
do governo. Alm disso, a caracterstica mais acentua-
da do sistema poltico vigente em Angola era a forte
concentrao de poder nas mos do Presidente, que era
lder do Partido, Chefe do Estado e Comandante chefe
das Foras Armadas.
15
A instabilidade que se seguiu no perodo de inde-
11
A UNTA talvez tenha sido a organizao mais relevante em face ao desafio da reconstruo nacional e da transio para economia
socialista. Era importante para o MPLA ter uma fora de trabalho eficiente e organizada. No entanto, seu impacto foi limitado pelas
tarefas contraditrias de criar um sistema sindical forte e independente e de manter a produtividade e a disciplina no trabalho de
acordo com as diretivas do partido (Tvedten apud Liberatti, Op.cit., p. 63).
12
AMARAL, Jos G. Dias. Angola: a crise econmica na Primeira Repblica. Lucere. Revista Acadmica da Universidade Catlica de
Angola. Ano 1, nmero 1, Luanda, 2004, p. 53-54.
13
Apesar do autor analisar a experincia na Guin portuguesa (hoje Guin Bissau), pode-se muito bem falar na semelhana da
poltica colonial em Angola.
14
FREIRE, Paulo. Cartas Guin-Bissau. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, p. 15.
15
Fernando Pacheco comenta que freqente hoje (2004) atribuir todos os malefcios da vida poltica, social e econmica ao perodo
do facista-colonial e ao Leninismo, o que para ele no verdadeiro. Tanto as prticas facistas (como culto ao chefe, por exemplo),
como as leninistas (submisso direo centralizadora), complementam a matriz cultural bantu e, hoje, isso tm efeitos perniciosos
na sociedade. Tambm no faz parte das prticas angolanas a prestao de contas, no sentido de dar satisfao, apresentar resultados
72 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 69-78 1 sem. 2009
pendncia no permitiu que os processos de indus-
trializao e crescimento econmico tivessem conti-
nuidade. O sistema dualista de uso da propriedade de
terras e do desenvolvimento da agricultura continuou a
influenciar socialmente e politicamente o contexto
angolano mesmo aps a independncia
16
. Os governos
do MPLA (Agostinho Neto at 1979 e Jos Eduardo dos
Santos em diante) tm-se vindo a pautar por uma
posio que privilegia os centros urbanos, remetendo as
populaes rurais para uma crescente situao de
excluso que se traduz em vrios domnios, sejam
polticos, sociais, econmicos, institucionais, territoriais,
ou de referncias simblicas. Isso explica, para o
Presidente da ONG angolana Aco para o Desenvol-
vimento Rural e Ambiente (ADRA), Fernando Pacheco,
o desenvolvimento da guerrilha da UNITA entre 1976 e
1991
17
.
Situao da agricultura angolana em uma
conjuntura de crise
A Lei Constitucional de 1975, em seu artigo nmero
8, apontava a Repblica Popular de Angola considera a
agricultura como base e a indstria como fator decisivo
no seu desenvolvimento. Em 1978, o governo decidiu
chamar de ano da ano da agricultura, com a finalidade
de aumentar a produo agrcola, com todas as van-
tagens que da poderiam ocorrer para a satisfao das
necessidades alimentares da populao, para o abas-
tecimento de matrias primas para a indstria ou ainda
para melhorar a balana comercial (pela diminuio das
importaes e pelo aumento dos produtos agrcolas
exportveis). Procurou-se, desta forma, mobilizar toda
a fora de trabalho disponvel.
18
No entanto, a partir da independncia percebe-se uma
queda acentuada na produo agrcola. De acordo com
a FAO, estima-se que a produo agrcola tenha decado
sucessivamente desde 1974/1975. No se possuem dados
relativos s produes de 1974, 1975 e 1976 devido
situao de guerra. Em 1977 comearam as primeiras
informaes estatsticas ainda insuficientes para uma
anlise mais precisa
19
. Em 1983, por exemplo, as co-
lheitas atingiram o ndice 77 (para 100) quando com-
paradas a 1973. A mesma tendncia se verificou na
produo de cereais, ndice 66 em 1983.
20
O MPLA
instituiu um sistema estatal de comercializao que,
segundo a acadmica Rosemary Galli, no oferecia
preos convenientes para estimular a produo, nem era
capaz de fornecer aos camponeses transportes ou
abastecimentos regulares quer de bens de consumo, quer
de bens de capitais
21
.
Portanto, as polticas econmicas traadas ao longo
do perodo que sucede a independncia de Angola mos-
traram-se em prticas desajustadas aos objetivos pre-
conizados e realidade concreta do pas, com reflexos
mais acentuados no campo. O acesso terra urbana e
rural no foi uma fonte de preocupao em Angola nos
primeiros anos aps a independncia. A nacionalizao
foi o caminho encontrado. O documento produzido pelas
ONGs ACORD (Association Pour la Cooperation, re-
cherche et developement) e ADRA (Aco para o Desen-
volvimento Rural e Ambiente), elaborado por Jlio de
Morais e Fernando Pacheco, apontam que tal fato foi
agravado pelo distanciamento entre as estruturas de
de uma ao de que se incumbido, por parte dos lderes, dos chefes, aos liderados. Isso tanto acontece ao nvel da famlia, como na
comunidade ou na nao. PACHECO, Fernando. Uma proposta de valorizao da tradio e da cultura e favor do desenvolvimento
e da modernidade. Lucere. Revista Acadmica da Universidade Catlica de Angola. Ano 1, nmero 1, Luanda, 2004, p. 79a.
16
O sistema dualista era rigorosamente dividido (inclusive em termos de estatstica) no perodo colonial, entre a agricultura tradi-
cional e empresarial. A primeira, grosso modo, estava ligada aos autctones (sendo o meio de vida da maioria do povo angolano),
fornecendo elementos bsicos para o mercado interno (mas com participao na exportao) e com recursos bem limitados de
investimento; a segunda, em oposio a tradicional, seguiu um modelo europeu, produzia bens de exportao, com significativos
investimento na produzia bens de exportao, com significativos investimentos na produo e com nmero limitados de produtos.
Segundo Pacheco, a sociedade angolana ainda no se livrou desse dualismo.
17
PACHECO, Fernando. Caminhos para a cidadania: poder e desenvolvimento ao nvel local na perspectiva de uma Angola nova.
ADRA, Luanda, 2004, mimeo, p. 02b.
18
FERREIRA, Manuel Ennes. A indstria em tempo de guerra (Angola, 1975-1991). Instituto de Defesa Nacional, Cosmos, Lisboa,
1999, p. 33-34.
19
MINPLAN apud AMARAL, J. G. D. Angola: a crise econmica na Primeira Repblica. Lucere. Revista Acadmica da Universidade
Catlica de Angola. Ano 1, n. 1, Luanda, 2004. p.56.
20
Em face de 1973, de forma marcante: sisal, tabaco, caf e algodo atingiram 10%, 2%, 5% e 0,35% em 1987. FERREIRA, Op. cit.,
p.35. Conforme o MPLA / PT, j em 1980, a produo mercantil controlada pelo Estado no tem permitido seno satisfazer cerca de
12% das necessidades alimentares da populao urbana e dos operrios agrcolas e de cerca de 15% das necessidades da indstria de
matrias primas. (Idem.)
21
GALLI, R. E. A crise alimentar e o estado socialista na frica Lusfona. Revista Internacional de Estudos Africanos, n. 6-7, Lisboa,
dez. 1987. p. 146.
73 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 69-78 1 sem. 2009
concepo e de orientao global e as de execuo,
mostrando-se essas ltimas incapazes de seguir e
materializar as polticas traadas. Esta situao, no caso
concreto do setor agrrio, conduziu marginalizao
dos camponeses em relao vida econmica, social e
poltica do pas. Alm disso, as medidas de poltica agrria
foram condicionadas pelas distores de carter
macroeconmico traduzidas pelas falta de incentivos
produo, na inadequao dos preos, na falta de
prioridade e oportunidade dos meios de produo e dos
investimentos, na poltica de quadros e tambm na
ausncia de uma legislao fundiria que permitisse um
correto ordenamento das diferentes formas de pro-
priedade ou usufruto da terra
22
.
Outro elemento muito importante depois da in-
dependncia foi a crescente migrao para as cidades,
especialmente para Luanda. O colapso da economia
pouco depois da independncia, que abrangeu plantaes
coloniais e as redes de comerciantes do mato (do
interior), levou, tal como a intensificao da guerra no
pas, um nmero considervel de habitantes das reas
rurais para as cidades.
O conflito militar agravou o isolamento e a crise
econmica nas zonas rurais e, sobretudo os jovens
deixaram as reas rurais pelas cidades, mesmo onde a
segurana fsica no estava em causa. No entanto, a
deteriorizao gradual da situao militar e o aumento
da insegurana nas zonas rurais tornaram-se a principal
razo da migrao para as cidades
23
. Em suma, o declnio
da agricultura angolana teve incio logo aps a sua
independncia. No entanto, vale dizer, no s angolana.
Como salienta o escritor moambicano Jos Negro,
embora a questo da apropriao da terra africana pelos
africanos estivesse na ordem do dia dos recm criados
Estados modernos, as problemticas da dimenso da
explorao agrcola e do papel do mercado internacional,
foram ignoradas pela maioria dos polticos das dcadas
de 1960 e 70. As terras foram desprezadas, os saberes
produtivos e mercantis das populaes rurais foram
ignorados, a substituio das elites coloniais pelas
emergentes africanas tomou corpo atravs da hiper-
interveno do Estado e a rpida transformao dos
camponeses em trabalhadores rurais foi tida como a
nica alternativa para se fazer face crescente de de-
teriorao dos termos de troca. Nesse contexto, o
dualismo colonial foi mantido e os Estados continuaram
a selecionar as melhores terras ou para elites locais ou
estrangeiras ou para empresas geridas por esse mesmo
Estado
24
.
So quatro os elementos apontados pelo Professor da
Universidade Catlica de Angola, Antnio Cardoso, e que
caracterizam o declnio da agricultura angolana. Para o
autor, logo aps a independncia, a populao rural, com
baixos ndices de formao profissional, ficou sem o
apoio das infraestruturas cientficas, tcnicas econmicas
e de formao profissional, devido fuga macia dos
tcnicos agrrios qualificados e dos colonos que detinham
a rede de comercializao e drenagem dos produtos agro-
pecurios
25
; outro elemento est associado aos colonos
que abandonaram as fazendas e a maior parte foi na-
cionalizada. O Estado procurou assumir a sua gesto
sob a forma socialista, tentando garantir, no mnimo, o
salrio dos trabalhadores que l se haviam mantido e
assegurar a continuidade do fluxo produtivo, princi-
palmente em relao ao caf. Mas tudo isso resultou em
fracasso; o terceiro ponto foi o aumento geral da popu-
lao, que depois da independncia cresceu em cerca de
cinqenta por cento, conjugado com as quebras da pro-
duo de culturas alimentares essenciais, veio acentuar
o desequilbrio produo / necessidade de consumo; e
por fim, as reas rurais, mesmo quando relativamente
auto-suficientes em produtos agrcolas, no encontravam
estmulos para a produo de excedentes, devido no s
a acentuada deficincia nas comunicaes e transportes,
como inadequada poltica de preos e mercados
26
.
Diante disso, Angola perdeu completamente a sua po-
sio no mercado internacional dos produtos agrcolas
de exportao. Passou de exportador lquido de produ-
22
ACORD ADRA. Programa de apoio s comunidades agro-pastoris dos Gambos. Relatrio do workshop sobre a terra e o poder.
Lubango, 1996, p. 67.
23
DEVELOPMENT WORKSHOP. Terra. Reforma sobre a terra urbana em Angola no perodo ps-guerra: pesquisa, advocacia e polticas
de desenvolvimento. Luanda, 2005, p. 67.
24
NEGRO, Jos. A indispensvel terra africana para o aumento da riqueza dos pobres. Universidade Eduardo Mondlane, Maputo,
2002, p.03-04.
25
At 1975, Angola dispunha de bons estudos relacionados com a sua disponibilidade de recursos naturais, como o Instituto de
Investigao Agronmica de Angola (IIAA), o Instituto de Investigao Cientfica de Angola(IICA), A Misso de Inquritos Agrcolas
de Angola(MIAA), entre outros.
26
CARDOSO, Antnio. A anlise da situao do sector agrrio em Angola. Conferncia Nacional: o papel da agricultura no
desenvolvimento scio-econmico de Angola. Luanda, 2004, p.06-07.
74 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 69-78 1 sem. 2009
tos agrcolas para importador de grande parte dos
produtos que consome.
O que marcou esse contexto foi incapacidade do
setor estatal responder s necessidades bsicas do pas.
O setor agrcola, apesar de contar com 80% da popu-
lao, foi o menos beneficiado em termos de inves-
timento. Como aconteceu em muitos pases subde-
senvolvidos, as cooperativas e associaes foram vistas
basicamente como instrumentos a servio do Estado e
no como estruturas de autopromoo, geridas pelos
prprios camponeses na base da voluntariedade e da
participao. Mesmo como instrumentos a servio do
Estado, as organizaes camponesas apresentavam-se
como uma realidade apenas para as instituies di-
retamente ligadas ao processo, estabelecendo-se, de
acordo com as ONGs ACORD e ADRA, a contradio
entre as organizaes camponesas e as estruturas de
direo global, para as quais as associaes tinham uma
compreenso pouco clara, e preteridas na concepo e
priorizao de programas
27
.
Nos primeiros anos de independncia, mais de 92.000
camponeses tinham respondido ao apelo do governo para
formar cooperativas. Gerou-se grande entusiasmo, mas
o governo no forneceu nenhum apoio de fato.
28
Conforme traz Conceio, de acordo com um cooperante
brasileiro em Angola: a opo cooperativa inicial foi
angolana, mas depois, os assessores (blgaros) a tro-
caram pelas fazendas estatais (...). Para eles, as coope-
rativas agrcolas eram suspeitas na medida em que
mantm o processo de comercializao nas mos dos
camponeses (...) que passam a ter no somente fora
econmica, como poltica
29
. O controle estatal atingia
no somente as empresas industriais, agrcolas e de
comrcio, mas igualmente os pequenos camponeses
individuais que no estavam organizados em coope-
rativas e empresas estatais, conforme se depreende das
afirmaes do Presidente angolano, Agostinho Neto, em
sintonia com as teorias marxistas, o campons tem em
si, um grmen capitalista. O sonho de um campons qual
? ter uma grande propriedade (...) para ter muitos
lucros. E o seu lucro aumenta custa dos trabalhadores
que ele assalariou. um explorador.
30
Ao caracterizar o movimento cooperativo e asso-
ciativo da agricultura angola, as ONGs ACORD e ADRA
diferem momentos de ao nos primeiros anos da
independncia. Durante os primeiros meses aps no-
vembro de 1975, e no seguimento do que havia acon-
tecido na ltima fase de transio, a responsabilidade do
movimento cooperativo esteve a cargo da CADCO
(Comisso de Apoio e Dinamizao de Cooperativas,
criadas pelo Governo de Transio) como estrutura
multisetorial. As primeiras aes da CADCO com relao
s cooperativas nas reas rurais visaram o apoio s
iniciativas em curso caracterizadas, de forma genrica,
pela existncia de unies de cooperativas viradas para
o abastecimento em bens de consumo e geridas por
funcionrios pblicos, responsveis polticos ou pessoas
ligadas s instituies sociais e religiosas. As cooperativas
integrantes dessas unies eram constitudas por
camponeses que no tinham praticamente interveno
na gesto da mesma nem qualquer outro tipo de
participao. Assim, constituiu prioridade da CADCO
procurar, atravs da prtica da participao, modificar
a situao vigente o que provocou obviamente contra-
dies com as direes das unies, acabando estas
desaparecendo por dificuldades de gesto ou imposio
administrativa
31
.
Com a extino dessa instituio logo aps a inde-
pendncia, a responsabilidade passou para os vrios
Ministrios, assumindo a pasta da Agricultura, a tarefa
de no s tutelar o setor cooperativo, mas tambm de
apoiar a sua ampliao, organizao e consolidao.
Assim foi criado a DNACA (Direco Nacional de Coope-
rativizao Agrcola e Apoio aos Camponeses Indi-
viduais), que revela atravs de estatsticas oficiais, um
crescimento contnuo do nmero de associaes e asso-
ciados at 1981. Contudo, tal evoluo no correspon-
deu a um aumento da importncia das cooperativas e
27
ACORD ADRA, 1991, p.68.
28
Wolfer e Bergerl apud Galli, Op. cit., p. 148.
29
SARAPU apud CONCEIO, J. M. N. P. Angola: uma poltica externa em contexto de crise (1975-1994). Tese de doutorado.
Universidade de So Paulo, 1999. p. 142.
30
Manuel Ennes Ferreira salienta que esta forma de entender tal problema no do que a transposio direta e acrtica do discurso
sovitico. No caso africano um tal discurso revela, em muitos aspectos, um desconhecimento da realidade e est em contradio
com os estudos de antropologia e economia africana, onde o campons e a sociedade tradicional se regem por princpios e no quadro
de estruturas que s em parte tm a ver com a propriedade privada e os mecanismos puros do mercado. (NETO apud FERREIRA,
Op. cit., p.24.).
31
ACCORD ADRA. Programa de Apoio as Comunidades Agro-Pastoris dos Gambos. Relatrio do workshop sobre a terra e o poder.
Lubango, agosto, 1996. p. 11.
75 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 69-78 1 sem. 2009
associaes tanto ao nvel das comunidades rurais, como
na participao do Produto Agrcola Bruto do pas
32
.
Entretanto, ao nvel de base, a interveno por parte
do Estado foi atribuda as EDA (Estaes de Desenvol-
vimento Agrrio) que, tuteladas pela DNACA e mais
tarde pelo IDA (Instituto de Desenvolvimento Agrrio),
ficaram dessa maneira com a responsabilidade do apoio
tcnico-material aos camponeses e suas associaes.
Num perodo em que o setor estatal deixou de ter
significado (com exceo do setor do caf), era tarefa da
EDA promover a produo camponesa destinada aos
circuitos mercantis
33
e tambm de chegar at os
camponeses os servios encarregados da distribuio de
meios, incluindo sementes, fertilizantes, maquinarias,
pesticidas, entre outros. Alm disso, consistia tambm
na mobilizao e agrupamento das cerca de 700 000
famlias camponesas em associaes pr-cooperativas
fundamentalmente com o objetivo de receber assistncia
tcnica
34
.
A mais importante inovao das EDAs, conforme
aponta Galli, foi a tentativa do governo em descentralizar
os servios em lugar de confiar exclusivamente nas
entidades nacionais e provinciais que tinham ignorado
os camponeses
35
(1987:148). Nas reas de interveno
das EDAs
36
assistiu-se a uma relativa melhoria do apoio
tcnico e material s associaes que ganharam uma
nova dinmica e passaram a apresentar resultados
produtivos significativos, como no caso das culturas de
milho, algodo e tabaco.
No entanto, as EDAs basearam a sua interveno
num esforo de modernizao da agricultura cam-
ponesa, para a qual no havia a necessria capacidade
em termos de organizao, gesto e recursos. Recorria-
se muitas vezes mecanizao e promovendo os blo-
cos culturas como forma de organizao da produo,
as EDAs no providenciaram outras medidas com-
plementares de carter tcnico e organizativo que
permitisse a modernizao pretendida. Criou-se, dessa
maneira, um ambiente de dependncia mais pautado nas
associaes em relao ao Estado, o que foi, agravado
por uma degradao progressiva das outras estruturas
do setor agrrio. Com intuito de preencher um vazio
poltico, o MPLA-PT decidiu pela criao da UNACA
(Unio Nacional dos Camponeses Angolanos), com a
idia de permitir uma maior participao dos campo-
neses na vida econmica, social e poltica do pas, o que
veio a acontecer em fevereiro de 1990
37
.
A criao da UNACA, apesar de ser uma emanao
do MPLA -Partido do Trabalho, e no o resultado de um
processo de organizao a partir da base gerou de-
terminadas expectativas. No ato de sua constituio, a
UNACA definiu atitudes e traou programas de ao que
poderiam resultar numa maior aproximao aos pro-
blemas do campo e, conseqentemente, a uma maior
aproximao dos camponeses na resoluo de assuntos
do seu interesse. Todavia, na prtica no se cumpriam
essas intenes, tendo aumento a burocracia e o
distanciamento em relao ao campo(Acord e Adra,
1991: 20-21).
Portanto, com a independncia, Angola ficou liberta
dos condicionalismos legais (lei do condicionamento
industrial, regime de pagamentos externos, entre outros)
impostos pela ex-metrpole ao seu desenvolvimento
industrial. Porm, eram ento considerados pelo novo
poder institudo como a causa da situao catica do caos
econmico, situaes objetivas como: a guerra de
agresso imperialista e o eclodir da guerra civil, a
pilhagem efetuada pelos exrcitos invasores (frica do
Sul, por exemplo), a conseqente poltica de confiscos e
nacionalizaes levado ao extremo, a ausncia de
estruturas administrativas, o xodo dos portugueses que
detinham o poder econmico, entre outros aspectos
menos relevantes
38
. Ferreira aponta outras causas que
foram fundamentais para a baixa da produo e de
produtividade em quase todos os setores foram sendo
oficialmente atribudos : fraca capacidade organizati-
va das empresas
39
; carncia generalizada de quadros
qualificados; decrescente disciplina laboral; deficiente
32
Idem, p.13-14
33
Idem, p. 20.
34
GALLI, Op. cit. , p. 147.
35
Idem, p. 148.
36
Inicialmente em Malanje, esse movimento alarga-se para outras provncias, principalmente Hula, enquanto em Huambo, a
situao de segurana j era bastante precria, foi constituda apenas uma EDA (Acord e Adra, Op. cit. p.16).
37
Era estruturada ao nvel nacional, na provncia e nos municpios, tentou orientar e dirigir o movimento cooperativo dinamizando
seu desenvolvimento e promovendo a realizao de assemblias camponesas.
38
AMARAL, Op. cit., p. 52.
39
O ndice de industrializao passou de 100 em 1974 (base de partida) para 24,3 em 1989 e para 13,2 em 2000 (Rocha, 2004:65).
76 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 69-78 1 sem. 2009
abastecimento de matrias-primas e outros meios
necessrios s empresas; falta de engajamento no
domnio da direo da economia, particularmente no que
respeita s empresas do Estado, e finalmente, especulao
dos preos no mercado negro
40
.
claro que a agricultura sofreu de modo direto e
intenso os efeitos da situao de guerra. Esses efeitos
fizeram-se sentir em diversos nveis, impedindo o
trabalho agrcola direto, que impossibilitava o fun-
cionamento dos mecanismos de comercializao e
distribuio, e dificultava o acesso de meios de produo,
fertilizantes, entre outros, ao campo. Portanto, no de
estranhar, de acordo com Ferreira, o impacto deses-
tabilizador da situao de guerra. Se por um lado
criaram-se enormes dificuldades s grandes produes
agrcolas para exportao (caf, sisal, algodo, bananas,
etc), por outro, a pequena produo comercializvel no
encontrou canais de escoamento (mercados rurais ou
outras formas de comercializao/distribuio). A
quebra dos nveis de produo e o autoconsumo so,
desta maneira, duas conseqncias inevitveis. A
produo alimentar desceu em 26% em 1981, sendo
preciso importar 200.000 toneladas de milho. Enquanto
nas cidades se faziam sentir carncias, no campo passou
a haver fome
41
.
Assim, com o abandono dos campos agrcolas e a
paralisao da quase totalidade da indstria trans-
formadora e extrativa, subsistiram, apenas, o caf, o
petrleo e o diamante, que viriam a suportar a estratgia
de uma economia de resistncia centralmente dirigida,
cujos reflexos, no desenvolvimento econmico e social
do pas, no se fizeram sentir, alm do fato do esforo de
guerra que a situao exigia
42
.
O caf teve resultados catastrficos por parte do
governo, que no conseguiu atingir os nveis de produo
obtidos em 1973. O declnio do setor estatal a favor do
setor privado na comercializao do caf torna-se latente
no final da dcada de 1980
43
. Em 1992, o Estado deixa
de ter o monoplio das exportaes do caf.
O diamante tambm entrou em declnio aps a
independncia. A Companhia de Diamantes de Angola,
(DIAMANG) no conseguiu se reabilitar durante a
Primeira Repblica. Amaral aponta que os investimentos
efetuados nesse setor obedeciam mais a critrios de
natureza poltica e militar do que econmica, quer por
razes do exerccio da soberania em reas de aes de
guerra, quer por se tratar de um recurso estratgico que
era necessrio preserv-lo do acesso ao inimigo, pela sua
importncia como fonte de financiamento de aes
armadas da UNITA contra o Governo
44
.
Depois da independncia, o Governo considerou
prioritria a formulao de uma poltica nacional para
o setor petrolfero. A gesto do setor petrolfero no
obedeceu aos desgnios de uma estratgia para a
construo do socialismo cientfico
45
, pois, por fora
dos acordos existentes com as empresas multinacionais,
assistiu-se implementao de uma estratgia su-
bordinada aos interesses do capitalismo, por isso mesmo,
contrria criao de uma sociedade de cunho socialista
em Angola
46
.
Essa situao, Conceio chamou de paradoxo
angolano, pois sua economia dependeu, desde o tempo
colonial, basicamente do Ocidente, tanto em termos de
mercado, quanto de investimentos e tecnologia. O
petrleo (nunca inferior a 80% na aquisio de divisa no
perodo ps-independncia) tinha, e continua a ter, nos
Estados, o seu maior comprador e investidor, atravs das
petrolferas americanas como a Chevron, Texaco e
outras, incluindo tambm as europias
47
. O curioso que
os centros de deciso das multinacionais petrolferas
estavam sediados em pases capitalistas que apoiavam a
guerra contra o governo que proclamara a indepen-
dncia do pas. Estes financiavam o desenvolvimento
econmico e social do Angola em troca de garantias
40
FERREIRA. Op. cit., p. 35-36.
41
GALLI. Op. cit., p. 146.
42
AMARAL. Op. cit., p. 56.
43
Nos cinco anos que antecederam 2 Repblica, o setor estatal comercializou 56,9% contra 43,1% do setor privado. J no ano de
1992, a comercializao do privado foi de 92,9% contra apenas 7,2% do setor estatal. Pode-se pensar que esses nmeros se devem
estratgia do Governo, consubstanciada no Programa de Redimensionamento Empresarial do Setor Cefecula, cujos efeitos prticos
se traduziram na restituio do setor privado de cerca de 300 fazendas com uma rea superior a 100.000ha. (Amaral, Op. cit., p.
62) .
44
Idem, p. 64.
45
O socialismo cientfico foi desenvolvido no sculo XIX por Karl Marx e Friedrich Engels. Suas idias rompem com o socialismo
utpico por apresentar uma anlise crtica da realidade poltica e econmica, da evoluo da histria, das sociedades e do capitalismo.
Eles defendem uma ao mais prtica e direta contra o capitalismo atravs da organizao revolucionria da classe proletria.
46
Idem, p. 67.
47
CONCEIO. Op. cit., p. 42.
77 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 69-78 1 sem. 2009
dadas pelo potencial de produo petrolfera (reservas),
inviabilizando, dessa maneira, o socialismo cientfico,
e hipotecando para o futuro das geraes angolanas
vindouras, ficando o pas aprisionado aos interesses
estratgicos e vitais do capitalismo
48
.
O agravamento constante da situao poltica, eco-
nmica, social e, sobretudo militar produziu uma
conjuntura favorvel interveno na regulao social
de outros atores, para alm do partido-Estado e das suas
projees organizativas de massas.
O colapso do modelo socialista no final dos anos 1980
provocou vrias mudanas na poltica e na estratgia do
MPLA. A construo de uma economia de mercado
passou a exigir uma classe empresarial dinmica que
pretendeu criar a partir das elites polticas e militares.
Foi nesse contexto que se decidiu redimensionar as
propriedades do Estado, com a privatizao e o adequar
a dimenso das empresas s capacidades tcnicas e de
gesto de novos proprietrios. No entanto, para
Fernando Pacheco, esse segundo componente foi
esquecido. No caso das empresas agrcolas, a ausncia
de um cadastro atualizado foi determinante para que as
propriedades fossem privatizadas de acordo com a
situao e a dimenso anteriores, ainda que as terras
fossem cedidas apenas em termos de direito de uso.
49
Consideraes finais
O presente artigo apresentou de forma simplificada
as caractersticas que direcionaram as aes do MPLA
com relao ao seu projeto de desenvolver a agricultura
aps a independncia.
A dificuldade com a sada de quadros tcnicos
portugueses foi sentida, e a tentativa da superao dos
problemas do jovem pas que surgia veio com programas
de inspirao marxista. No entanto, Angola perdeu
rapidamente sua posio no contexto de grande
exportador de culturas como o caf, para ficar
dependente de exportao de produtos primrios, como
tambm de ajuda alimentar.
O artigo mostrou a turbulenta conjuntura poltica
vivida por Angola naquele contexto para a melhor
compreenso da dificuldade enfrentada na questo
agrria, e a dificuldade do povo naquele momento. As
implicaes do modelo socialista, numa sociedade
marcada pela instabilidade poltica e administrativa,
foram fundamentais para o fracasso da agricultura logo
aps a independncia.
Referncias
ACCORD ADRA. Programa de Apoio as Comunidades Agro-
Pastoris dos Gambos. Relatrio do workshop sobre a terra e
o poder. Lubango, agosto, 1996.
AMARAL, Jos G. Dias. Angola: a crise econmica na
Primeira Repblica. Lucere. Revista acadmica da Univer-
sidade Catlica de Angola. Ano 1, n1, Luanda, 2004.
CARDOSO, Antnio. A anlise da situao do sector agrrio
em Angola. Conferncia Nacional: o papel da agricultura no
desenvolvimento scio-econmico de Angola. Luanda, 2004
CONCEIO, Jos Maria Nunes Pereira. Angola: uma pol-
tica externa em contexto de crise (1975-1994). Tese de dou-
torado. Universidade de So Paulo, 1999.
DEVELOPMENT WORKSHOP (DW). Terra. Reforma sobre a
terra urbana em Angola no perodo ps-guerra: pesquisa,
advocacia e polticas de desenvolvimento. Luanda, 2005.
FERREIRA, Manuel Ennes. Angola: da poltica s relaes
econmicas com Portugal. Cadernos econmicos Portugal.
Angola- Lisboa, 1993.
______. A indstria em tempo de guerra (Angola, 1975-
1991). Instituto de Defesa Nacional, Ed. Cosmos, Lisboa,
1999.
FREIRE, Paulo. Cartas Guin-Bisssau. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1978.
GALLI, Rosemary E. A crise alimentar e o estado socialista
na frica Lusfona. Revista Internacional de Estudos
Africanos, n. 6-7, Lisboa, dez, 1987.
LIBERATTI, Marco Antonio. A guerra civil em Angola:
dimenses histricas e contemporneas. Dissertao de
48
AMARAL. Op. cit., p. 67-68.
49
PACHECO. Caminhos para a cidadania: poder e desenvolvimento a nvel local na perspectiva de uma Angola nova. ADRA, Luanda,
2004b, mimeo. P. 2.
78 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 69-78 1 sem. 2009
Mestrado. USP, So Paulo, 1999.
NEGRO, Jos. A indispensvel terra africana para o
aumento da riqueza dos pobres. UEM, Maputo,2002.
OLIVEIRA, Hermes de A. Povoamento e promoo social
em frica. Lisboa, 1971.
PACHECO, Fernando. Uma proposta de valorizao da
tradio e da cultura em favor do desenvolvimento e da mo-
dernidade. Lucere. Revista acadmica da Universidade
Catlica de Angola. Ano 1, Vol.1, Luanda, 2004a.
______. Caminhos para a cidadania: poder e desenvolvi-
mento a nvel local na perspectiva de uma Angola nova.
ADRA, Luanda, 2004b, mimeo.
ROCHA, Alves da. Documento informativo sobre a
actual situao econmica em Angola. Fundao
Friedrich Ebert. Luanda, 2004.
79 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 79-92 1 sem. 2009
Um dos objetivos deste artigo refletir sobre as
condies de incluso social das pessoas com deficincias.
Para isso, faz um breve apanhado das relaes sociais
que possibilitar ocorrer a referida incluso. Outra
preocupao diz respeito s representaes sociais, na
sociedade brasileira, em relao a essas pessoas.
Uma tentativa de explicitar os muitos obstculos
enfrentados por elas requer que se leve em considerao
a dimenso cultural, sobretudo no que diz respeito s
imagens preconceituosas (invlidos) ou de piedade
(coitadinhos), assimiladas no decorrer do processo his-
trico por grande parte da populao brasileira, assim
como em diversas outras sociedades. Esses so valores
impregnados, muitas vezes at inconscientemente, nos
indivduos, que alimentam esteretipos e estigmas, tendo,
como conseqncia, a excluso social, at mesmo por
desconhecimento da realidade e da potencialidade destas
pessoas. Portanto, ao ditar normas e estabelecer padres
de competncia de forma cristalizada a sociedade
brasileira coloca os indivduos com deficincia em po-
sio de inferioridade. Resta-lhes, assim, enquadrar-se
dentro do que est estabelecido por este modelo de nor-
malidade produtiva na tentativa de alcanar algum grau
de aceitabilidade e, por conseguinte, reduzirem-se a
marginalizao e segregao em que se encontram.
Entretanto, s possvel falar em incluso porque
conhecemos e convivemos com a excluso. Por isso
mesmo, as respostas para as indagaes que envolvem
incluso social dos mesmos demandam compreender,
tambm, a situao de excluso, seu processo histrico,
atores e movimentos.
Entre preconceitos, vitimizao e incapacidade:
os deficientes e as imagens que reforam
a segregao social*
Eliete Antnia da Silva
Mestranda em Histria pela Universidade Federal de Uberlndia na linha de pesquisa Imaginrio e Poltica,
sob orientao do Prof. Dr. Antnio de Almeida. Professora de Histria da rede estadual de ensino.
E-mail: elieteantonia@yahoo.com.br
Resumo
Este artigo aborda a marginalizao e a segregao das
pessoas com deficincia, como resultado de violncias e
coeres que operam no plano simblico do imaginrio e
das representaes e se manifestam nas mais variadas
formas de preconceitos. Visando compreender as relaes
entre os estigmas e esteretipos dessas pessoas como
modo de funcionamento das suas prticas e, as dos outros
em relao a eles.
Palavras-chave: Marginalizao. Segregao.
Imaginrio.
Abstract
This article deals with the marginalization and the
segregation of the people handicapped as a result of
violence and coercion that are manifested in the symbolic
plan of imaginary and of representations and are present
in the most varied forms of prejudice. To understand the
relations between the stigmas and the stereotypes of these
people as a way of operation of its own practices and the
others in relation to it.
Keywords: Marginalization. Segregation. Imaginary.
* Este artigo originou-se das pesquisas realizadas para a produo da monografia: DOS LIMITES DA LEI AOS PRECONCEITOS: os
portadores de deficincia e o difcil caminho da incluso social no Brasil, requisito parcial para concluso do curso de Histria da
Universidade Federal de Uberlndia. As reflexes aqui apresentadas foram desenvolvidas no primeiro captulo da referida
monografi a.
80 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 79-92 1 sem. 2009
O preconceito forma mais conhecida e presente na
vida das pessoas com deficincia, e est incutido no
intimo dos indivduos que compe as sociedades, e o
efeito deste sentimento, a excluso, presente na vida
dessas pessoas, como reflexo de atitudes da sociedade as
quais pertenceram e pertencem. Distintos processos
foram vivenciados pela histria humana. Encontramos
relatos de abandono, extermnio de recm-nascidos com
deficincias, como exemplo na Grcia antes de Cristo,
no livro IV, 460c, de Plato A Republica.
[...] Pegaro ento os filhos dos homens superiores,
e lev-los-o para o aprisco, para junto de amas que
moram parte num bairro da cidade; os dos homens
inferiores, e qualquer dos outros que seja disforme,
escond-los-o num lugar interdito e oculto, como con-
vm.
1
Bem como, no livro VII, 1335 b, A Poltica de
Aristteles.
[...] Quanto a rejeitar ou criar os recm-nascidos,
ter de haver uma lei segundo a qual nenhuma criana
disforme ser criada; com vistas a evitar o excesso de
crianas, se os costumes das cidades impedem o aban-
dono de recm-nascidos deve haver um dispositivo legal
limitando a procriao se algum tiver um filho contra-
riamente a tal dispositivo, dever ser provocado o
aborto antes que comecem as sensaes e a vida (a lega-
lidade ou ilegalidade do aborto ser definida pelo cri-
trio de haver ou no sensao e vida.
2
os escritos de (temporalidade?), por mais absurdo
que isso possa parecer ao nosso olhar e compreenso do
momento histrico em que vivemos. Em tais registros
esses extermnios, eram fatos legtimos praticados por
suas comunidades. Perfeitamente aceitvel a rejeio,
por parte de seus familiares, de crianas que nascessem
com qualquer tipo de deficincia, fsica ou mental.
Perseguies, negligncias, exploraes, eram atos
comuns a diferentes sociedades: europias, asiticas,
africanas, americanas. Distinguindo-se apenas o grau
de omisso e negligncia entre as sociedades,
Nas culturas primitivas que sobreviviam basica-
mente da caa e da pesca, os idosos, doentes e porta-
dores de deficincia eram geralmente abandonados,
por um considervel nmero de tribos, em ambientes
agrestes e perigosos, e a morte se dava por inanio ou
por ataque de animais ferozes. O estilo de vida nmade
dificultava a aceitao e a manuteno destas pessoas,
consideradas dependentes, como tambm colocava em
risco todo o grupo, face aos perigos da poca. inte-
ressante ressaltar que a atitude de abandono e morte
dos idosos, doentes e (df), no era comum a todos os
povos.
3
Algumas sociedades primitivas mantinham seus
deficientes com vida, suportava-os, complacentes com
seus problemas, por acreditarem que os maus espritos
habitavam os corpos desses indivduos, possibilitando
desse modo, aos demais membros da comunidade a
normalidade. Com o desenvolvimento do cristianismo
essas pessoas, so ento, percebidas como cristos, e como
tal, possuidores da caridade dos demais. Porm, essa
sociedade ambgua, pois ora acreditava ser a presena
de Deus, manifestada em sua criatura, para testar a f
da famlia que recebeu este cristo deficiente; ora, ao
contrrio, entendia tratar-se de um castigo de Deus, por
algum ato cometido pela famlia que est recebendo es-
te deficiente, reforado pela comunidade e pelos
emissrios de Deus na terra, estigmatizando-os e
rotulando-os.
nesse contexto, durante as conquistas do Imprio
Romano, onde inmeros soldados retornavam muti-
lados das batalhas, forando com isso o incio a um
atendimento hospitalar, que apesar dos vastos problemas,
tinham em vista recuperar os heris das batalhas de
conquistas. Contudo, foi no Imprio Romano que surgiu
o cristianismo, com novos dogmas dirigidos para ca-
ridade entre as pessoas, mas tambm faziam rejeies,
dentre essas rejeies estava o extermnio das crianas
com deficincia. Porm, os cristos foram perseguidos,
mas mesmo assim, contriburam para formular novas
1
GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com Deficincia e o Direito ao Trabalho: Reserva de Cargos em Empresas, Emprego Apoiado.
Florianpolis: Obra Jurdica, 2007. p. 63.
2
GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com Deficincia e o Direito ao Trabalho: Reserva de Cargos em Empresas, Emprego Apoiado.
Florianpolis: Obra Jurdica, 2007. p. 63.
3
CARMO, Apolnio Abadio do. Deficincia Fsica: a sociedade brasileira cria, recupera e discrimina. Sec. Dos Desportos/PR, Braslia
1991. p. 21.
81 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 79-92 1 sem. 2009
concepes romanas a partir do sculo IV, e foi tambm
por este motivo, dos dogmas cristos, que neste perodo
sugiram os primeiros hospitais de caridade, destinados
acolher indigentes e pessoas com deficincia. Entretanto,
no sculo XV d-se o fim do Imprio Romano e Queda
de Constantinopla, e o incio da Idade Mdia, marcada
pela decadente qualidade de vida e sade das pessoas. E
assim, temos um retrocesso, as pessoas acreditavam ser
o castigo de Deus ter um filho deficiente, e as crianas
que conseguiam sobreviver eram destinadas a lugares
especficos a elas, e eram mantidas separadas de suas
famlias, surgi assim, as primeiras instituies assisten-
cialistas. Tais instituies isolavam algumas ainda
isolam as pessoas com deficincias do convvio social,
e como conseqncia, surge um novo perodo e novo
modelo de excluso, a segregao, que se fortalece e
permanece ainda, em menor grau, at nossos dias.
Todavia, o tipo de assistncia no questionado, e os
deficientes so submetidos a lugares na maioria dos
casos sem condies de vida, sem higiene, ambientes
insalubres, desumanos, no propiciando nenhum tipo
de dignidade; prevalecendo neste tipo de instituies, o
descaso. Mas para algumas famlias, conveniente
manter enclausurados nas instituies, longe dos olhos
da sociedade, o membro da famlia com deficincia,
por considerar, ser algo vergonhoso, e s vezes, desonroso.
Mas bem como temos famlias que preferem manter nas
instituies, temos aquelas que preferem acompanhar e
manter no convvio familiar e social o membro da famlia
com deficincia, por entender e respeitar como indivduo
igual em direitos, sentimentos, desejos, diferente em seu
eu e com algumas limitaes.
Assim, nos mais diversos paises, as sociedades optam,
ento, pela poltica da segregao, atravs das instituies
assistencialistas, religiosas ou filantrpicas, separam e,
s vezes, isolam do seio da sociedade a sua minoria, sim-
plesmente por serem diferentes. Por meio da ignorn-
cia, desconhecimentos ou mesmo vises pragmticas e
utilitaristas, ocorrem discriminaes, prevalecendo s
atitudes preconceituosas. Como afirma Ligia Assumpo
Amaral,
poltica to antiga, quanto humanidade, a segre-
gao apia-se no trip: preconceito, esteretipo e
estigma. Tentando sintetizar a dinmica entre eles: um
preconceito gera um esteretipo, que cristaliza o pre-
conceito, que fortalece o esteretipo, que atualiza o
preconceito... Circulo vicioso levando ao infinito. Para-
lelamente o estigma (marca, sinal) colabora com essa
perpetuao.
4
Mas o que vem a ser segregao? Segundo dicionrio
Aurlio e seguindo ao p da letra o ato ou efeito de
segregar; isolamento; ao de separar as pessoas de raas
ou origens diferentes, dentro de um mesmo pas. No
podemos dizer que se trata de uma raa ou origem dife-
rente, os deficientes em relao prpria famlia, em-
bora, tambm nesse mbito, ocorra com freqncia a
ao de isol-los da sociedade. Assim, o termo segregao
sempre correto mesmo no momento histrico que
vivemos, pois elas esto frequentemente sendo isoladas,
segregadas, e assim, privadas do convvio social.
Do ponto de vista de Antnio Muniz Resende, a
segregao , portanto uma patologia cultural, ao
separar o homem do mundo, desestruturando a sua
humanidade e levando-o a uma animalidade que no
sua, mas que lhe instituda atravs de preconceitos,
esteretipos e estigmas que a sociedade foi construindo
em torno dessas pessoas ao longo do tempo.
[...] uma situao e um processo de desestru-
turao, [...] uma tendncia reducionista simplifica-
dora. O subjetivismo criticista apresenta-se como
sintoma de patologia cultural, na medida em que,
separando o homem e o mundo, e privilegiando o
primeiro em detrimento do segundo, desestruturando
o fenmeno humano (ser-no-mundo), eliminando a
multiplicidade fundamentalmente constitutiva da es-
trutura cultural. [...] privilegia o mundo em detrimento
do homem.
5
Para Resende, tais atitudes podem ser compreendidas
como patologia cultural, pois uma sociedade, uma
cultura, tem suas bases no sentido da existncia do
homem, que por sua vez se d na relao de um homem
com outro homem, isto , na dinmica da histria dos
4
AMARAL, Lgia Assumpo. Pensar a diferena: Deficincia. Coordenadoria Nacional para Integrao da Pessoa Portadora de
Deficincia, Braslia, 1994, p.40
5
REZENDE, Antnio Muniz. Pistas para um diagnstico da patologia cultural. In: Morais, J.F. Regis de (Org.). Construo social da
enfermidade. So Paulo: Cortez & Moraes, 1978, pp. 157-179, p.163.
82 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 79-92 1 sem. 2009
homens desta cultura. Portanto, ao retirar do convvio
social as pessoas portadoras de deficincias estamos
ocasionando uma perda do sentido de existncia das
mesmas e resultando em uma esquizofrenia e uma
esclerose cultural. Nas palavras de Resende, a patologia
cultural se caracteriza como uma cristalizao do modelo
no dinamizado pelo sentido, mediante tal situao
questionamos: qual a imagem de homem, de sociedade
e de mundo que estamos construindo?
Amaral traz para o debate a questo da Psicologia
Social. Segundo ela, trata-se de conhecer o homem na
totalidade de suas relaes, e cabe tambm a Psicologia
Social debruar-se sobre a questo da deficincia.
Seguindo essa mesma linha argumentativa, podemos
afirmar que papel da histria, enquanto rea do
conhecimento, tambm debruar-se sobre a questo da
incluso social das pessoas com deficincia. Nesse
sentido, e considerando os primeiros relatos histricos,
essas pessoas, esto margem da sociedade e da histria
(Todas essas pessoas? No houve nenhuma exceo?
no), sendo, portanto, uma dessas minorias sociais
excludas do processo histrico, assunto sobre o qual fala
Fontana,
A histria de um grupo humano sua memria cole-
tiva, e a seu respeito, cumpre a mesma funo que a me-
mria pessoal em relao a um indivduo: dar-lhe um sen-
tido de identidade que o faz ser ele mesmo e no outro.
6
Entretanto, vem-se tentando mudar a alguns anos
esse quadro historiogrfico da humanidade e, timi-
damente, a histria das pessoas com deficincias est
sendo escrita, como podemos constar, alguns intectuais
escrevendo sobre a temtica, como Ligia Amaral, Mar-
cus Othon, Maria Gugel. E como Amaral e Fontana
destacam, devemos voltar nosso olhar para aqueles em
minoria, de pouca representao. Porm, h que se
tomar o cuidado no sentido respeitar e permitir que as
vozes dessas pessoas apaream, evitando nos tornar seus
porta-vozes. Deix-los falar e se expressar, por si
mesmos, reconhec-los como sujeitos da histria, com
suas dificuldades e lutas para sair da extremidade, das
margens da sociedade.
Essa marginalizao trouxe consigo variados
estigmas, tanto no que diz respeito sociedade para com
elas, quanto elas prprias tem por si mesma. Do ponto
de vista de Goffman
7
, a sociedade classifica os indivduos
e atribui-lhes valores de acordo com ambiente no qual
esto inseridos nesta sociedade. Assim estes indivduos
recebem atributos de acordo com sua categoria social:
As rotinas de relao em ambientes estabelecidos
permitem um relacionamento com outras pessoas
previstas sem ateno ou reflexo particular. Ento,
quando um estranho nos apresentado, os primeiros
aspectos nos permitem prever a sua categoria e os seus
atributos, a sua identidade social para usar um
termo melhor do que status social, j que nele se
incluem atributos como honestidade da mesma forma
que atributos estruturais, como ocupao.
8
Pressupem-se algumas afirmativas concernentes ao
indivduo que por ventura possa estar a nossa frente e,
desse modo atribumos a ele caractersticas que no so
suas, ou seja, damos-lhe uma identidade social virtual.
Tal procedimento uma maneira de se construir um
estigma, que na maioria dos casos reduz o indivduo,
substituindo a identidade social real pela identidade
social virtual e criando esteretipos incoerentes com o
indivduo em questo, pois um estigma sempre
depreciativo. Todavia, o que negativo para uns significa
a exaltao de outro, neste caso, isso significa depreciao
das pessoas com deficincia para exaltao dos ditos
normais. Ainda acompanhando a linha de raciocnio
de Goffman, um estigma tem como sinnimo dois
panoramas relativos ao estigmatizado, o desacreditado
e o desacreditvel.
[...] um indivduo que poderia ter sido facilmente
recebido na relao social quotidiana possui um trao
que se pode impor ateno e afastar aqueles que ele
encontra, destruindo a possibilidade de ateno para
outros atributos seus. Ele possui um estigma, uma ca-
racterstica diferente da que havamos previsto.
9
6
FONTANA. Josep. A histria dos homens. Traduo: REICHEL, Heloisa Jochims e COSTA, Marcelo Fernando da. Bauru, SP: EDUSC,
2004, p.11.
7
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulao da identidade deteriorada. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara S.A., 1988,
p. 11-12.
8
Idem, p. 5.
9
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulao da identidade deteriorada. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara S.A., 1988.
p. 14.
83 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 79-92 1 sem. 2009
Desse modo ao estigmatizar algum estamos re-
duzindo suas chances e possibilidades de vida, pois
podemos lev-lo a se sentir desacreditado e incapaz.
Utilizamos termos depreciativos, pejorativos e especficos
de estigmas, quando, por exemplo, atribumos apelidos
com objetivos de destacar e ridicularizar a sua deficin-
cia. No pensamos como isto pode estar ferindo os
sentimentos destas pessoas, que esto recebendo esses
termos pejorativos, isto claramente uma forma de
excluso, e principalmente uma violncia simblica.
Nos dizeres de Bourdieu,
[...] todo poder de violncia simblica, isto , todo
poder que chega a impor significaes e a imp-las como
legtimas, dissimulando as relaes de fora que esto
na base de sua fora, acrescenta sua prpria fora, isto
, propriamente simblica, a essas relaes de fora
10
.
Uma pessoa que carrega um estigma por toda a sua
existncia pode ocorrer de incorporar essa estigmatiza-
o a ponto de explicar alguns modos, estilos de vida,
acompanhados das consideraes e respeitos que lhes so
atribudos, tendo como conseqncia uma predisposio
para a autovitimizao. Neste sentido a viso da mesma
transforma-se assim como a viso da sociedade, de
animalidade de antes, para uma viso paternalista, de
coitadinhos e, portanto incapazes. Isso pode ser entendi-
do como resultado das tentativas de integrao social,
iniciada com as instituies assistencialistas mais
recentes, que visam a integrao social e no a inclu-
so, ou seja, a incluso requer esforos maiores que,
simplismente colocar essas pessoas em contato com a
sociedade, elas precisando ser recebidas sem preconceitos
ou rejeies por parte da sociedade. Este problema social
deve ser enfrentado em suas mltiplas dimenses,
necessrio romper com as barreiras sociais e culturais,
para que assim, acontea a incluso social das pessoas
com deficincia. Uma viso paternalista que traz consigo
uma vitimizao social e uma reduo do potencial do
indivduo com deficincia. Mas o problema aumenta
quando esta vitimizao est enraizada no seio da famlia
e indo mais longe podendo ser considerado um
preconceito internalizado, implcito, no interior das
pessoas. Um preconceito que vem de um processo
histrico to longo quanto existncia da humanidade,
construdo no imaginrio social, e constituindo um dos
grandes percalos para as pessoas com deficincia, um
obstculo gigantesco a ser rompido. Como coloca
Amaral,
Para a famlia trata-se da perda do filho idea-
lizado, pois, admita ou no, a idealizao um reves-
timento universalmente presente na gestao e em
todos os aspectos relacionados maternidade/pa-
ternidade.
11
Atualmente discute-se muito a incluso social das
pessoas com deficincia, porm pouco comentada essa
questo da excluso no interior da famlia, aumentando
e dificultando a incluso social destes indivduos, pois
em muitos casos o deficiente, conta com sua famlia
para que essa incluso acontea, atravs de apoio em
suas lutas por seus direitos, e/ou sendo o prprio agente
da luta, como no caso dos deficientes mentais. A famlia
ao se deparar com este novo componente familiar
portador de deficincia, e totalmente ignorante sobre o
assunto, isto , no conhecendo a deficincia na qual a
criana nasceu se v em total desespero, e parte em uma
busca frentica para tornar esse indivduo normal.
Essa uma convico que habitualmente os leva a
procurar as instituies que realizaro tal tarefa. Ideali-
za-se um ambiente isento de problemas e repleto de
capacidades e facilitaes, lugar perfeito onde no
acontecer discriminao e preconceito, o que na rea-
lidade no acontece. Dessa forma, as famlias deposi-
tam nas instituies todas as suas esperanas e expecta-
tivas, acreditando que ser somente este lugar que poder
contribuir efetivamente no processo de desenvolvimento
pessoal e social de seu indivduo com deficincia.
Contudo existem outras famlias com atitudes extre-
mamente opostas, e que ainda hoje, encontram nas
instituies o lugar ideal para depositar o indivduo
deficiente, e sem nenhum interesse por ele, em acom-
panh-lo, em saber o que acontece com ele dentro dessas
instituies, repassando a responsabilidade dos cuidados
a terceiros. Ou seja, constata-se a excluso e rejeio
10
BOURDIEU, Pierre & PASSEREN, Jean Claude. A reproduo; elementos para uma teoria do sistema de ensino. Rio de Janeiro,
1982, p.19.
11
AMARAL, Lgia Assumpo. Pensar a diferena: deficincia. Coordenadoria Nacional para Integrao da Pessoa Portadora de
Deficincia, Braslia, 1994, p. 24
84 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 79-92 1 sem. 2009
dentro das prprias famlias dos deficientes, conseqn-
cia do choque, do trauma no superado. Da no aceita-
o promove-se a segregao de seu membro familiar
com deficincia, isolando-o at mesmo do convvio
familiar, no lhe dando nenhum direito. Infelizmente
esse ltimo modelo familiar o mais comum, em maior
nmero, alterando apenas o nvel da segregao e da
excluso familiar, uma espcie de fuga para no vivenciar
a prpria realidade. neste contexto que as intuies
passam a ser a soluo para as famlias e para o prprio
deficiente, que encontram neste lugar o nico ambiente
de sobrevida, assim como o contato fsico com outras
pessoas, e at mesmo a possibilidade de receber ateno
e carinho de algum.
O preconceito, a excluso e a segregao familiar,
um processo que se inicia a partir do nascimento da
criana. A famlia, por no saber lidar com a situao
ou at mesmo por ter gerado expectativas s quais essa
criana no poder corresponder, v esvair todos seus
sonhos, desejos e expectativas em relao ao novo
membro da famlia.
[...] Eles enfrentam dificuldades desde o nascimen-
to, j que alguns so rejeitados pelos prprios pais. Para
integrar-se a sociedade sem problemas, so poucos os
lugares que tm reas adaptadas a eles [...]
12
.
Essa atitude de segregao familiar afeta essa criana
desde seus primeiro dias de vida, por ser a primeira
instituio onde ela ir conviver, e isso um reflexo da
segregao social, pois, a famlia no se encontra isolada
pairando no ar, como uma nave, ela se encontra inserida
dentro da sociedade. Portanto, no caracterstica
prpria de uma famlia em particular, mas resultante
de um complexo processo social. Nesses termos, a
deficincia compreendida como uma dificuldade
individual e familiar, e o seu ajustamento e adequao a
sociedade um problema que no diz respeito a esta, e
sim a quem o possui, indicativo de que essa sociedade
no sabe lidar com suas diferenas. Ela apia-se nos
princpios de desenvolvimento livre, da capacidade de
realizao natural do indivduo, que por sua vez, se
orienta pelo sentimento de segregao enraizado e, s
vezes, inconsciente dos indivduos que compe a so-
ciedade.
Todavia, se temos o preconceito explcito, como
citamos acima, temos tambm aquele implcito, que
quando praticado pode ser transformado em vitimizao
social, e possivelmente ocasionar uma assimilao pelo
prprio indivduo com deficincia. Este por sua vez, se
fecha para o mundo e acredita realmente ser uma pessoa
incapaz, inapto ao convvio social. a segregao com
uma nova roupagem, onde familiares isolam este in-
divduo, utilizando-se do argumento da proteo, em suas
casas negando a eles o direito do convvio social. No
percebem que essa atitude preconceituosa e discri-
minatria, a excluso social praticada pela famlia.
O abandono no se caracteriza necessariamente por
uma forma literal podendo ocorrer pelo simples no
investimento seja de amor, de dedicao, de tempo
etc. Tambm em relao super-proteo apenas um
assinalamento: uma das decorrncias desse fenmeno
o deslocamento do centro da relao para o protetor,
como a conseqente desvitalizao do protegido.
13
Tal preconceito ento se instala no ntimo, isto , no
inconsciente dos indivduos, portanto, no reconhecido
e aceito como tal, pois no se pode ter um sentimento
to negativo com relao ao membro de sua famlia
que muitas das vezes seu prprio filho, ou irmo e
quando no o , sustenta esse preconceito implcito,
atravs da viso de coitadinho, incapaz, devendo ser
ajudado em todas as suas tarefas, que por ventura tenha
que realizar.
A incapacidade de percepo de tal atitude acontece
por fazer parte de um imaginrio social. Esse imaginrio
traou um destino para as pessoas com deficincia, onde
elas devem estar dentro de seus lares, entre sua famlia,
responsveis e porta-vozes dos desejos e ansiedades dos
mesmos, negando assim, at os prprios sentimentos das
pessoas ditas deficientes. Comportamento este con-
siderado por Foucault
14
como o exerccio dos micro-
poderes ao nvel do quotidiano. A famlia julga-se porta-
12
Entrevistada A. Em ateno ao pedido de alguns entrevistados, parte dos depoentes ser aqui identificada por meio de letras do
alfabeto.
13
AMARAL, Lgia Assumpo. Pensar a diferena: Deficincia. Coordenadoria Nacional para Integrao da Pessoa Portadora de
Deficincia, Braslia, 1994, p. 21-22
14
FOUCAULT, Michel. Microfsica do Poder; traduo Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1985, p. 85.
85 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 79-92 1 sem. 2009
voz de seu ente deficiente e exerce sobre ele o poder de
deciso respondendo por ele em todas as situaes,
fazendo uma confuso na mente do mesmo, a ponto
dele no distinguir o que lhe inato do que foi imposto,
ampliando sua limitao para alm da sua realidade e
do necessrio.
Com esses mecanismos sutis de controle ocorre
dominao e a sujeio como forma de proteo
emocional, e o efeito deste comportamento sutil pode
ser duplo atravs da saturao ou submisso. A saturao
levar o sujeito deficiente resistncia e a buscar o
respeito a suas capacidades exigindo seus direitos de
escolha e de ir e vir da maneira que melhor lhe convier.
Contrapondo-se ao comportamento de saturao temos
o comportamento de submisso, este por sua vez, aceita
a proteo, a estigmatizao e as privaes como algo
bom, procurando usufruir das vantagens desta situao
em benefcio prprio.
Independentemente das condies fsicas ou mentais
as pessoas encontram dificuldades e obstculos ao lon-
go da vida e, limitao algo comum a todas as pessoas,
no importando se tenham ou no qualquer tipo de
deficincia. E a incapacidade est presente na vida de
todos, exatamente por ser um estado e no uma con-
dio, uma vez que o corpo humano pode no estar
saudvel ou no estar apto para a realizao de uma
atividade, sem que isso implique necessariamente que a
pessoa seja portadora de uma deficincia. Portanto, no
existe nenhuma ligao diretamente e necessariamente
de incapacidade com deficincia, at porque uma
limitao no incapacita as pessoas com deficincia. Por
isso, a luta dessas pessoas para que seus direitos, inclu-
sive aqueles que constam da Constituio Federal, se-
jam respeitados e praticados. Ou seja, elas no querem
viver como se fossem um peso na vida de seus fa-
miliares, querem ter o direito de viver em sociedade como
todo ser humano, algo que, embora parea simples, tem
requerido muita luta. Como precisou Puhlmann:
[...] A mulher portadora de deficincia fsica tem o
direito a maternidade [...] Quando grvida a mulher
portadora de deficincia fsica, se depara com a atitu-
de de surpresa e espanto e at revolta das pessoas, que
no a percebiam como sexuadas. A mulher portadora
de deficincia fsica apresenta os mesmos medos de
qualquer mulher frente a fragilidade e dependncia do
filho, tendo de enfrentar suas limitaes fsicas e con-
tornar dificuldades operacionais com mais freqn-
cias. [...]
15
Vejamos algumas experincias que refletem essa
questo:
A jornalista Flvia Cintra, 34 anos poderia ser uma
me como qualquer outra. Apaixonada pelo advogado
Pedro Corradino e bem-sucedida profissionalmente, h
dois anos ela achou que era hora de formar famlia. Mas
a deciso de Flvia de ser me gerou surpresa. Mais
at: dvidas sobre sua capacidade de gerar uma criana
e, depois, de assumir a maternidade. O motivo? Ela
tetraplgica. [...] Quando Flvia foi primeira consulta
com o obstetra, chegou com uma longa lista de per-
guntas. No teve chance de faz-las. Antes mesmo de
examin-la, o mdico aconselhou que aguardasse trs
meses para ter certeza de que a gravidez evoluiria. Eu
estava ali como qualquer mulher que engravida pela
primeira vez, recorda Flvia. Ele disse estar preo-
cupado com a minha situao e teve o cuidado de baixar
minhas expectativas. Depois de meu acidente, porm,
aprendi que mdicos tm uma especialidade e nem
sempre conhecimento de outras. Por terem limites, po-
dem ter preconceitos. Uma pessoa mais frgil, no meu
lugar, sairia dali devastada.
[...] Clia, 52 anos, paraplgica, quando decidiu ter
filhos aps trs anos de casamento. O que demonstra
que, apesar dos avanos sociais e cientficos, o tempo
no mudou alguns conceitos e preconceitos. Clia
consultou cinco obstetras, em So Paulo, antes de en-
contrar o que denomina fantstico. Trs deles a
aconselharam a no engravidar, por causa dos riscos.
Dois foram taxativos: afirmaram que ela no poderia.
Sempre fui teimosa e procurei mais uma opinio, conta
Clia. Ele pediu alguns exames e disse que ns dois
meu marido, Daniel, e eu estavmos bem e que no
havia nenhum impedimento. Era tudo o que Clia
precisava escutar. Menos de um ms depois, engravidou
do primeiro filho, Rodrigo, 20, que cursa o segundo ano
de medicina. Depois, teve Diogo, hoje com 17, e
15
PUHLMANN. Fabiano. A sexualidade da mulher portadora de deficincia fsica. Revista Brasileira de Sexualidade Humana SBRASH,
ISSN 0103-6122, vol. 6, n. 2, p. 197-203, jul. a dez. de 1995. Disponvel em: <http://www.adolec.br/bvs/adolec>. Acesso em: 26
fev. 2007.
86 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 79-92 1 sem. 2009
Stephanie Vitria, de 13. Todos de parto normal, sem
induo ou outro artifcio. [...]
16
Como podemos perceber na experincia da jornalista
Flvia Cintra, umas das conseqncias do estigma em
relao s pessoas com deficincia, est associado ao fato
de muitos acreditarem que so pessoas que no devem
constituir uma relao afetiva, como se os deficientes
fossem assexuados e no tivessem sentimentos. E
quando se depara com um casal em que, um ou ambos
so deficientes, muitos ficam sempre chocados, ou, no
mnimo, curiosos. Mas, felizmente existem sempre
aqueles dispostos a lutarem contra a rejeio e o
preconceito social, lutam por seus sonhos, para que
prevaleam tambm suas vontades, como caso das
pessoas envolvidas na reportagem acima, e do casal Beto
e Mrcia, comentados a seguir, moradores no bairro
Laranjeiras, periferia da cidade de Uberlndia, Minas
Gerais:
Mrcia: eu senti um sonho, [...] eu fiquei muito
surpresa, foi uma coisa maravilhosa um sonho que eu
nunca pensava que havia de realizar, porque eu nunca
me vi como me, eu pensava em adotar um filho, quando
eu soube da notcia, eu fiquei muito feliz parecendo que
eu estava sonhando, foi nove meses de sonho. Eu fiquei
to ansiosa que passei mal os nove meses, com
ansiedade, vomitava muito, fiquei ansiosa para ver a
carinha dele.
Beto: eu fiquei maravilhado, porque uma famlia tem
que ter um filho para completar. Eu cheguei a vomitar
com ela, vomitava, eu tambm, eu tambm vomitava.
A minha famlia ficou muito preocupada no comeo,
mais muito mesmo, chegou at me dar bronca, falou
que eu era um irresponsvel, de tanta preocupao,
porque eles achavam que ns no seriamos capazes de
criar uma criana. Hoje minha famlia baba com ele,
todo mundo.
Mrcia: A minha famlia at que aceito razovel n,
a famlia do Beto pensava que eu no ia da conta de
pegar a criana, amamentar. O tio do Beto, que meio
contra, falou assim comigo, que eu no ia d conta de
segurar o bebe, no ia da leite, que a mulher dele
normal e no deu leite, falou tudo isso, at hoje o
muleque mama, no ta me atrapalhando com nada,
amor e carinho que eu to dando para ele.
Foi cesrea n, e eu cheguei a sentar na mesa para
ver a carinha dele, e o mdico fez eu deitar de novo, eu
tava com a barriga aberta, para poder ver ele, uai.
Beto: eu fiquei muito emocionado, cheguei a chorar.
Ele tudo; carinhoso, ele cuidadoso.
Mrcia: ele levanta de madrugada para mim da
gua, no escuro vem aqui na cozinha, e leva na cama
pra mim d agua, e ele s tem 3 anos, ele muito
carinhoso com ns, muito, muito mesmo.
17
Como se nota, tanto na reportagem anterior, quanto
na entrevista de Mrcia e Beto, a descriminao, a
negao da sexualidade das pessoas deficientes se faz
fundamentada em uma esttica corporal. Nesse sentido,
um importante ponto a ser observado diz respeito s
conseqncias dessa cultura visual: trata-se do jul-
gamento da imagem, do exterior daquele corpo, que
carrega as marcas no s de sua deficincia, mas tam-
bm de seu estigma. No so aceitas aquelas pessoas que
no esto dentro dos padres de beleza ou de capacitao
cristalizados no imaginrio social, porque a cultura
predominante no abre espaos para o diferente. En-
quanto a deficincia ressaltada o ser humano existen-
te por traz daquela deladeficincia negligenciado. Essa
ditadura corporal traz embutida, uma padronizao at
mesmo para os sentimentos como se fosse possvel
estabelecer marcos regulatrios para essa dimenso
humana , esquecendo-se de que aquele corpo carrega
tambm subjetividades e um histrico de vida a ser
respeitado.
No interior dessa cultura mercadolgica, cujos pa-
dres de beleza esto fundamentados nos paradigmas
capitalistas do consumismo, o corpo torna-se, ento,
mais um objeto de consumo que pode ser comprado,
feito, nas clnicas de cirurgias plsticas, tendo como
objetivo maior a ser atingido o modelo ideal de beleza
largamente difundido pela mdia. Do mesmo modo, essa
sociedade dita comportamentos que devem ser seguidos
por seus componentes, com o rigor de uma normalidade
estabelecida que se pretende universal. De acordo com
Foucault,
16
PERRI, Adriana. Direito de ser me. Sou me de Gmeos. Revista Sentidos. Edio Especial, So Paulo, Ano 8, n. 44, p, 28-34, dez.
2007. Disponvel em: < http://sentidos.uol.com.br/revista>. Acesso em: 23 dez. 2007.
17
SILVA, Mrcia e SILVA, Roberto.
87 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 79-92 1 sem. 2009
esses mtodos que permitem o controle minucioso
das operaes do corpo, que realizam a sujeio cons-
tante de suas foras e lhes impem uma relao de
docilidade-utilidade, so o que podemos chamar as
disciplinas. [...] Mas as disciplinas se tornaram no
decorrer dos sculos XVII e XVIII frmulas gerais de
dominao [...] que visa [...] a formao de uma relao
que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obedien-
te quanto mais til, e inversamente. Forma-se ento
uma poltica das coeres que so um trabalho sobre o
corpo, uma manipulao calculada de seus elementos,
de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo hu-
mano entra numa maquinaria de poder que o esqua-
drinha, o desarticula e o recompe. Uma anatomia
poltica, que tambm igualmente uma mecnica do
poder, est nascendo; ela define como se pode ter
domnio sobre o corpo dos outros, no simplesmente
para que faam o que se quer, mas para que operem
como se quer, com as tcnicas, segundo a rapidez e a
eficcia que se determina. A disciplina fabrica assim
corpos submissos e exercitados, corpos dceis.
18
Mas quem normal ou a quem pode ser creditado
esse atributo? Se no possvel fundamentar o conceito
de normalidade em nenhuma base patolgica, gentica
ou neurolgica, resta, portanto, fundament-lo em
valores culturais de um determinado momento, esta-
belecido dentro de um contexto e de acordo com as de-
mandas sociais. Sobre essa questo, Carmo afirma que
as pessoas fazem enorme confuso do que normal
com o que comum, pois o que comum em deter-
minado lugar pode no ser em outro. Por isso, para o
autor, se comum fosse normal, o incomum seria anor-
mal
19
.
Nesse sentido, a sociedade tambm estabelece quem
so os anormais que os excluem. Configura-se, assim,
aquilo que Bourdieu chama de poder simblico, uma
vez que tais valores so ditadores de comportamentos
sociais e por meio desse poder surgem as produes
simblicas por ele determinadas:
As diferentes classes e fraces esto envolvidas em
uma luta propriamente simblica para imporem a
definio do mundo social mais conforme aos interesses,
e imporem o campo das tomadas de posies ideol-
gicas reproduzindo em forma transfigurada o campo
das posies sociais.
20
As reflexes de Bourdieu nos permitem inferir que
so esses poderes que, atravs de uma luta no campo
simblico, constroem suas produes, elas tambm
simblicas, de dominao, difundindo determinados
valores que, penetrando na cultura, contribuem para que
as pessoas desenvolvam conceitos pejorativos. Esses
conceitos que so por si s excludentes, ao serem assi-
milados pelos indivduos, considerando a fora que os
valores sociais possuem passam a ser transmitidos por
longos perodos, tornando-se parte do imaginrio social.
Os resultados desse caldo cultural tornam-se
bastante visveis, quando analisados luz dos obstcu-
los enfrentados cotidianamente. Um notrio exemplo
disso so os espaos de circulao pblica, que geral-
mente so planejados revelia das necessidades das
pessoas deficientes. Ou seja, a sociedade, de um modo
geral, desconsidera e os exclui. como se elas no
existissem, como se fossem totalmente invisveis ou, o
que ainda pior, quando reconhecidas, cumprem o
desagradvel papel de atrapalhar a funcionalidade das
coisas, pensadas a partir dos valores e referncias dos
ditos normais.
Portanto, a inacessibilidade aos espaos pblicos,
externa outra forma de representao social sobre a
excluso das pessoas com deficincias, como os prdios;
os transportes urbanos, as ruas, as praas e tantos outros
espaos que impossibilitam o direito bsico de todo
cidado: o direito de ir e vir, que entre outras conse-
qncias, tornou-se um empecilho ao trfego, ao acesso
e, a circulao dos mesmos. Como decorrncia, o que se
nota uma grande ausncia dessas pessoas nos diferentes
espaos pblicos existentes na sociedade, apesar de que,
no Brasil, nos ltimos tempos, tenha ocorrido uma
pequena melhoria, nesse aspecto, embora absolutamente
insuficiente tendo em vista a magnitude do problema. E
isso pode ser notado at mesmo nos centros urbanos mais
desenvolvidos do pas, como demonstram os estudos de
Perri, analisando a realidade da cidade de So Paulo:
18
FOUCAULT. Vigiar e Punir. Petrpolis, Vozes, 1977, p. 117- 118
19
CARMO, Apolnio Abadio do. Deficincia fsica: a sociedade brasileira cria, recupera e descrimina. Braslia: Secretaria dos Desportos/
PR, 1991, p. 10.
20
BOURDIEU. Pierre. Poder Simblico. Traduo: Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989, p. 11.
88 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 79-92 1 sem. 2009
[...] as barreiras que ainda impedem pessoas com
deficincia e mobilidade reduzida de circular livre-
mente, como as da Paulista: buracos, desnveis, de-
graus, guias rebaixadas ngremes ou que levam a uma
escada, barraquinhas de camels... Para cegos e ca-
deirantes, andar ali equivale a um verdadeiro Rali dos
Sertes. [...]
21
Um bom exemplo na cidade de Uberlndia a ser
citado de prdio pblico que inviabiliza o acesso de
pessoas deficientes, at mesmo por tratar-se de uma
instituio que poderia assumir a responsabilidade de
auxiliar na busca de alternativas para esse grave pro-
blema social, o da prpria Universidade Federal de
Uberlndia UFU. Construda j h algum tempo, sua
arquitetura revela o descaso com os deficientes. Embora
quase todos os seus prdios possuam um segundo piso,
os mesmos foram projetados sem rampas ou elevadores.
Com isso, muitos deficientes, vrios deles estudantes da
prpria universidade, para ter acesso a vrias das suas
dependncias, como o caso os dependentes de cadeiras
de roda, passam por situaes constrangedoras e hu-
milhantes, ao serem carregados nos braos, algumas
vezes at mesmo por estranhos. Essas pessoas rei-
vindicam, enquanto cidados, os seus direitos de se
movimentar de acordo com suas limitaes e possi-
bilidades, sem que para isso tenha que estar solicitando
ajuda de terceiros.
bem verdade que, nos ltimos nos, esse quadro da
UFU vem melhorando significativamente. Os ltimos
prdios que esto sendo construdos foram planejados
de forma a assegurar condies que garantam o acesso
em todos os seus nveis, inclusive nos banheiros, e os
prdios antigos comeam a passar por reformulaes que
objetivam minimizar os problemas existentes. Tais
providncias, seja por iniciativas dos gestores ou por
exigncias contidas em lei, apenas reforam o descaso
anteriormente existente e os resultados alcanados tm
relao direta com as lutas e os embates travados pelos
prprios deficientes e seus familiares engajados em suas
causas, bem como por rgos e pessoas inseridas dentro
da Universidade, simpatizantes e/ou envolvidos direto
ou indiretamente, como o caso do CEPAE
22
.
Ainda com relao cidade de Uberlndia, apesar de
que no seu centro comercial tido como carto de visita
da cidade e lugar de propaganda dos grandes feitos
polticos , algumas reformas tenham sido promovidas
com vistas a oferecer condies para a acessibilidade, por
vezes, no difcil encontrarmos lugares onde isso ainda
no ocorreu. Sobre essa questo, interessante notar o
comportamento paradoxal das autoridades municipais:
as medidas adotadas com vista a vender uma imagem
de preocupao com as pessoas com deficincia, no so
traduzidas em cuidados que externem uma efetiva
preocupao com o enfrentamento do problema, como
pode ser notado atravs da reportagem abaixo:
Os idosos e deficientes fsicos de Uberlndia que
precisam utilizar o Posto de Servios Integrados Ur-
banos (Psiu) vo continuar enfrentando constrangi-
mentos para ter acesso ao prdio do rgo. H quase
um ano (que ser completado em janeiro), a Justia de
Uberlndia concedeu uma liminar na ao civil pblica
impetrada pela Promotoria Especializada na Defesa da
Sade, do Deficiente e do Idoso, com o intuito de garan-
tir acessibilidade aos usurios. Contudo, at agora,
nenhuma modificao para adequao da estrutura do
edifcio, que fica na Praa Tubal Vilela, foi feita. Como
no existem rampas nem elevadores de acesso, algumas
pessoas acabam encontrando dificuldades para buscar
os servios oferecidos no estabelecimento. O problema
deve continuar persistindo por mais um ano, pois as
obras de modificao s devem ser iniciadas em abril
ou maio de 2008, de acordo com a previso do coor-
denador regional da Secretaria de Estado de Plane-
jamento e Gesto de Minas Gerais (Seplag) e interino do
Psiu, Elci Filho de Oliveira. [...]
23
Ou seja, quando um veculo estaciona em algum
lugar no permitido, atrapalhando o trnsito das pessoas
ditas normais, as providncias so rpidas e o seu
proprietrio com certeza ser multado, correndo o risco
de ter seu veculo guinchado ou at mesmo aprendido.
Mas, esse mesmo veculo pode estacionar em lugar que
21
PERRI, Adriana. Capa Acessibilidade 100%. Revista Sentidos. Acessibilidade 100%. Edio de Aniversrio, So Paulo, Ano 8, n. 43,
p. 28-34, out./nov. 2007.
22
CEPAE Centro de Pesquisa, Ensino, Extenso e Atendimento em Educao Especial. Pr-Reitoria de Graduao da Universidade
Federal de Uberlndia.
23
BARBOSA, Lucas. Obras de acessibilidade comeam em at 5 meses. Jornal Correio de Uberlndia. Uberlndia, 28 dez. 2007.
Cidade. Disponvel em: http://www.correiodeuberlandia.com.br. Acesso em: 28 dez. 2007.
89 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 79-92 1 sem. 2009
visivelmente atrapalha a acessibilidade das pessoas
deficientes, porm, nada acontecendo com o seu
condutor. Isso instiga, no mnimo, uma pergunta: por
que essa diferenciao no cumprimento da lei?
Com isso, deduz-se que as pessoas com deficincia
continuam enfrentando diversas dificuldades que vo
desde a locomoo passam pela educao e chegam ao
preconceito. Este ltimo, tanto pode se expressar de
maneira direta como indireta, por meio de um olhar,
uma palavra mal expressada, ou na falta de tolerncia.
Nesse sentido as barreiras fsicas tambm representam
preconceitos. Por isso, as ruas, os meios de transportes,
os estabelecimentos comerciais, entre tanto outros, na
maioria das vezes, no esto preparados para receb-
los. A sociedade geralmente esquece que as pessoas com
deficincia tambm so consumidoras, e necessitam de
condies para adentrar os estabelecimentos. Esse
descaso uma representao simblica, que explcita,
na prtica, a segregao, afastando ainda mais as pessoas
deficientes do convvio social.
As pequenas, porm relativamente considerveis
mudanas que tm ocorrido no Brasil, so resultados,
sobretudo, da conscientizao das pessoas deficientes, que
de alguma forma conseguiram fazer ouvir a sua voz e
valer os seus direitos. Mas isso, s foi possvel com muita
luta e embates. Da surgiu s alteraes e avanos no
plano formal, com alteraes nas leis ou criao de outras
especficas, tendo como desdobramentos as mudanas e
adaptaes nos espaos pblicos e privados. Por
conseguinte, isso tambm se reflete no plano social
provocando uma ainda modesta conscientizao das
pessoas de que elas tambm so pessoas aptas, com
determinadas limitaes.
A rigor, trata-se de embates de seres humanos contra
seres humanos, que podem ser entendidos como con-
seqncia de um modelo social e cultural, que investe
pesadamente no individualismo e na competio entre
as pessoas. Mais do que isso, essa cultura que tem
prevalecido projeta a imagem de corpo perfeito e, com
ela, a visualizao para as possibilidades de conquistas
dentro daquilo que o prprio sistema pode oferecer, de-
pendendo apenas dos esforos e das potencialidades
individuais. Por isso mesmo, dentro desse modelo ideal,
o sistema capitalista fabrica e estimula, formam um
segmento social com seus direitos de cidadania com-
prometidos. Esse um terreno perverso no qual as
pessoas com deficincia so tolhidas at mesmo de
expressar as suas emoes e/ou reaes, muitas vezes
entendidas como atpicas ou prprias da sua anorma-
lidade, os padres estticos institudos, que constan-
temente os julga como incapacitados, como se sua
deficincia fosse um fator definidor deste ou daquele
comportamento.
Portanto, para que as iniciativas em curso no Brasil
gerem frutos em termos de um efetivo enfrentamento
desse grave problema social, questo que deve ser
enfrentada em suas mltiplas dimenses. Para isso, uma
legislao que force a ruptura das inmeras barreiras
fsicas cumpre, sem dvida, um significativo papel. Mais
do que isso, entretanto, tornam-se necessrias as rup-
turas das barreiras sociais e culturais, uma vez que,
somente a partir do enfrentamento dos preconceitos,
estigmas e esteretipos seria possvel a promoo de uma
incluso social das pessoas com deficincia, capaz de criar
razes, ampliar-se e desenvolver-se com bases para
solidificaes que evitem possveis retrocessos.
Referncias
AMARAL, Lgia Assumpo. Pensar a diferena: Deficincia.
Coordenadoria Nacional para Integrao da Pessoa Porta-
dora de Deficincia, Braslia, 1994.
BOURDIEU, Pierre & PASSEREN, Jean Claude. A reproduo;
elementos para uma teoria do sistema de ensino. Traduo:
Reynaldo Baro. Rio de Janeiro: F. Alves, 1982.
______. Poder Simblico. Traduo: Fernando Tomaz. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
BRASIL. SEPLAN Pr. CORDE. Primeiro Plano de Ao da
Coordenadoria Nacional para Integrao da Pessoa Porta-
dora de Deficincia. Braslia, 1987.
CARMO, Apolnio Abadio do. Deficincia Fsica: a sociedade
brasileira cria, recupera e discrimina. Sec. Dos Desportos/
PR, Braslia 1991.
FOUCAULT, Michel. Microfsica do Poder. Traduo Roberto
Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1985.
______. Vigiar e Punir. Petrpolis, Vozes, 1977.
FREITAS, Giovanina Gomes de. O esquema corporal, a ima-
gem corporal, a conscincia corporal e a corporeidade. So
Paulo: Unijui, 1999.
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulao da
identidade deteriorada. 4. ed. Rio de janeiro: Guanabara S.A.,
1988.
GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com Deficincia e o Direito
ao Trabalho: Reserva de Cargos em Empresas, Emprego
Apoiado. Florianpolis: Obra Jurdica, 2007.
MARQUES, Carlos Alberto. Implicaes polticas da insti-
90 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 79-92 1 sem. 2009
tucionalizao da deficincia. In: Educao & Sociedade.
ISSN 0101-7330 verso impressa. Educ. Soc. v. 19 n. 62
Campinas Abr. 1998. Acesso: 15/06/2007.
SILVA, Otto Marques da. A Epopia Ignorada: A pessoa
Deficiente na Histria do Mundo de Ontem e de Hoje. So
Paulo: CEDAS, 1986.
PUHLMANN. Fabiano. A sexualidade da mulher portadora
de deficincia fsica. Revista Brasileira de Sexualidade
Humana SBRASH, ISSN 0103-6122, vol. 6, n. 2, p. 197-
203, jul. a dez. de 1995. Disponvel em: <http://www.adolec.
br/bvs/adolec>. Acesso em: 26 fev. 2007.
REZENDE, Antnio Muniz. Pistas para um diagnstico da
patologia cultural. In: Morais, J.F. Regis de (Org.). Cons-
truo social da enfermidade. So Paulo: Cortez & Moraes,
1978, p. 157-179.
91 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 91-101 1 sem. 2009
Introduo
Para que o acontecimento mais banal se torne uma
aventura, necessrio e suficiente que o narremos.
Jean Paul Sartre
O historiador Marc Ferro, no clssico Cinema e
histria, expe que um filme diz mais sobre o momento
em que foi produzido que o momento ao qual objetiva
retratar.
1
Alm disso, nos diz que todo filme tem uma
histria que Histria.
2
com base nesta reflexo que
buscamos discutir, atravs do entrecruzamento de dois
temas, violncia e gnero, o complexo problema da
questo agrria no Brasil. Para isso, esboaremos uma
anlise histrica do filme Terra para Rose, atentando
para a conjuntura de sua produo e a construo de
sua narrativa focada na figura de uma mulher: Rose.
O documentrio Terra para Rose foi dirigido pela
cineasta Tet Moraes. No que diz respeito parte tcnica,
roteiro e texto, tem a assinatura de Jos Joffily e Tet
Moraes e a fotografia foi feita por Walter Carvalho e
Fernando Duarte. A pelcula um longa-metragem com
durao de 84 minutos e pertencente ao gnero
documentrio. Sua filmagem foi iniciada e terminada
no ano de 1987 (em apenas seis meses). Trata-se de um
filme que contou com pouqussimo apoio financeiro.
Alm dessas informaes iniciais, importante apontar
que o filme ganhou doze prmios em festivais de cinema
nacionais e internacionais. No entanto, no foi um filme
acolhido pelo grande circuito cinematogrfico da
poca, estando restrito a espaos culturais mais alter-
nativos e a um pblico especfico os interessados em
problemticas sociais da poca.
Quanto ao tema principal, aborda a questo da
Reforma Agrria no Brasil, principalmente no perodo
ps-regime militar, denominado Nova Repblica. Mas
muitas outras temticas so privilegiadas, sendo tra-
balhadas, ou mesmo apontadas, dentre elas: a questo
O cinema como registro.
Cenas de violncia e gnero
no documentrio brasileiro*
Renata Soares da Costa Santos
Mestranda do Programa de Ps-Graduao em Histria Social da Cultura na Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro.
Bolsista do CNPq. E-mail: renatadahistoria@yahoo.com.br
Resumo
O artigo busca discutir, atravs do entrecruzamento de
dois temas, violncia e gnero, o complexo problema da
questo agrria no Brasil. Para isso, esboaremos uma
anlise histrica do filme Terra para Rose, atentando para
a conjuntura de sua produo e a construo de sua
narrativa focada na figura de uma mulher: Rose.
Palavras-chave: Cinema. Violncia. Gnero. Reforma
Agrria.
Abstract
This article aims to discuss, through the interweaving of
two themes, violence and gender, the complex problem of
agrarian issue in Brazil. To do so, we will make a historical
analysis of the film Terra para Rose, paying attention to
the situation of their production and the construction of
its narrative focus on the figure of a woman: Rose.
Keywords: Movie. Violence. Gender. Land reform.
* Este artigo parte do trabalho de concluso de Ps-Graduao Latu senso em Ensino de Histria e Cincias Sociais apresentado na
Universidade Federal Fluminense.
1
Ferro, Marc. Cinema e Histria. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
2
Ibidem, p.17.
92 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 91-101 1 sem. 2009
de gnero; violncia; sade; educao; fome; religio;
solidariedade e outras. No caso deste artigo, a primeira
temtica enumerada, a questo de gnero, ter uma
ateno particular, pois ser uma espcie de fio condutor
para compreendermos os ndulos da problemtica do
filme e seu momento histrico.
A protagonista e os protagonistas
Partindo da histria verdica de Rose, uma agricultora
sem-terra, a proposta do documentrio retratar o caso
especfico da ocupao da fazenda Annoni, localizada
no estado do Rio Grande do Sul. Esta ocupao foi re-
alizada por 1.500 famlias de sem-terras e foi considerada
a primeira grande ocupao de uma extensa rea im-
produtiva. Neste contexto, enfatizado e memorializado
o incio de atuao de um dos mais importantes e po-
lmicos movimentos sociais do Brasil ainda hoje, o Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
3
.
A diretora entrecruza as possibilidades de abordar
uma discusso macro (nacional) associada a uma dis-
cusso cotidiana dos indivduos que participaram de uma
ocupao especfica (a da Fazenda Annoni).
A autora e diretora enfatiza a histria de Rose, embora
no deixe de privilegiar a vida de outras famlias que
fizeram parte diretamente deste momento histrico.
Acreditamos que a cineasta Tet Moraes, assim como
outros documentaristas atuantes neste perodo de aber-
tura poltica, utilizou este tipo de abordagem e dedicou-
se a costurar junto a uma problemtica ampla, tramas
aparentemente banais, envolvendo gente comum.
4
O
que significa dar valor ao ponto-de-vista e s experin-
cias da vida cotidiana
5
de indivduos comuns, acreditando
na importncia de seus discursos para a construo do
registro histrico.
Gnero uma escolha narrativa
Podemos refletir sobre o sentido poltico da escolha
da diretora ao escolher sua protagonista. Tet Moraes,
antes de filmar Terra para Rose, tinha um projeto de
filmar o cotidiano de mulheres brasileiras, mas abriu mo
ao ter notcias dos conflitos de ocupao da fazenda
Annoni. Isto nos demonstra que a diretora j se in-
quietava com as questes de gnero anteriormente s
filmagens, e atribumos a esta inquietao o fato de ter
optado por uma nfase no cotidiano feminino no decorrer
do documentrio e at mesmo ter escolhido uma mulher
para protagonizar o filme. No entanto, no podemos
afirmar que existiam relaes diretas entre a cineasta e
o movimento feminista, mas, que existia indiretamente,
no nos resta muitas dvidas.
A escolha de Rose para protagonizar o filme vem a
representar um aspecto simblico, que tentaremos expor
cuidadosamente. Rose deu luz em 1985 primeira
criana nascida no acampamento da fazenda Annoni,
Marcos Tiaraju, criana retratada em diversos momentos
do filme como um smbolo de vida e de esperana. Mas
no pensamos que a escola de Rose tenha sido apenas
pelo aspecto simblico. Tendemos a lembrar da fala de
Tet Moraes, em entrevistas presentes no DVD do filme,
enfatizando a forma ativa de Rose e seu envolvimento
nas discusses. De acordo com o olhar da diretora, Rose,
alm de ser uma mulher
6
, participativa efetivamente no
movimento e nos protestos.
Rose, a protagonista do filme, no ano de 1987,
morreu em um acidente que gerou polmica naquele
momento. Ela foi atropelada, juntamente com outros
trs acampados, por um caminho prximo entrada
do acampamento (onde estava sendo realizada uma
manifestao). O motorista fugiu, deixando vrios fe-
3
O Movimento foi criado em 1984 em um Encontro em Cascavel, no Paran, com lideranas desse estado, do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, So Paulo e Mato Grosso do Sul com colonos que se haviam transferido da regio Sul (os atingidos por barragens).
Segundo o historiador Mario Grynszpan, em 1985 foi realizado o Primeiro Congresso Nacional do MST de onde foram retiradas as
seguintes resolues: extino do Estatuto da Terra e edio de novas leis que levassem em conta a luta dos trabalhadores;
expropriao de terras em mos de multinacionais; desapropriao de reas superiores a 500 hectares; ocupao de terras
improdutivas ou pblicas, adotando o lema Ocupao a nica soluo. In: GRYNSZPAN, Mario. A questo agrria no Brasil
ps-1964 e o MST. Apud, O Brasil Republicano O tempo da ditadura: regime militar e movimentos socias em fins do sculo XX /
organizao Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida Neves Delgado. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2003, p.337.
4
VAINFAS, Ronaldo. Os protagonistas annimos da histria: micro-histria. Rio de Janeiro: Campus, 2002, p.106-115.
5
Estamos trabalhando com o conceito de vida cotidiana formulado por Agnes Heller. De acordo com a autora, A vida cotidiana a
vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida cotidiana em todos os aspectos de sua individualidade, de sua
personalidade. Nela, colocam-se em funcionamento todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades
manipulativas, seus sentimentos, paixes, idias, ideologias. O fato de que todas as suas capacidades se coloquem em funcionamento
determina tambm naturalmente, que nenhuma delas possa realizar-se, nem de longe, em toda sua intensidade. In: HELLER,
Agnes. O Cotidiano e a Histria. So Paulo: Paz e Terra, 2004, p.17.
6
Devemos levar em considerao que o final do regime militar foi marcado por grandes presses dos movimentos sociais (rurais e
urbanos), dentre eles, o surgimento da imprensa alternativa, onde passou a veicular os ideais de diversos movimentos: feminista,
gay, negro, etc.
93 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 91-101 1 sem. 2009
ridos no local. Segundo a empresa responsvel pelo
caminho, o veculo perdeu a direo e teve problemas
com o freio, que no funcionou. No entanto, aps a
percia feita com tcnicos da Ford de So Paulo, foi
constatado que o veculo estava em perfeito estado e no
apresentava nenhum defeito nos trs sistemas de freios.
O caso, ainda que tenha ganhado repercusso na mdia,
no obteve maiores averiguaes. Segundo o relato do
filme, o processo na justia ainda estava em aberto at o
trmino das filmagens.
Um filme uma montagem
Acreditamos que as escolhas da diretora ao realizar
a montagem do filme fruto de sua sensibilidade inicial,
mas tambm de uma estratgia para construir os
argumentos da pelcula. Com relao definio de
montagem, Roslia Duarte nos diz que
Entendida em um sentido amplo, a montagem a
ordem em que os planos se sucedem em uma seqncia
temporal, assim como a forma como os elementos que
compem um mesmo plano so apresentados si-
multnea ou sucessivamente. Colocadas juntas, as
imagens se unem em uma nova idia; estendemos fios
invisveis entre elas, de modo que faam sentido para
ns. O cinema soube disso desde o incio e se utiliza da
montagem para sugerir essas ligaes.
7
Consideramos que o som um elemento funda-
mental na composio de um filme e que, em geral,
utilizado para ampliar o estado emocional para reforar
as emoes que se espera de determinadas cenas. Assim,
com referncia trilha sonora de Terra para Rose,
podemos observar a presena de msicas que nos con-
duzem a uma sensibilizao do tema discutido. Trata-se
de msicas instrumentais; de hinos e cantorias dos
prprios sem-terra (enfatizando a realidade em que vivem
e quais os seus objetivos); de hinos da igreja catlica
como sabemos, alguns segmentos da instituio tiveram
papel de destaque neste perodo histrico em defesa da
causa da realizao da Reforma Agrria.
A trilha sonora que predominou no filme foi a Nona
Sinfonia de Beethoven a que se refere a todos os
homens como irmos. Neste sentido, a escolha da
sonoplastia est em harmonia com o objetivo do filme,
pois articula as causas que o movimento defende e a
questo ampla da solidariedade. Com relao
solidariedade, nos diz Joo Pedro Stdile:
Essa solidariedade deve ocorrer em coisas prticas,
como por exemplo estabelecer um banco de doadores
de sangue para os hospitais pblicos das cidades pr-
ximas aos assentamentos. Devemos ser os primeiros
voluntrios a prestar ajuda em casos de catstrofes
naturais, como enchentes, temporais, secas, etc. os
assentamentos devem fazer brigadas de solidariedade
para atender esses casos.
8
De forma geral, as cenas do filme transitam entre o
cotidiano do acampamento da Fazenda Annoni;
entrevista com os sem-terra; com o proprietrio da
Fazenda Annoni e ministros, deputados, padres,
intelectuais e artistas; cenas televisivas; passeata para
pressionar o governo a realizar um projeto de Reforma
Agrria e sua concretizao; e a notoriedade miditica e
a solidariedade por parte da populao, conquistadas pela
visibilidade do movimento e da causa em questo.
Neste mbito, consideramos que o documentrio
apresenta um importante dilogo entre as opinies
divergentes do movimento dos acampados na fazenda,
colocando em cena os discursos de autoridades e do dono
da fazenda. Ao contrapor estas entrevistas, o filme
direciona o nosso olhar, na medida em que mostra os
depoimentos dos sem-terra sempre de forma engajada
enquanto as cenas mostradas do fazendeiro so inex-
pressivas e vacilantes (como se o fazendeiro no tivesse
argumentos ou estivesse nervoso). Assim, o docu-
mentrio confere legitimidade ao discurso dos sem-terra
atravs das estratgias de edio e montagem no
podemos esquecer que as imagens so selecionadas e
editadas, logo, esto, at certo ponto, indissociadas da
singularidade flmica (de quem produz e por que produz).
Comentar Terra para Rose
uma tarefa rdua
Partimos do princpio de que comentar um filme
atravs do olhar do historiador no uma tarefa fcil.
Portanto, como nosso objeto de anlise um filme da
7
DUARTE, Roslia. Cinema e Educao. Belo Horizonte: Autntica, 2002, p.50.
8
STDILE, Joo Pedro e FERNANDES, Bernardo Manano. Brava Gente: A trajetria do MST e a luta pela terra no Brasil. So Paulo:
Editora Fundao Perseu Abramo, 2001, p.123.
94 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 91-101 1 sem. 2009
dcada de 1980, atribumos grande ateno s palavras
de alerta da historiadora Ana Maria Mauad em anlise
ao filme Bye, Bye Brasil: sendo um filme recente, corre-
se o perigo de cair nas armadilhas do devaneio, ou at
mesmo do impressionismo de uma pseudocrtica cine-
matogrfica.
9
No entanto, ainda que correndo o risco, no podemos
nos privar de assumir o papel de historiador que age no
apenas enquanto cientista, mas tambm como artista
10
.
Isto significa que devemos assumir a tarefa de realizar a
narrativa flmica e que devemos constatar as diferentes
formas que esta narrativa pode vir a assumir o que
est intrinsecamente ligado aos ideais dos indivduos que
se propem a realizar tal tarefa. Para assumir esta em-
preitada de narrar um filme, pautamo-nos na concepo
de narrao de Mariza de Carvalho Soares:
A forma narrativa, segundo a concebo, diz respeito
ao modo como o filme apresenta uma determinada
temtica, envolvendo a o gnero (fico ou documen-
trio, por exemplo), o tratamento dado fotografia, o
ritmo da narrativa, a msica, o tempo de durao, o
tratamento dado cronologia e at mesmo a opo entre
pelcula e fita magntica.
11
A partir desta exposio, julgamos que podemos
iniciar a anlise de nossa fonte/documento/testemunho
histrico. Seguiremos os conselhos de Marc Ferro ao nos
incentivar a Partir da Imagem, mas no deixar de fazer
uso de outros saberes, sempre que necessrio
12
, para
enriquecer e aprofundar o estudo minucioso do do-
cumento. Assim, tentaremos identificar no filme Terra
para Rose elementos que possam nos ajudar a com-
preender a conjuntura da dcada de 1980, especialmente
no que diz respeito Questo Agrria.
Para realizar de forma ldica esta anlise, dividiremos
a observao em sub-tpicos, correspondentes prpria
organizao do filme, marcados pelas seguintes
separaes: A promessa; A presso; A espera; O con-
fronto; O Sonho; A Trgua. Logo, faremos a anlise
buscando levantar as principais problemticas abordadas
em cada um dos quadros narrativos.
13
A primeira cena do filme apresenta seus protagonistas
em passeata cantando. Rose aparece com seu filho no
colo junto a inmeros outros indivduos sem-terra. A
cena musicada apenas pela cantoria dos manifestantes.
Em seguida, os manifestantes encontram-se organizados
em torno de uma grande faixa (no muito legvel) onde
aparentemente est escrito CAMINHADA PELA PAZ.
Juntos cantam o hino nacional. Neste momento, obser-
vamos no filme uma primeira mudana brusca de cena
14
que dar incio ao nosso primeiro recorte textual.
A promessa
A cmera focaliza a bandeira nacional enfatizando o
seu escrito Ordem e Progresso. Ao fundo, uma melodia
instrumental do hino nacional e uma narrativa com
sucesso de dados estatsticos:
Brasil: 8.5000.000 Km2, 140 milhes de habitantes,
8 economia do mundo capitalista, 5 exportador de
armas, estrutura fundiria arcaica. Dos 4.500.000 de
proprietrios rurais, apenas 170 mil so donos de quase
metade da rea agrcola do pas e contribuem s com
16% da produo agropecuria do Brasil. H pelo
menos 12 milhes de famlias de trabalhadores rurais
sem terra. Foram assassinados mais de mil camponeses
nos ltimos 20 anos. Entre 1970 e 1980, 24 milhes de
brasileiros migraram do campo para as cidades. Esse
quadro de tal forma absurdo que hoje em dia quase
praticamente ningum se diz contra a Reforma Agrria.
Mas cada um quer a sua e ela no acontece.
Estes dados estatsticos so teis para que possamos
entender, no apenas para onde o roteiro do filme nos
9
In: Domnios da Histria: ensaio de teoria e metodologia. Ciro Flamarion Cardoso, Ronaldo Vainfas (orgs). Rio de Janeiro: Campus,
1997. p.75-86.
10
Para JOUTARD, P., o historiador torna-se participante de um esforo coletivo onde memria e histria dialogam entre si e inserem
no conhecimento acadmico a literatura, a msica, o cinema e modernas tecnologias. neste sentido que no desassocia o historiador
do campo artstico, pois, para o autor, a partir deste entrecruzamento de conhecimentos o historiador no age mais exclusivamente
como cientista, mas como artista, apud SOARES, Mariza de Carvalho. Primeiros Escritos, n1 julho-agosto de 1994, LABHOI,
p. 4.
11
Ibidem, p.3.
12
FERRO, Marc. 1992, op.cit., p.86.
13
Entendemos por quadros narrativos a maneira pela qual o realizador cinematogrfico manipula os elementos da linguagem
flmica. Ou seja: o conjunto das modalidades de lngua e de estilo que caracterizam o discurso cinematogrfico, SETARO, Andr.
Como o cinema fala. Artigo publicado em revista eletrnica Coisa de Cinema, em 24/09/2003: www.coisadecinema.com.br
14
Este termo, sempre que usado, indicar uma ruptura no decorrer da linearidade das imagens focalizadas. Por exemplo, uma
mudana de filmagem do campo para a cidade; da fala de um sem-terra para a de um latifundirio, etc.
95 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 91-101 1 sem. 2009
conduz (uma legitimao da Reforma Agrria), mas para
compreender determinados aspectos deste perodo
histrico (e como eram lidos naquele momento). Pri-
meiramente, a constatao de que o pas possui uma
grande extenso territorial que desigualmente distri-
buda, o que seria a causa das discrepncias sociais e dos
principais problemas fundirios no pas, levando morte
um exorbitante nmero de camponeses e levando
inmeros outros ao xodo rural entre as dcadas de 1970
e 1980.
Quanto ao filme, paralelo narrao, a cmera
percorre cenas do Congresso e ao mencionar os dados
dos assassinatos de camponeses, a cmera d um close
por alguns segundos na escultura que simboliza a justia
(com os olhos vendados) conduzindo a uma associao
com o dito popular de que a justia cega. A idia
expressa na imagem de olhos vendados de que a justia
cega do prprio mbito do Direito, pois significaria
que ao julgar e punir, todos seriam iguais perante a
justia, j que esta seria cega diante de privilgios,
condies de classe, etc; contudo as injustias atribudas
ao Sistema Judicirio acabaram por vulgarizar uma
outra interpretao para a imagem de olhos vendados,
ou seja, a de que a justia cega diante das injustias;
no filme os dois sentidos podem estar contidos na tomada
analisada: tanto se cobra da justia que ela seja cega para
fazer justia, quanto se denuncia que a justia cega
para fazer justia. Logo aps estas cenas, privilegia-se a
figura do presidente Jos Sarney e uma das promessas
desse governo: fazer a reforma agrria.
Sabemos que os primeiros anos da dcada de 1980
so considerados um perodo de redemocratizao no
Brasil. Segundo o filme, um perodo de esperanas, de
promessas. Nesse contexto mostram-se cenas do
presidente Jos Sarney assinando a deciso poltica de
fazer a reforma agrria e um trecho de sua fala onde
retomou os ideais do falecido presidente Tancredo Neves.
A eleio do governo Tancredo Neves / Jos Sarney,
assumindo o compromisso com a reforma agrria, no
significa uma efetivao de tal proposta. O fato de ter
sido criado um Ministrio voltado para o tema da questo
agrria no incio do governo de Jos Sarney no sig-
nificou uma garantia de realizao do modelo de reforma
fundiria objetivada pelos trabalhadores do campo.
Conforme a tese de Leonilde Servolo de Medeiros, Se,
num primeiro momento, o Estado brasileiro absorveu o
tema, logo a seguir se viu recortado pelas contradies
inerentes a uma ampla aliana poltica, que envolvia
foras com interesses bastante diferenciados
15
.
Torna-se de extrema importncia compreender que
o governo Sarney, aceitando a herana de Tancredo,
manteve o novo Ministrio da Reforma e Desenvol-
vimento Agrrio com um plano de assentamento de pelo
menos 1.500.000 famlias. No entanto, frente resistn-
cia de fazendeiros e pecuaristas amplamente repre-
sentados no Congresso Nacional atravs da Unio Demo-
crtica Ruralista somente 70.000 famlias foram
assentadas. E assim, conforme as palavras do historiador
Francisco Carlos Teixeira da Silva, Os conflitos da
decorrentes promoveram mais de 70 assassinatos por
ano de lderes sindicais, quase todos praticados por
jagunos pagos por fazendeiros.
16
O documentrio mostra, juntamente com esta
deciso poltica de fazer a reforma agrria, os impasses
que dificultam a sua realizao. Neste momento, um
debate torna-se importante para compreender o pa-
norama dos conflitos fundirios debate este que gira
em torno da formulao do Primeiro Plano Nacional de
Reforma Agrria (PNRA) e da formao da Unio
Democrtica Ruralista (UDR). O PNRA foi elaborado
ainda no incio da chamada Nova Repblica e contou
com a participao de defensores da reforma agrria,
como Jos Gomes da Silva, de dirigentes e assessores
sindicais vinculados Contag (Confederao dos Tra-
balhadores Agrcolas) e demais entidades de repre-
sentao dos trabalhadores do campo. Tal documento
foi mostrado ao pblico durante o IV Congresso Nacional
dos Trabalhadores Rurais em 1985, indicando, segundo
Leonilde Medeiros
17
, o compromisso com alteraes na
estrutura fundiria o que no significa a sua realizao
na prtica e nem a satisfao dos trabalhadores rurais.
Observamos no texto de Ruy Moreira, intitulado O
Plano Nacional de Reforma Agrria em Questo, uma
das formas pela qual estava sendo pensada a discusso
15
Com relao citao, a autora refere-se aos impasses causados com a formao da Unio Democrtica Ruralista. In: MEDEIROS,
Leonilde Servolo de. Reforma agrria no Brasil: histria e atualidade da luta pela terra. So Paulo: Editora Fundao Perseu Abramo,
2003, p.34.
16
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Brasil, em Direo ao Sculo XXI. In: Histria Geral do Brasil / Maria Yedda Linhares
(organizadora). Rio de Janeiro: Elsevier, 1990. p.395.
17
MEDEIROS, Leonilde Servolo de. Op.cit.
96 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 91-101 1 sem. 2009
que gira em torno da formulao e aprovao do 1
PNRA. Segundo o autor,
bastou que o governo da Nova Repblica anunciasse
sua Tmida proposta para elaborao do 1 Plano
Nacional de Reforma Agrria da Nova Repblica, para
que se evidenciasse o lugar que a questo agrria ainda
ocupa na problemtica geral da sociedade brasileira
(...) Houve violenta reao dos grandes proprietrios
rurais, em todos os cantos do pas, com toda a rever-
berao dada pelos meios de comunicao (...) aumen-
tou a escalada de assassinatos a camponeses e suas
lideranas sindicais.
18
Estes argumentos vem demonstrar o quanto a
trajetria do PNRA e o processo constituinte (em 1987-
1988) explicitaram a complexidade da relao de foras
que se estabelecia (a presso da bancada ruralista sobre
os projetos elaborados).
O filme, realizado neste contexto histrico, enfa-
tiza em suas cenas a sucesso de Ministros da Re-
forma e Desenvolvimento Agrrio, nominando-os: 1
Min. Nelson Ribeiro; 2 Dante de Oliveira; 3 Marcos
Freire.
Embora tenha ocorrido uma longa discusso e
crticas em torno das propostas do PNRA por parte de
segmentos sociais, a maior reao foi a realizada por
representantes dos proprietrios de terra. Neste sentido,
intrigante observar, por exemplo, que um ms aps o
anncio do PNRA, este grupo realizou um congresso
nacional em Braslia para discutir o plano apresentado
pelo governo, nascendo deste encontro uma organizao
de representao de seus interesses: a Unio Democr-
tica Ruralista (UDR)
19
. Tambm observamos a atuao
desta entidade na medida em que estimulava seus
associados a usarem a fora no combate s ocupaes
de terra que estavam sendo realizadas
20
. Alm disto,
torna-se curioso o curto espao de tempo necessrio pa-
ra que esta nova organizao ganhasse projeo nos
meios de comunicao e constitusse porta-vozes no
Congresso Nacional.
A presso
Segundo entrevista de Dante de Oliveira ao filme, no
Brasil existem mais de dois mil focos de tenso social de
luta pela terra. Esta entrevista realizada, aparen-
temente na residncia do poltico, mas o que nos interessa
que so mostradas as disparidades, no decorrer do filme
dos prprios espaos fsicos em que falam os indivduos.
Neste momento, por exemplo, aps filmar uma bela
residncia de classe mdia, o filme far uma mudana
brusca e enfatizar o latifndio da fazenda Annoni.
O documentrio identifica como um desses conflitos
citados por Dante de Oliveira, o da fazenda Annoni, cujo
processo de desapropriao comeou em 1972 ao ser
classificada como latifndio improdutivo, onde o gover-
no prometeu assentar famlias de agricultores sem terra.
No entanto, passados 14 anos, ainda no tinham con-
cretizado o processo de assentamento, pois os pro-
prietrios recorriam justia e realizavam negociaes
que retardavam o processo. Assim, em outubro de 1985,
1.500 famlias de sem terra, organizados pelo MST,
decidiram ocupara a fazenda Annoni.
A partir deste momento, as cenas que at ento
estavam enfatizando o latifndio iro mesclar entre-
vistas realizadas com o proprietrio da fazenda, Bolvar
Annoni, e entrevista realizada com Rose. Este jogo de
cena interessante para observarmos claramente como
podemos aplicar um dos mtodos propostos por Marc
Ferro, isto , realizar uma anlise crtica da fonte do
cinema para isso, partir do princpio de que as edies
realizadas so intencionais para enfatizar os objetivos
de quem realiza o filme. Acreditamos que deva ser
enfatizada a forma que a documentarista monta uma
entrevista com o latifundirio e com a Rose. Nesse
momento do filme, no nos resta dvida de que con-
trape um discurso de hesitao e inrcia social a um
discurso de afirmao e convico o que foi construdo
na montagem. Neste caso, podemos fazer a seguinte
leitura da cena que consideramos ser uma das mais
expressivas para anlise: as cenas do proprietrio
expressaram uma pessoa confusa em suas palavras e
18
Revista Terra Livre. AGB: 01, ano 1, 1986, p.06.
19
MEDEIROS, Leonilde Servolo de. Op.cit., p.36.
20
O que infelizmente no uma caracterstica apenas da dcada de 1980, mas faz parte de inmeros casos no muito divulgados,
como o ocorrido na cidade de So Gabriel (RS) no ano de 2003, onde fazendeiros, atravs da distribuio de panfletos, incentivavam
a populao local a cometer atrocidades com os recm acampados em uma fazenda improdutiva (j fiscalizada e desapropriada)
fonte: ver o site http://www.mst.org.br/informativos/minforma/ultimas76.htm
97 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 91-101 1 sem. 2009
insegurana quanto ao que estava sendo dito; j as cenas
de Rose, mostraram uma mulher muito decidida e con-
victa de seus ideais. A partir desta leitura, vlido ressaltar
que a edio do filme constri sentidos, ou seja, possi-
velmente existiram falas de acampados que foram
cortadas falas que, por ventura, no foram consi-
deradas importantes para atingir o objetivo do discurso
do filme , pois a imagem que se pretendia construir
era coerente com o discurso que buscamos analisar.
Ao mencionar as entrevistas, acreditamos ser ne-
cessrio realizar uma discusso mais aprofundada a
respeito, pois so essenciais para a interpretao do filme
enquanto documento e produto cultural. Ao iniciar o
filme, um locutor, a voz de um narrador. Aps seqn-
cias de imagens e narrao, falam entrevistados. O
entrevistador no aparece na tela, mas faz perguntas aos
entrevistados. No caso dos acampados, estes falam de
suas individualidades, dos motivos que os levaram a
participar do processo de ocupao, de suas condies
de vida, de suas perspectivas. importante ressaltar que,
quando nos referimos s entrevistas, no nos atemos
apenas s realizadas com os assentados, mas s inmeras
outras realizadas no filme com outros indivduos ligados
temtica discutida.
Nesse sentido, constatamos dois tipos distintos de
entrevistas: as espontneas e as dirigidas. Com relao
ao primeiro tipo, so as entrevistas onde o documen-
tarista convive com a disponibilidade do entrevistado,
geralmente so as breves entrevistas do filme, momentos
onde as pessoas esto de passagem ou momentos onde a
cmera captura sem querer atos e palavras de aflio
o que fica claro, por exemplo, nas cenas de represso
ou violncia policial. Quanto ao segundo tipo, so as
concedidas pelo que o cineasta Jean-Claude Bernardet
chamou de ator natural
21
, ou seja, a entrevista parte
da pessoa que o cineasta escolheu e/ou que se disps a
ser entrevistada e filmada e ir agir em funo da filma-
gem. Este entrevistado ir fazer o que foi mais ou menos
combinado pela equipe de filmagem: onde sentar, refazer
a cena se necessrio e etc. vlido lembrar que este
indivduo entrevistado representa a si mesmo em funo
da filmagem. Alterando-se s entrevistas, mostram-se
cenas do cotidiano de pessoas acampadas em barracos
de lona: criao de animais, pouca plantao, crianas
brincando, mulheres e homens trabalhando e etc.
No decorrer do filme, observamos uma mudana na
paisagem a ser filmada uma mudana do campo para
a cidade. Isto, porque, segundo a narrativa do filme,
depois de meses de negociaes com o governo sem
resultados concretos os acampados da fazenda Annoni
decidiram fazer mais presso. Em 1 de maio de 1986,
50 famlias (...) acamparam em Porto Alegre, em pleno
estacionamento do INCRA. As cenas seguidas a esta
fala expressam as dificuldades destes indivduos de se
adaptarem cidade. Conforme dito no filme, como esta
presso de acampar em frente ao INCRA no resolveu
o problema, os acampados resolveram intensificar a
presso e decidiram, em assemblia geral, realizar uma
Caminhada para a cidade de Porto Alegre para com isso
sensibilizar o governo.
Neste momento, temos uma cena importantssima
para entender um aspecto da conjuntura da dcada
estudada a cena do incio e do decorrer da passeata.
Na primeira cena os acampados encontram-se ao redor
de uma grande cruz que iro carregar no decorrer da
Caminhada. Esta cruz possui um simbolismo mstico/
religioso para aqueles indivduos: nela amarrado um
pano verde, ao centro, que simboliza a esperana em
conquistar a causa pela qual lutam; esto amarradas
fitas pretas de um lado, representando os que morreram;
fitas brancas na outra extremidade, simbolizando a paz
que almejam. Assim, a cruz vem a nos atentar para a
expressividade da religiosidade popular, presente na fala
que dar incio Caminhada que se prope a fazer
tambm a caminhada para Jesus.
O Movimento em favor da causa da reforma agrria
crescia neste momento histrico e contou com variados
apoios. Quanto s entidades de apoio, fundamental
mencionar o papel da Igreja Catlica e Luterana em
defesa dos trabalhadores do campo. Assim, esta par-
ticipao estende-se desde os posicionamentos insti-
tucionais (como o caso do documento Igreja e pro-
blemas da terra, CNBB, 1980) at as prticas cotidianas,
intermediadas por padres e agentes pastorais. im-
portante ressaltar uma diretriz que veio a nortear o
discurso e a prtica de determinado segmento da Igreja
Catlica os ideais poltico-filosficos da Teologia da
Libertao
22
. Tambm foi importante para a organizao
21
BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagem do povo. So Paulo: Companhia das Letras, 2003, p.22.
22
Corrente pastoral das Igrejas crists que aglutina agentes de pastoral, padres e bispos progressistas que desenvolvem uma prtica
voltada para a realidade social. Essa corrente ficou conhecida assim porque, do ponto de vista terico, procurou aproveitar os
98 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 91-101 1 sem. 2009
das lutas camponesas o surgimento e contribuio da
Comisso Pastoral da Terra (CPT)
23
. De igual forma,
houve um expressivo apoio causa com a formao de
ONGs, como a ABRA, Fase, CEDI, IBASE
24
. Isto, alm
de uma srie de entidades de atuao local que deram
suporte ou promoveram iniciativas de formao de
trabalhadores rurais e/ou iniciaram campanhas de apoio
como o caso da Campanha Nacional pela Reforma
Agrria.
Durante esta Caminhada ficam explcitos, princi-
palmente, o apoio da Igreja catlica ao movimento,
atravs da missa celebrada em favor da romaria onde
o filho de Rose apresentado como um smbolo de vida
, da participao de padres, freiras e pastorais na
Caminhada, da entrevista com o padre Arnildo Fritzem
onde expressa a importncia de se aderir ao movi-
mento popular e da presena de faixa expostas tanto
na Caminhada, quanto nos locais onde os acampados
chegavam e eram abrigados. Como exemplo, podemos
citar os dizeres da seguinte faixa em frente a uma das
igrejas pela qual passaram os acampados da fazenda
Annoni e seus apoiadores: A parquia Na Sra das Graas
sada os colonos acampados na fazenda Annoni e os
apia em suas justas aspiraes.
Alm desse apoio eclesistico, o filme relata o apoio
popular conseguido com a caminhada, o que chamou
de solidariedade coletiva. Segundo a narrao do filme,
os acampados conseguiram, atravs de doaes de
alimentos e estabelecimentos para dormir, finalizar a
Caminhada e chegar a Porto Alegre.
A causa da Reforma Agrria estava em voga na
conjuntura de meados da dcada de 1980 e um desses
apoios pode ser observado atravs do seguinte trecho do
intelectual Herbert de Souza Revista Brasil Agrcola
em 1986 na poca membro da Campanha Nacional
pela Reforma Agrria:
a luta pela reforma agrria uma luta poltica
fundamental. uma das reformas mais graves, mais
srias e mais difceis de realizar. Ela est na raiz da
sociedade brasileira; de tudo que a sociedade tem de
autoritria, atrasada, de negativo (...) A grande tarefa
continua sendo a mobilizao; a conquista de aliados;
campanhas de esclarecimento, principalmente nos
grandes centros; (...) a promoo de uma articulao
campo / cidade que mostre cidade que ela assim
porque no se faz a reforma agrria. As pessoas vo
descobrir que o assaltante, a violncia, a inflao, o
desemprego, o subemprego, a prostituio, o roubo,
todas essas coisas que se concentram na cidade so
filhas da terra, da terra no dividida.
25
A espera
Os acampados so convidados a esperar uma
soluo enquanto o Estado tenta marcar audincias em
Braslia para resolver o problema. At que isso acon-
tecesse, os acampados ficaram instalados na Assemblia
Legislativa do Rio Grande do Sul, onde realizavam
reunies com polticos e esperavam respostas concretas.
Nas cenas das reunies so enfatizadas pelo docu-
mentrio as diferenas estereotpicas entre os distintos
segmentos sociais: close no vesturio e calados dos sem-
terra (roupas simples, velhas e sandlias de dedo) e dos
polticos (palets e sapatos). Este mais um momento
em que o filme objetiva mostrar uma contradio entre
os atores sociais.
Aps filmar cenas de espera durante dias no interior
da Assemblia com sem-terra ocupando cadeiras de
parlamentares para dormir, conversar e festejar , so
mostradas cenas da fazenda, onde tambm h muita
expectativa em torno de respostas concretas para
solucionar o problema da desapropriao. Segundo um
ensinamentos sociais da Igreja a partir do Conclio Vaticano II. Ao mesmo tempo, incorporou metodologias analticas da realidade
desenvolvidas pelo marxismo. Dessa corrente surgiram diversos pensadores importantes, entre eles padre Gutierrez, no Peru,
Clodovis Boff e Leonardo Boff, Hugo Asmann, do Brasil. A maioria dos precursores da Amrica Latina. STDILE, Joo Pedro e
FERNANDES, Bernardo Manano. Brava Gente: A trajetria do MST e a luta pela terra no Brasil. So Paulo: Editora Fundao Perseu
Abramo, 2001, p.20.
23
Organismo pastoral da Igreja Catlica, vinculado Conferncia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A CPT foi organizada em
1975, em Goinia (GO), durante um encontro de bispos e agentes pastoral, a partir de reflexes sobre a crescente onda de conflitos
de terra que ocorriam nas regies Norte e Centro-Oeste do pas. A CPT teve como referncia doutrinria a Teologia da Libertao.
Procurava aplicar na prtica as orientaes do Conclio Vaticano II. Embora iniciada no Norte e no Centro-Oeste, estendeu suas
atividades para quase todos os estados do Brasil. Atua em todas as dioceses em que h problemas de terra. STDILE, Joo Pedro e
FERNANDES, Bernardo Manano. Op. cit., p.19.
24
Associao Brasileira de Reforma Agrria, Federao dos rgos Assistenciais e Educacionais de Base, Centro Ecumnico de
Documentao e Informao, Instituto Brasileiro de Anlises Sociais e Econmicas.
25
Um abrao Betinho luta pela terra. Arquivo concedido pela famlia de Herbert de Souza ao CPDOC.
99 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 91-101 1 sem. 2009
entrevistado do acampamento, h muito o que ser feito,
como acabar com as ms condies de vida que
acarretam doenas (m alimentao, frio, higiene, etc).
No acampamento da fazenda, enquanto esperam,
conseguem o apoio do estado para construrem um posto
de sade e uma escola
26
e organizam grupos de tra-
balho
27
para dividir as tarefas internas de manuteno
do acampamento.
Voltando ao cenrio da Assemblia, o documentrio
registra um sem-terra sendo entrevistado por uma
emissora de televiso. Ao falar, enfatiza que a esperana
dos acampados de que a resposta do governo Jos
Sarney no seja a de que iro desapropriar a terra nos
prximos dias, mas que tragam as desapropriaes j
propriamente feitas e tambm a posse, n, porque apenas
desapropriar... a posse pode se dar daqui h um ano, dois
anos, e vai acabar todos os processos como a Fazenda
Annoni, aconteceu de ficar 14 anos.
28
Conforme registra o filme, continua na justia a
disputa entre o proprietrio e o Estado, logo, os sem-
terra no podem plantar na rea (a no ser pequenas
hortas), pois a ocupao era considerada ilegal. Diante
desta situao, sobrevivem no acampamento de doaes
voluntrias e da pouca ajuda do governo.
O proprietrio da fazenda, ao ser questionado se j
esteve no acampamento e se conhece as famlias, afirma
que sim. E, alm disso, afirma que so pessoas dos
municpios locais e que a maioria no so agricultores
(ou filhos de agricultores) que so pessoas que tinham
outros trabalhos na cidade. Podemos observar que esta
fala no aparece com freqncia na fala dos acampados
entrevistados pelo documentrio. De uma forma geral,
no se referem ao trabalho nas cidades, a menos que
seja para dizer que no querem esta opo e pretendem
permanecer no campo. Quando se referem s cidades
enfatizam a questo do desemprego. Esta problemtica
nos permite observar um aspecto importante que,
embora no tenha sido muito explorado no filme, pode
nos ser til para compreender a questo agrria neste
momento histrico. Segundo Mario Grynszpan, a pre-
sena de trabalhadores das cidades no Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra explicado pelo fato
do movimento ter se tornado uma alternativa ao desem-
prego das cidades devido ao crescente inchao urbano
nas dcadas de 1970 e 1980. Alm disso, para o autor,
essas dcadas
assistiram ao ressurgimento das lutas no campo,
com a afirmao de uma multiplicidade de atores e
identidades sociais, para alm da de trabalhador rural:
posseiros, bias-frias, clandestinos, volantes, colonos,
agricultores, pequenos produtores, atingidos por barra-
gens, acampados, entre outros. Foi o MST que pde
agrupar esses diversos atores sob uma identidade nica,
pela qual passaram a se perceber, a se apresentar e,
assim, a ser percebidos: a de sem-terra.
29
Para o autor, o movimento, contando com apoios da
CPT e de sindicatos, foi capaz de mobilizar pessoas que
no tinham, que haviam perdido ou que se viam
ameaadas de perder o acesso terra, alterando suas
perspectivas de futuro, abrindo-lhes a possibilidade de
obter ou de garantir esse acesso por meio da ao poltica,
das ocupaes, das caminhadas e marchas, das manifes-
taes, das invases de sedes do Incra. Portanto, de
acordo com sua tese, foi na ao poltica que se produziu
e se afirmou essa nova identidade, ou seja, que se imps
a percepo de que o sem-terra aquele que luta pela
reforma agrria. com este sentido que o autor nos
afirma que O MST vem se referindo como o Movimento
dos Sem Terra e no como Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra. No est voltado unicamente para os
trabalhadores rurais, mas a outros setores da sociedade
inclusive os desempregados.
30
Retornando entrevista do fazendeiro, a filmagem
explicita outra divergncia: a concepo de reforma
agrria. Ao ser perguntado sobre o que achava sobre o
tema, responde que Isso vem em prejuzo produo
26
Desde o incio do movimento, a questo da educao foi pensada como uma necessidade. Foram criadas formas de educao que,
ainda sem o apoio de rgos pblicos, vieram / vm a funcionar. Referimo-nos s chamadas escolas itinerantes que tm esse
nome porque acompanham os alunos durantes as prticas inconstantes das ocupaes. No entanto, o movimento reivindica a
construo de escolas que sejam efetivadas pelos municpios dentro dos assentamentos / acampamentos.
27
Esta uma prtica de organizao do MST. Dentre os princpios organizativos esto: direo coletiva; diviso de tarefas; disciplina;
estudo; luta de massa; vnculo com a base. STDILE, Joo Pedro e FERNANDES, Bernardo Manano. Op. cit, p.41-42.
28
Transcrio literal da fala.
29
GRYNSZPAN, Mario. A questo agrria no Brasil ps-1964 e o MST. In: O Brasil Republicano O tempo da ditadura: regime militar
e movimentos scias em fins do sculo XX. Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida Neves Delgado (org.). Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 2003, p.342.
30
Ibidem, p.343.
100 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 91-101 1 sem. 2009
porque est desanimando o produtor que est com o risco
de perder as suas propriedades de uma forma que no
conseguir nunca mais repor. Esta fala do proprietrio
contrasta com o desabafo, em cena seguinte, de uma
acampada, ao dizer que estes fazendeiros dizem que tm
fazenda, mas tm pra criar insetos e capim.
O confronto
A narrao do filme nos diz que os acampados deci-
diram voltar para a Fazenda Annoni em outubro de
1986, visto que no obtiveram xito com as presses na
cidade. Fazem esse retorno com o objetivo de ocuparem
outras fazendas em desapropriao. No entanto, a polcia
do Rio Grande do Sul, com mais de dois mil homens
armados, cercam o acampamento para impedir esta
sada. A partir deste momento, o confronto passa a fazer
parte do cotidiano dos acampados.
O filme registra cenas que nos fazem lembrar cenas
de guerra: polcia cercando a rea com helicpteros,
montadas cavalo, com carros e utilizando binculos.
Alm disso, aparecem armados e, de acordo com o
olhar que o filme nos conduz, tentam intimidar os
acampados. A filmagem utiliza alguns recursos para
mostrar esse confronto, como a utilizao de cenas j
gravadas (para televiso ou imagens amadoras) ou
melhor, nem todas as cenas so filmadas diretamente
pela equipe de filmagem. Dentre essas gravaes, so
enfatizadas cenas de pessoas feridas e de grande tumultuo
e correria.
Logo aps, podemos ver os sem-terra tentando
justificar, diante do cerco organizado pela polcia, que
no se encontram armados e que apenas querem o direito
de reivindicar a terra. Uma fala irnica de um acampado
expressa um pouco a indignao com o novo governo:
uma verdadeira Nova Repblica!. Aps essas cenas,
so retratadas a indignao e o desespero de inmeros
acampados. Como foram impedidos de sair do acam-
pamento por muitos dias, o fato gerou repercusso na
imprensa
31
e os acampados receberam apoio de diversos
setores sociais, dentre eles, igreja, deputados, artistas
que iam ao local prestar solidariedade causa ou davam
entrevistas em apoio aos acampados da fazenda Annoni.
Dentre os deputados, foram filmados sucessivamente,
sendo eles: Bete Mendes (PMDB), Acio Neves (PMDB),
Amaral Neto (PDS) e Mrio Covas (PMDB).
O sonho
De acordo com o filme, o sonho de Rose era simples,
mas complexo de ser efetuado pelo governo. Dentre os
seus sonhos, um explicitado atravs de suas prprias
falas, ditas com uma linguagem popular de forma
espontnea, ao lado do marido e de seus filhos: meu
sonho de a gente ganhar a terra, trabalhar, a gente
plantar e (referindo-se ao filho Marcos) Espero que
quando ele seja grande, tudo isso no tenha sido em vo...
que ele tenha um futuro melhor.
A trgua
Apenas dias antes das eleies para a Constituinte e
governadores, em 1986, foi emitida a posse da Fazenda
Annoni ao INCRA. Com isto, o proprietrio recebe a sua
indenizao e os sem-terra podem comear a plantar na
rea. Conforme percebemos, no eram estas as circuns-
tncias ideais que os acampados esperavam, mas pu-
deram, a partir deste momento plantar para garantir o
seu sustento at que as famlias fossem assentadas.
Segundo a fala de Bolvar Annoni, ex-proprietrio da
fazenda, A propriedade no ser devolvida, ser perdida
totalmente e distribuda a colonos ou invasores. Ao
analisarmos os termos utilizados, constatamos o sentido
pejorativo atribudo aos sem-terra ao serem classificados
como invasores.
32
Ao finalizar o documentrio dito que ao trmino
das filmagens (em 1987), das 1.500 famlias que
acamparam na fazenda Annoni em 1986, apenas 170
estavam assentadas em quatro fazendas desapropriadas
na regio; 53 famlias ocuparam em julho de 1987 outra
fazenda em desapropriao, onde encontravam-se ainda
acampadas; na Annoni continuavam 1.200 famlias que
ainda no sabiam quando seriam assentadas. Segundo
a narrao do filme, a situao de desolao e deses-
pero. O documentrio enumera uma srie de pessoas
que continuam esperando serem assentadas. Dentre elas,
31
Podemos observar nesse momento, analisando as imagens do filme, o grande nmero de profissionais presentes no local: jornalistas,
fotgrafos, cmeras.
32
O MST utiliza o termo ocupao ao se referir a esta prtica, pois considera que o termo invaso vem a desqualificar a ao do
movi mento.
101 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 91-101 1 sem. 2009
as que apareceram com mais freqncia no filme. No
entanto, a protagonista foi citada de forma bem di-
ferente. Enfim, o filme relata que Rose foi morta em 31
de maro de 1987 atropelada de forma trgica por um
caminho que se jogou contra uma manifestao pr-
xima da fazenda Annoni.
Consideraes finais
Sabendo das manipulaes elaboradas pelos filmes
(seja documentrio, seja fico) para transmitir men-
sagens, conclumos, de acordo com o filme Terra para
Rose, que a personagem Rose, enquanto protagonista,
supre um papel simblico e ativo no filme.
Rose foi destacada no decorrer do documentrio como
uma mulher ativa, forte, alegre e disposta a conseguir o
seu pequeno-amplo objetivo ainda que no tenha visto
seu sonho se concretizar.
Enquanto mulher, smbolo de fertilidade em si, se
retomarmos filosofia Gaia (terra), a figura de Rose
apresenta-se, enquanto personagem, como uma
alternativa flmica de registrar, de forma sensvel e
delicada, um problema caro ao pas, a reforma agrria.
Por fim, no nos resta dvida de que a imagem de
Rose, enquanto smbolo, foi imortalizada como re-
gistro e memria de um indivduo, dentre tantos outros,
que persistiu at a morte para concretizar o sonho de
viver de forma digna, com acesso a bens pblicos.
Bibliografia
ALENTEJANO, Paulo Roberto R. Os conflitos pela terra no
Brasil: uma breve anlise a partir dos dados sobre ocupa-
es e acampamentos. In: Cadernos de Conflitos. CPT: 2003.
BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagem do povo. So
Paulo: Companhia das Letras, 2003.
DUARTE, Roslia. Cinema e Educao. Belo Horizonte: Au-
tntica, 2002.
FERRO, Marc. Cinema e Histria. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
GRYNSZPAN, Mario. A questo agrria no Brasil ps-1964
e o MST. Apud, O Brasil Republicano O tempo da ditadura:
regime militar e movimentos socias em fins do sculo XX /
organizao Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida Neves Delga-
do. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2003
HELLER, Agnes. O Cotidiano e a Histria. So Paulo: Editora
Paz e Terra, 2004.
MEDEIROS, Leonilde Servolo de. Reforma agrria no Brasil:
histria e atualidade da luta pela terra. So Paulo: Editora
Fundao Perseu Abramo, 2003
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Brasil, em Direo ao
Sculo XXI. In: Histria Geral do Brasil / Maria Yedda Li-
nhares (organizadora). Rio de Janeiro: Elsevier, 1990
SOARES, Mariza de Carvalho. Primeiros Escritos, n1 julho-
agosto de 1994, LABHOI.
STDILE, Joo Pedro e FERNANDES, Bernardo Manano.
Brava Gente: A trajetria do MST e a luta pela terra no Bra-
sil. So Paulo: Editora Fundao Perseu Abramo, 2001.
103 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 103-110 1 sem. 2009
Este artigo procurar colocar em relevo a apreenso
do filme Macunama
1
, enquanto uma prtica social e
cultural dinmicas, da produo da obra cinemato-
grfica, at a sua exibio, e conseqente apreenses
subjetivas, realizadas por um de seus vrios espectadores,
aqui no caso especfico, o crtico de cinema Ely Azeredo,
encarnadas na documentao obtida atravs da escolha
de artigos publicados originalmente em peridicos, por
mim pesquisados pessoalmente ou pela internet.
2
O filme Macunama, exibido originalmente em 1969,
e dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, um re-
presentante do cinema novo; e um dos maiores prodgios
do filme foi obter uma grande aceitao de pblico e de
crtica, ser um sucesso econmico e esttico-cultural .
Para alm do uso nico do filme, como um suposto
processo de produo direto, necessrio um fazer
historiogrfico com outras fontes,assim sendo,um modo
atinente de analisar o filme Macunama atravs do
estudo da documentao presente em suas recepes por
parte da crtica escrita em peridicos (jornais e revistas).
3
Da, com efeito, a nossa opo em desenvolver uma
abordagem historiogrfica com o documento flmico ser
diferenciada em relao aos tratamentos predominantes
realizados entre os historiadores, pois estes do um maior
As recepes do filme Macuna ma
pelo crtico Ely Azeredo
Leandro Maia Marques
Graduado em Histria pela Universidade Federal de Uberlndia.
E-mail: leandromaiam@yahoo.com.br
Resumo
Por entendermos o filme, aqui no caso Macunama, como
uma prtica social e cultural dinmicas e que no se
restringem to-somente a um filme especfico em si, mas
sim s formas como ele apreendido por seus inmeros
pblicos, este artigo pretende discutir o processo de
apreenso de um filme, atravs das leituras do filme feitas
pelo crtico de cinema e jornalista de ofcio Ely Azeredo,
para, com isso, desvelarmos a historicidade que perpassa
certas questes discutidas por ele.
Palavras-chave: Crtica Cinematogrfica. Cinema Novo.
Ely Azeredo.
Abstract
By understanding the film here in case Macunama, as a
practical social and cultural dynamics, and not be only
restricted to a particular movie itself, but to how he is
perceived by its numerous procurement, this article will
discuss the process of seizure of a movie, through the
readings of the film made by journalist and film critic of
the letter Ely Azeredo, for, that reveal the history that
permeates certain issues discussed by him.
Keywords: Film Critic. Cinema Novo. Ely Azeredo.
1
MACUNAMA. 105 min. finalizado em 1968 e exibido pela primeira vez em 1969. Diretor e roteirista: Joaquim Pedro de Andrade
(adaptado do romance homnimo de Mrio de Andrade). Fotografia e Imagem: Guido Cosulich e Affonso Beato. Montagem: Eduardo
Escorel. Produtor: Filmes do Serro, Grupo Filmes, Condor Filmes. Cenrios e Figurinos: Ansio Medeiros. Elenco principal: Paulo
Jos (Macunama branco), Grande Otelo (Macunama negro), Dina Sfat (Ci), Milton Gonalves (Jigu), Rodolfo Arena (Maanape),
Jardel Filho (Gigante Venceslau Pietro Pietra), Joana Fomm (Sofar).
2
A pesquisa in loco ocorreu nos dias 18 de setembro e 12 de novembro de 2008 nos arquivos e bibliotecas do Centro Cultural So
Paulo, da Biblioteca da ECA(Escola de Comunicao e Artes) da USP, na Cinemateca Brasileira e no Museu Lasar Segall, ambos na
cidade de So Paulo, e a pesquisa sobre a revista Cruzeiro, foi realizada no Arquivo Municipal de Uberlndia. A pesquisa virtual foi
feita no seguintes sites: <http://www.filmesdoserro.com.br> e <http://www.memoriacinebr.com.br>, durante o primeiro semestre
do corrente ano. Os seis artigos analisados esto descritos em Bibliografia na pgina 15.
3
A proposta de desenvolver este tpico advm do mtodo de anlise do documento historiogrfico flmico, preconizada na seguinte
obra: RAMOS, Alcides Freire. Canibalismo dos fracos: cinema e histria do Brasil.Bauru, SP: Edusc, 2002.
104 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 103-110 1 sem. 2009
privilgio abordagem da produo flmica, em relao
antpoda s recepes flmicas.
4
Mesmo tratando-se de um nico filme, de um nico
discurso flmico, a reelaborao do mesmo faz-se pre-
sente em tais artigos, pois estes possuem uma inde-
pendncia discursiva em relao ao filme, e a escrita e a
publicao em peridicos dos seis artigos levantados no
presente artigo, acerca do filme Macunama, realizados
entre 1967 e 1993, possuem significados prprios, pois
segundo Freire Ramos:
O estudo dos filmes [...] um importante indicador
de um saber histrico, mas no o nico, tampouco
suficiente para determin-lo [...] Na tarefa de construo
de um saber histrico [...] h um outro aspecto impor-
tante a ser analisado e problematizado historio-
graficamente [...] o papel desempenhado pelos crticos
cinematogrficos. Estes so uma pea-chave no pro-
cesso de produo social de significados [...].
5
O procedimento principal com a documentao
levantada, ser feita de modo a ter em primeiro plano os
artigos de jornais, e se necessrio a anlise direta do
filme, pois, de acordo Jean Claude Bernardet:
[...] o texto crtico adquire uma autonomia relativa
diante do filme comentado, resultado das palavras que
se usam, da maneira como se organiza o pensamento e
se estruturam as frases, e assim tende a se tornar ele
prprio produtor de novas idias que vo se expressar
em palavras, ou de palavras que sugeriro idias. Se o
encadeamento destas idias e destas palavras for lgico
e obedecer a determinados princpios metodolgicos, o
texto conservar a sua coerncia interna.
6
A escolha desses seis artigos deve se ao fato de que,
mesmo que em pequeno nmero, ambos colocam certas
questes emblemticas e bastante discutidas durante toda
a dcada de 60 do sculo XX, pelos crticos, estudiosos e
realizadores envolvidos com o cinema brasileiro em
geral, e no apenas relacionados queles envolvidos
direta (cineastas) ou indiretamente (crticos) na expe-
rincia especfica do cinema novo.
Apesar das inflexes ideolgica, poltica, temtica e
esttica, presentes durante toda a experincia do cinema
novo (de 1960 a 1972), as crticas sobre tais filmes
mostraram-se ser pouco mutveis, fato este apenas
modificado substancialmente nas ltimas dcadas do
sculo XX, atravs principalmente do aumento dos
estudos acadmicos e universitrios sobre o cinema novo
e o cinema brasileiro em geral.
7
No campo da crtica cinematogrfica, jornalstica ou
no, da dcada de 60, a experincia concreta dos filmes
do cinema novo, concretizou-se como um dos modelos
polticos e estticos predominantes, para balizar-se as
crticas dos filmes brasileiros em geral. Resumidamente,
podemos dizer que tal modelo caracterizou-se por certas
questes, tais como: um cinema com praxis poltica
revolucionria, a crtica a um cinema brasileiro cultu-
ralmente colonizado e dependente de modelos estticos
externos, o subdesenvolvimento em relao hegemo-
nia econmica perante ostensiva produo flmica
estadunidense no Brasil
8
; a presena ostensiva do povo e
do popular, enquanto elemento temtico e esttico, e
enquanto pblico a ser alcanado; e a busca de efetivao
de um dilogo com grandes pblicos.
Na abordagem de outros fenmenos cinema-togr-
ficos opostos, houve uma sistemtica refutao ao ele-
mento esttico cmico, principalmente na reiterada
relao tensitiva dessas crticas com a experincia em-
blemtica da chanchada, assim como, com a crtica ao
projeto de um cinema supostamente industrial (baseado
4
Como alguns exemplos desta metodologia, dentre outras obras, temos as seguintes obras: Ferro, Marc. O filme: uma contra-anlise
da sociedade? In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre. Histria: novos objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.IDEM. Cinema e
histria. So Paulo: Paz e Terra, 1992.
5
RAMOS, Alcides Freire. Canibalismo dos fracos: cinema e histria do Brasil.Bauru: Edusc, 2002. p. 35-36.
6
BERNARDET, Jean Claude. Cineastas e imagens do povo. So Paulo: Brasiliense, 1985. p.180-181.
7
A criao de cursos de ps-graduao em comunicao, cinema e/ ou audiovisual, com enfoque direto no estudo acadmico do
cinema brasileiro, inicia-se no Brasil a partir da dcada de 70 em universidades como USP e UFRJ em 1972, UNB em 1974;PUCSP
e Universidade Metodista de So Paulo (UMESP) em 1978, UFBA, em 1989 (comunicao e cultura contempornea) e Multimeios,
na UNICAMP,em 1994, entre outros, bem como o aumento relativo do interesse pelo cinema brasileiro como objeto de estudo em
outros cursos de graduao, como dentro da Histria, atravs, por exemplo, da linha de pesquisa de Histria e Cinema da UFBA,
contriburam para revises intelectuais e tericas acerca tanto do cinema novo, como tambm para outros contextos da
cinematografia brasileira.
8
Para um maior esclarecimento, recomendamos a consulta s seguintes obras: VIANY, Alex. Introduo ao Cinema Brasileiro. Rio de
Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1959. ROCHA, Glauber. Reviso crtica do cinema brasileiro. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira: 1963. BERNARDET, Jean Claude. Brasil em tempo de cinema. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira: 1967. GOMES,
Paulo Emilio Salles. Cinema: trajetria no subdesenvolvimento. So Paulo: Paz e Terra, 1980.
105 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 103-110 1 sem. 2009
na produo total ou parcial em estdio), encar-nado
nas experincias da Vera Cruz e dos correlatos estdios
paulistas, como a Maristela e a Multifilmes.
Entretanto, este modelo no foi unvoco, pois houve
muitos dilogos tensitivos, entre os fomentadores do
cinema novo (crticos e/ou realizadores), como na ques-
to da concretizao de maiores pblicos cinemato-
grficos, que esteve dissociado da maioria dos filmes do
cinema novo, e, ainda, devido ao ponto de inflexo
ocorrido na segunda metade da dcada de 60, quando o
estado ditatorial passa a investir mais diretamente
(atravs da criao da Embrafilme com o intuito prin-
cipal de financiar filmes brasileiros) e indiretamente
(atravs de uma srie de leis que tentassem amenizar a
avassaladora proeminncia do cinema estadunidense no
Brasil) no incentivo ao cinema brasileiro.
9
Antes de comentarmos acerca dos artigos, ne-
cessrio buscar compreender sobre o crtico Ely Azere-
do, o autor dos mesmos, para nos localizarmos dentro
do espao onde se produz tais discursos, assim como as
suas condicionantes ideolgicas e polticas.
Os debates relativos aos filmes do cinema novo eram
acompanhados, invariavelmente, de grandes e acaloradas
polmicas, principalmente durante a dcada de 60 do
sculo passado, pois foram em boa parte recepes muito
marcadas por debates polticos, ideolgicos, estticos e
culturais, e segundo Freire Ramos havia:
[...] uma peculiar interao existente entre [...] (os
autores dos textos crticos) com o pblico leitor/alvo.
[...] [E] estes crticos esto envolvidos numa luta e, sem
dvida, posicionam-se em favor de uma determinada
proposta esttica. Seus textos no podem ser vistos fora
dessa condio. [...] A isso deve ser acrescido um outro
dado complicador: a proximidade existente entre bons
crticos/historiadores dos prprios cineastas. Essa pro-
ximidade, como nos esclarece Bernardet
10
, faz com que
o discurso histrico sirva como uma plataforma de de-
fesa das propostas de alguns grupos de cineastas. Em
suma: uma historiografia militante.
11
Em 1952, Ely Azeredo comeou a escrever alguns
artigos esparsos sobre Alberto Cavalcanti, publicados pela
Gazeta de Notcias; em dezembro do mesmo ano, fez a
cobertura crtica, para a Tribuna da Imprensa, da I
Retrospectiva do Cinema Brasileiro, realizada em So
Paulo. Ademais,fez crticas e reportagens sobre cinema
nos seguintes peridicos: Maquis, Manchete, O Se-
manrio, e na Revista de Cinema, esta de Belo Horizonte,
em Guia de Filmes, e no Jornal do Brasil, a partir de
1965.
Em 1959 iniciou, junto com Alberto Shatovsky, a
primeira fase do movimento de cinemas de arte no Brasil,
selecionando como primeiro programa o ento des-
conhecido Ingmar Bergman, participou do movimento
final que levou criao do INC (Instituto Nacional do
Cinema), em 1965, que teve como corolrio a criao da
revista Filme Cultura, fundada por ele e por Flvio
Tambellini; foi o primeiro crtico brasileiro a ser con-
vidado a participar de um festival internacional de ci-
nema, o Festival de Berlim, de 1965.
O primeiro dos seis artigos foi publicado em 1966, e o
segundo em 1967, ambos na revista Filme Cultura,
editada pelo INC, o terceiro e o quarto em 1969, (um em
sete de janeiro e o outro em sete de novembro)
12
, como
tambm no mesmo veculo de comunicao, no caso o
Jornal do Brasil
13
, o quinto em 1978 no Jornal de Le-
tras e o sexto em 1993 na revista Cinemin, esta do Rio
de Janeiro.
Com efeito, elegemos quatro questes principais que
perpassam os seis artigos, ou seja, a saber: a questo do
dilogo com o grande pblico, a presena constante das
9
A criao do INC(Instituto Nacional do Cinema), em 1965, da Embrafilme (Empresa Brasileira de Filmes S /A), em 1969, alm da
legislao de incentivo ao cinema brasileiro. Conforme: RAMOS, Jos Mario Ortiz. Cinema, Estado e lutas culturais (Anos 50/60 /
70). Rio de Janeiro: Paz e Terra,1983.
10
BERNARDET, 1985 apud RAMOS, 2005. p.12.
11
RAMOS, Alcides Freire. Historiografia do cinema brasileiro diante das fronteiras entre o trgico e o cmico: redescobrindo a
chanchada. RevistaFnix. Uberlndia, MG, v.2, n.4, p.12, out./nov./dez. 2005. Disponvel em: <http://www. revistafenix.pro.br.
Acesso em: 12 fev. 2008.
12
AZEREDO, Ely. Macunama. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 07 jan. 1969. Disponvel em: <http://www.filmesdoserro.com.br.
Acesso em: 08 jan. 2008. IDEM. O filme em questo: Macunama. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 07 nov. 1969. Disponvel em:
<http://www.filmesdoserro.com.br. Acesso em: 08 jan. 2008.
13
O Jornal do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, foi at a dcada de 70 do sculo passado o mais influente jornal escrito brasileiro,
tanto poltica como culturalmente, ele era o seu principal veculo de imprensa, representante indireto dos grupos sociais mais
intelectualizados e politicamente liberais. Era neste peridico onde se disseminavam as idias, as crticas e as polmicas, contrrias
ou favorveis envolvendo os filmes do cinema novo, na esfera da grande imprensa diria visto que a ambincia principal do
cinema novo se d na cidade do Rio de Janeiro.
106 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 103-110 1 sem. 2009
noes de povo e de popular, a presena do elemento
esttico cmico, assim como da substancial presena da
chanchada, no caso especfico do filme Macunama, e a
defesa ou crtica de um cinema de natureza industrial.
A questo do dilogo com o grande pblico, segundo
Azeredo, est presente no filme Macunama como uma
autocrtica da experincia do Cinema Novo, pois se-
gundo ele, esta caracterizada por: [...] experincias
amorfas no plano artstico e sem comunicabilidade
14
, e,
ademais, ele coloca que, o que a priori deveria ser uma
tarefa a encontrar muitas barreiras, mostra-se ser no
filme, ao contrrio, bastante bem contornado, pois
segundo ele:
Fugindo experincia hermtica e inovao for-
mal estril de tanto cinemanovismo, fz apenas um bom
filme. Neste apenas, paradoxalmente, est sua grandeza
[...] porque ser bom, fruto de bom artesanato e comu-
nicativo, no costuma bastar ao cinemanovismo que,
aqui e no mundo, em consequncia, vem perdendo o
grande dilogo com o pblico para o cinema comercial
mais baixo e esterilizante.
15
E reiterando tal questo ele coloca no artigo, de
novembro de 1969, o seguinte:
Finalmente, um sucesso totalizante da expe-
rincia, de crtica e de pblico do cinemanovismo.
[...] Macunama o primeiro xito depois da crise de
comunicao na rea mais extremada que se conven-
cionou chamar de cinema novo. [...] a falta de pesquisa
no terreno do espetculo [...].
16
Na segunda questo, o discurso paternalista sobre o
povo bastante presente em toda a produo articulista
de Ely Azeredo levantada para o presente artigo
permanece, pois segundo o artigo escrito, sobre a
produo crtica de Aly Azeredo, por Carlos Fonseca:
Para Ely Azeredo, a crtica como todo o jorna-
lismo [...] s se justifica enquanto comunicao intensa
e permanente com o pblico. Por isso [...] acha to im-
portante anlise dos filmes quanto o exame das reaes
das platias [...] Est [...] to atento importncia so-
cial do Cinema em suas funes de espetculo/diverso.
17
Ademais, Azeredo corrobora tais comportamentos
polticos sobre o popular, aqui no caso os milhares de
pblicos cinematogrficos do filme Macunama, e se-
gundo ele: O cinema brasileiro no traou, antes dos
vos de pretenso revolucionria em forma e esprito, a
fisionomia de seu prprio povo.
18
A inconscincia dos
limites individuais e da receptividade popular [...].
19
Com efeito,um modo de anlise e de observao
comumente realizadas pelas vanguardas culturais so-
bre o povo, bastante em voga na dcada de 60, efetiva-
das entre os grupos sociais identificados politicamente
com a(s) esquerda (s), entre os quais encontra-se os rea-
lizadores cinemanovistas, ou no (caso de Ely Azeredo),
tambm est presente no artigo de Azeredo, na asso-
ciao monoltica e mecanizada entre uma viso de van-
guarda, como liderana poltica e esttica, e as infindveis
vises e percepes individuais e coletivas de amplos
grupos sociais no pertencentes s classes mdia e alta,
nem tampouco conceituados como agentes culturais
eruditos.
Aqui, neste caso especfico, coloca-se o problema da
transposio da narrativa do livro Macunama, para a
narrativa do filme (roteiro, montagem e trechos do livro
transformados em falas das personagens e /ou do
narrador),como tambm possvel analisar o hipottico
potencial de inteligibilidade ao qual a narrativa flmica
redundar ou no, atravs de um dado confirmado, ou
seja, a chegada do filme a milhares de espectadores, de
grandes e mais dilatados pblicos,geralmente pouco
adeptos de prticas culturais do territrio conceitual da
cultura erudita, pois segundo Azeredo: [...] filtrando
uma das experincias mais radicais do modernismo [...]
14
AZEREDO, Ely. O filme em questo: Macunama. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 07 nov. 1969. Disponvel em: <http://www.
filmesdoserro.com.br. Acesso em: 08 jan. 2008.
15
Idem. Macunama. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 07 jan. 1969. Disponvel em: <http://www.filmesdoserro.com.br. Acesso em:
08 jan. 2008.
16
Op. cit.
17
FONSECA, Carlos. O primeiro espectador: Ely Azeredo completa 40 anos de crtica cinematogrfica. Rio de Janeiro. Cinemin. mai./
jun. 1993, n.83. p.40.
18
AZEREDO, Ely. Macunama. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 07 jan. 1969. Disponvel em: <http://www.filmesdoserro.com.br.
Acesso em: 08 jan. 2008.
19
AZEREDO, Ely. O filme em questo: Macunama. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 07 nov. 1969. Disponvel em: <http://
www.filmesdoserro.com.br. Acesso em: 08 jan. 2008.
107 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 103-110 1 sem. 2009
correndo os riscos de reduzir a rapsdia de Mario de
Andrade a dimenses reconhecveis por um povo que
jamais teve acesso aos movimentos artsticos de van-
guarda.
20
Com efeito, ele reitera um discurso hegemnico
acerca dos agentes culturais populares, dos integrantes
do povo, pois analisa-nos como sujeitos passivos, como
agentes culturais prontos a receberem verticalmente
certas prticas culturais, de um campo conceitual eru-
dito, e de apreenderem um livro difcil, mas supostamen-
te fcil na sua adaptao para a telona.
Se o filme foi prodigioso por obter um substancial
pblico, nada a priori confirma que boa parte da
narrativa do livro, segundo o desejado pelos crticos e/
ou cineastas cinemanovistas, estivesse presente auto-
maticamente nas apreenses do filme por parte desse
grande pblico do filme, que em boa parte no leu o livro,
ou seja, a compreenso da narrativa ser a do filme, e
no a dos dois, livro e narrativa (flmica), como ocorre,
por exemplo, nas crticas escritas que levantamos para
o presente artigo.
A posteriori poderamos chegar a alguma concluso
desde que realizssemos uma pesquisa historiogrfica
mais condizente com o territrio da histria oral, atravs
de entrevistas a serem feitas com espectadores dos mais
variados grupos sociais, que assistiram ao filme Ma-
cunama no cinema, e que eles comentem sobre o filme,
todavia tal metodologia trata-se de uma sugesto e no
ser efetivada, por digredir acerca dos objetivos colocados
no presente artigo.
A defesa de filmes de comdia, mas que, no entanto,
se propem a serem crticos, como o prprio Macunama,
est presente, no artigo escrito no seguinte trecho:
Joaquim Pedro de Andrade arquivou todos aqueles
pavores antes de realizar esta comdia feroz que, por usar
elementos burlescos, grossos, no deixa de substantivar
sua crtica ao heri sem carter, heri de nossa gente
[...].
21
Neste trecho, Azeredo coloca uma questo substancial
presente no filme: o uso destacado do elemento esttico
cmico por um filme cinemanovista, fato raro e pouco
usual dentro dessa experincia cinematogrfica. E
conforme a colocao do autor: Joaquim Pedro de
Andrade arquivou todos aqueles pavores antes de realizar
esta comdia feroz [...], fica clarificado como o cinema
novo fez pouco uso deste elemento to caro ao cinema
velho (principalmente chanchada).
Entretanto, Azeredo reitera uma anlise precon-
ceituosa acerca da chanchada, pois uma ela carac-
terizada, dentre outras expresses, atravs da expresso
elementos burlescos, grossos. (Grifo nosso)
Apesar do uso crtico reiterado de elementos rizveis
e jocosos, presentes de fato no filme, mas sempre com
um tratamento crtico por parte de Joaquim Pedro de
Andrade, como, por exemplo, atravs da feijoada
antropofgica do Gigante Venceslau Pietro Pietra na
piscina de sua casa, ou na personagem de Macunama
branco travestido de mulher para melhor persuadir o
Gigante a entregar-lhe a muiraquit, o objetivo principal
do heri Macunama o uso da expresso grossa por
parte de Azeredo, est mais em consonncia com uma
abordagem pejorativa da chanchada, to proeminente
entre a crtica cinematogrfica contempornea s crti-
cas analisadas no presente artigo, assim como entre a
produo articulista de Ely Azeredo levantada.
A relao entre cmico e chanchada, que colocamos
no presente artigo, no colocada de modo absoluto,
pois a presena destacada deste elemento esttico no
filme no deve-se nica e exclusivamente influncia,
de fato substancial, da chanchada no filme, mas sim,
trata-se de um projeto voluntrio desejado pelo seu
diretor, Joaquim Pedro de Andrade, pois segundo ele:
Tive a inteno deliberada, desde o incio, de procurar
uma comunicao popular to espontnea, to imediata
como a da chanchada, sem ser nunca subserviente ao
pblico.
22
Com efeito, preciso relativizar que, apesar da in-
fluncia da chanchada estar explicitamente presente no
filme Macunama, no um fator determinante, visto
que necessrio considerar as demais influncias,
mesmo no campo da comdia, presentes durante toda a
trajetria cinematogrfica de Joaquim Pedro de Andrade,
que aqui no sero detidamente enumeradas, por digredir
acerca dos objetivos colocados no presente artigo.
20
AZEREDO, Ely. Macunama. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 07 jan. 1969. Disponvel em: <http://www.filmesdoserro.com.br.
Acesso em: 08 jan. 2008.
21
Idem. O filme em questo: Macunama. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 07 nov. 1969. Disponvel em: <http://www.filmesdoserro.
com.br. Acesso em: 08 jan. 2008
22
ANDRADE, Joaquim Pedro de. Macunama: o cinema do heri vital. O Cruzeiro. Rio de Janeiro, 21 ago. 1969. Disponvel em:
<http://www.filmesdoserro.com.br. Acesso em: 15 fev. 2008.
108 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 103-110 1 sem. 2009
Sinteticamente, podemos asseverar que o dilogo
crtico efetivado por Joaquim Pedro de Andrade entre o
filme Macunama e a experincia da chanchada, em seu
predominante elemento esttico cmico, foi nico em
sua filmografia, em modos to singulares e dinmicos,
a despeito da presena destacada de elementos cmicos
em alguns futuros filmes seus, todavia em outras
matizes, como em Guerra Conjugal, de 1975 (baseado
em conto de Dalton Trevisan), Vereda Tropical, de 1977,
e O homem do pau-brasil, de 1981 (baseado na obra e
na vida de Oswald de Andrade).
Dentre as inmeras produes da Companhia
Cinematogrfica Atlntida, realizadas entre 1942 e 1961,
houve inquestionavelmente uma hegemonia do ele-
mento esttico cmico, assim como da to afamada
chanchada. Tendo como parmetro o filme como sendo
uma produo cultural de natureza semi-industrial
(calcada na produo flmica realizada parte em estdios
e parte em locaes externas), podemos considerar a
Companhia Cinematogrfica Atlntida, como sendo
realizadora de chanchadas,em sua maioria,a despeito de
filmes de outros gneros, que foram realizados em
menor nmero, como Amei um Bicheiro, de 1952,
dirigido por Jorge Ileli e Paulo Wanderley .
Com efeito, a experincia da Atlntida mostra-se ser,
desde a dcada de 40 do sculo passado, uma grande
influncia, no apenas para as posteriores comdias
urbanas, pornochanchadas ou no, mas sim mesmo
entre alguns exemplos do cinema novo, supostamente
contrrio s comdias, e no apenas em Macunama,
pois segundo Srgio Augusto:
[...] o seu jeito moleque de fazer graa recusa-se [...]
a desencarnar das telas brasileiras. [...] E no apenas
sob a forma de pornochanchada, sua filha bastarda e
sem-vergonha. [...] Mas tambm no terrir de Ivan
Cardoso, nos filmes de Hugo Carvana e na nostlgica e
explcita homenagem [...] [no filme] Quando o Carnaval
chegar (1972) de Cac Diegues. [...] Em alguns filmes
de[Bressane e Sganzerla] e na obra de Reichenbach e de
Jos Mojica Marins.
Junto com Grande Otelo e Zez Macedo (mais as
vozes do cantor Francisco Alves, Dalva de Oliveira,
ngela Maria e Nelson Gonalves), Carvana era um dos
pontos de ligao de Macunima [...] com a picardia e a
malandragem das chanchadas. A orgistica comdia
tropicalista de Joaquim Pedro foi a primeira tentativa
de confraternizao do Cinema Novo com o seu pressu-
posto inimigo nmero um [...].
23
O autor cita constantemente a experincia da chan-
chada,visto que a mesma mostra-se ser influente
poca, 1969, como transparece em um prprio trecho de
Azeredo:
[...] o cinemanovismo, como movimento, comeou
por manifestos de ruptura com o cinema anterior (es-
pecialmente brandindo o atestado de bito discutvel
j na poca da comdia burlesca, meio pastelo e
meio radioteatral, que se convencionou reunir sob o
ttulo generalizador de chanchada.
24
No entanto, ele refere-se mesma de forma negativa;
o uso da expresso cinema comercial mais baixo e
esterilizante
25
, pode ser aplicado Atlntida, pois o
cinema com maior sada comercial e com maior quan-
tidade de pblico, poca, 1969, tratava-se justamente
da chanchada, da comdia urbana satrica, neste caso
um comportamento intelectual ubquo na poca.
Em conseqncia, possvel desvelar que, quando
Ely Azeredo defende certos elementos da chanchada,
estes esto em relao direta com uma das partes da
produo de seus filmes (parcialmente realizados em
estdio, pois outra parte foram realizadas em locaes
naturais), e ambos esto em consonncia com a suposta
defesa de um cinema de natureza mais industrial, como
o prprio autor explicita em seus artigos, pois ele diz:
Resultados positivos sempre apareceram, intermi-
tentemente, na linha de descontinuidade de uma
atividade [a cinematogrfica] que s em data recente
comeou a enraizar-se como indstria.
26
Em outro
artigo ele coloca: [...] a falta de pesquisa no terreno do
espetculo (falha mortal para um cinema sem tradi-
es industriais formadas).
27
23
AUGUSTO, Srgio. Este mundo um pandeiro: a chanchada de Getlio a JK. So Paulo: Companhia das Letras, 1989.p.201-202.
24
AZEREDO, Ely. O filme em questo: Macunama. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 07 nov. 1969. Disponvel em: <http://www.
filmesdoserro.com.br. Acesso em: 08 jan. 2008.
25
Ibidem.
26
Idem. Macunama. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 07 jan. 1969. Disponvel em: <http://www.memoriacinebr.com.br. Acesso
em: 08 jan. 2008.
27
Op. cit.
109 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 103-110 1 sem. 2009
O deliberado uso de expresses mais comumente
relacionadas a um cinema calcado na produo em
estdio, em moldes mais industriais, como os seguintes:
indstria, espetculo, e cenografia a despeito da
preocupao de um melhor tratamento destes elementos
cinematogrficos em cineastas mais autorais e arte-
sanais, como, por exemplo, Valter Hugo Khouri
corrobora a assertiva anterior, e segundo ele: Macu-
nama foi produzido sem misria tcnica [...] [Com uma]
rica fotografia em cores, [...] criao cenogrfica e de
figurinos (dois fatores capitais para o xito do filme).
28
Neste trecho fica clara a preferncia de Ely Azeredo
por uma esttica flmica naturalista, mais prxima a
Hollywood, pois ele defende explicitamente o efeito de
real e de realidade possibilitado por essa esttica, que
voluntariamente causa uma iluso e uma afinidade entre
a realidade (o referencial, as cenas (re)construdas na
tela) e o real, (a imagem verdadeira e original), e segundo
ele:
[A] odissia que Mario de Andrade criou numa difcil
lngua brasileira de pesquisa [...] Nada disso impediu
que o filme fosse claro, inteligvel, absorvente uma
inteligente organizao narrativa sem abastardamen-
to da linguagem e explorando os recursos da tcnica
ilusionista do cinema, a fim de dotar de nvo relevo o
ngulo mgico da histria.
29
No entanto, a sua defesa de um cinema de natureza
industrial ambgua, pois o uso da expresso artein-
dstria
30
, no deixa claro se ele realmente defende uma
produo de natureza industrial e/ou artesanal e autoral.
Devemos esclarecer, primeiramente, que no dese-
jamos reiterar um suposto carter dicotmico entre um
cinema autoral e um industrial, pois estamos apenas a
usar tais dados como forma de melhor localiz-los dentro
da produo articulista de Ely Azeredo.
No primeiro caso, ele ora cita um hipottico modelo
de cinema, baseado na produo industrial e autoral,
tendo como modelo a produo hollywoodiana em sua
fase clssica (dcadas de 30 a 60), presente, por exemplo,
na filmografia de John Ford, mas, por outro lado, ora
ele cita de modo negativo a tentativa de instalao de
uma produo cinematogrfica em moldes industriais,
atravs do fenmeno da Vera Cruz, como dos demais
estdios paulistas, da, com efeito, a criao que ele faz
da expresso cinema novo e/ou nvo cinema brasileiro,
em relao oposta a um cinema velho, ao qual refere-
se, entre outros, ao fenmeno da Vera Cruz e
chanchada
31
.
No segundo caso, ele ora faz defesa de uma produo
mais autoral, mas dissociada de uma explcita preocu-
pao poltica, caso de Valter Hugo Khoury e de Ingmar
Bergman, por exemplo, ora faz uma crtica a um suposto
hermetismo do cinema novo.
Com a leitura especfica desses seis artigos, depreen-
demos, pelas questes levantadas por Ely Azeredo, que,
devido s suas opes polticas e culturais, ele tensiona
constantemente com os projetos polticos, ideolgicos e
estticos, presente em grande parte dos filmes cine-
manovistas, e segundo Moacir Cirne:
Ao contrrio de Jos Lino Grunewald [...], e de Moniz
Viana o carioca Ely Azeredo no era exatamente um
dos nossos crticos cinematogrficos favoritos nos anos
60, entre os que militavam na imprensa do Rio. Mas
tinha os seus mritos. As suas (in)certezas estticas. O
seu estilo [...] discutvel.
32
Azeredo faz constantes crticas a uma hipottica
praxis poltico-esttica de certos filmes do cinema novo,
esta mais incisiva at o golpe civil-militar de 1964, e a
leitura dos textos permite o desnudamento de tal ojeriza,
pois segundo o dito por Ely Azeredo: A irrisria pre-
tenso de promover uma conscincia coletiva de meta-
morfose social a partir de comcios em lata [...] os tempos
mudaram e muitos desistiram de ser Peter Pans e de
sonhar com a Terra do Nunca no pas do jeitinho.
33
28
Ibidem.
29
AZEREDO, Ely. O filme em questo: Macunama. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 07 nov. 1969. Disponvel em: <http://www.
filmesdoserro.com.br. Acesso em: 08 jan. 2008.
30
Nos Estados Unidos, matriz da artindstria. Conf: AZEREDO, Ely. Infinito Cinema. Rio de Janeiro: Unilivros, 1988. p.9.
31
[...] o auspicioso e desconcertante Nvo Cinema Brasileiro ou o Cinema Nvo, como querem,promocional e tribalmente, os
que prefeririam na soma, eliminar parcelas pouco sintonizadas com sua posio poltica ou com seus humores estticos. Conf:
AZEREDO, Ely. O nvo cinema brasileiro. Filme/Cultura. Rio de Janeiro, out. 1966, v.1, n. 1.p.10.
32
CIRNE, Moacir. Os melhores filmes de Ely Azeredo. Disponvel em: <http://www.balaiovermelho.blogspot.com. Acesso em: 18 fev.
2008.
33
AZEREDO, Ely. O filme em questo: Macunama. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 07 nov. 1969. Disponvel em: <http://www.
filmesdoserro.com.br. Acesso em: 08 jan. 2008
110 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 103-110 1 sem. 2009
Neste sentido, no devemos falar de um rompimento
de Azeredo com o cinema novo, at porque ele faz uma
crtica ao cinema novo, segundo ele: Eu rompi com o
Cinema Novo porque no podia aceitar um cinema com
uma plataforma rgida, como se fosse um partido
poltico
34
. Ademais, ele faz uma defesa do nvo cinema
brasileiro, ao qual est presente cineastas no cinema-
novistas, como Anselmo Duarte e Valter Hugo Khoury.
Ademais, as tenses de Ely Azeredo com o cinema
novo possui tanto matizes polticas e estticas, como
tambm colocam em primeiro plano suas caractersticas
ambguas, em relao ao cinema brasileiro em geral.
A sua defesa de um mercado cinematogrfico ba-
seado em uma suposta livre concorrncia, explicitado
na sua crtica tentativas de implantao de prote-
cionismo estatal para o cinema brasileiro bastante
questionvel, principalmente se pensarmos um dado
facilmente verificvel, a pequena liberdade dispensada
ao cinema brasileiro em seu prprio mercado interno,
atravs da sufocante e histrica presso do cinema
estadunidense.
Este artigo nos proporcionou refletirmos acerca,
principalmente,da questo de pblico, ou da sua no
efetivao, historicamente mais incisiva.As nfases dadas
por Azeredo, atravs das quatro questes por ns elei-
tas: pblico, comdia/chanchada, povo/popular e cine-
ma industrial, assim como na sua sistemtica oposio
ao movimento do cinema novo, nos mostraram o quan-
to tal questo, to elementar ao fenmeno cinema-
togrfico, historicamente no foi resolvida durante a
secular trajetria do cinema brasileiro (caso do cinema
novo), salvo excees, como por exemplo a chanchada.
Referncias
AUGUSTO, Srgio. Este mundo um pandeiro: a chanchada
de Getlio a JK. So Paulo: Companhia das Letras, 1989.
AZEREDO, Ely. Infinito Cinema. Rio de Janeiro: Unilivros, 1988.
______. A crtica e o cinema nvo. Filme/Cultura. Rio de
Janeiro, jan,/fev. 1967, v.1, n. 3. Entrevista feita a Alberto
Shatovsky, Alfredo Sternheim, Jos Julio Spiewak e Ely
Azeredo.
______. O nvo cinema brasileiro. Filme/Cultura. Rio de
Janeiro, out. 1966, v.1, n. 1.p.5-13.
______. Macunama. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 07
jan. 1969. Disponvel em: <http://www.memoriacinebr.c
om.br. Acesso em: 08 jan. 2008.
______. O filme em questo: Macunama Jornal do Brasil.
Rio de Janeiro, 07 nov. 1969. Disponvel em: <http://www.
memoriacinebr.com.br. Acesso em: 09 jan. 2008.
BERNARDET, Jean Claude. Cineastas e imagens do povo.
So Paulo: Brasiliense, 1985.
CIRNE, Moacir. Os melhores filmes de Ely Azeredo. Dis-
ponvel em: <http://www. balaiovermelho.blogspot.com.
Acesso em: 18 fev. 2008.
FERRO, Marc. Cinema e histria. So Paulo: Paz e Terra,
1992.
______. O filme: uma contra-anlise da sociedade? In: LE
GOFF, Jacques; NORA, Pierre. Histria: novos objetos. Rio
de Janeiro: Francisco Alves, 1976.
FONSECA, Carlos. O primeiro espectador: Ely Azeredo
completa 40 anos de crtica cinematogrfica. Cinemin. Rio
de Janeiro, mai./jun. 1993, n.83. p.40.
RAMOS, Alcides Freire. Canibalismo dos fracos: cinema e
histria do Brasil.Bauru: Edusc, 2002.
______. Historiografia do cinema brasileiro diante das
fronteiras entre o trgico e o cmico: redescobrindo a chan-
chada. Revista Fnix. Uberlndia, MG, v.2, n.4, p.12, out./
nov./dez. 2005. Disponvel em: <http://www.revistafenix.
pro.br. Acesso em: 12 fev. 2008.
RAMOS, Jos Mario Ortiz. Cinema, Estado e lutas culturais
(Anos 50/60/70). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
SILVA, Alberto. Rompi com o Cinema Novo por no aceitara pla-
taforma rgida. Jornal de Letras. Ano XXX, n.329, ago. 1978.
34
SILVA, Alberto. Rompi com o Cinema Novo por no aceitara plataforma rgida. Jornal de Letras. Ano XXX, n.329, ago. 1978.
D O S S I
Ensino de Histria
113 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 113-123 1 sem. 2009
A condio de humanos nos atribuda mediante a
caracterstica primeira de que, enquanto seres pensantes,
comunicamo-nos por meio de smbolos, dentre eles a
linguagem verbal ou escrita, em uma rede de relaes e
inter-relaes, socialmente construdas, a partir das quais
desencadeiam-se processos de aprendizagem e cons-
truo de saberes datados, caractersticos de cada
civilizao. O torvelinho da Histria traz, em seu cerne,
movimentos que tm provocado profundas alteraes
nas relaes sociais e conseqentemente na produo
do conhecimento. A educao, enquanto veculo de troca
e construo de saberes, tem sido palco de discusses
infindveis, nas diversas fases vivenciadas pelos agru-
pamentos humanos.
Educao:
o que a Histria nos ensina?
Beatriz Lemos Stutz
Professora da Escola Tcnica de Sade da Universidade Federal de Uberlndia.
Doutoranda em Educao pela FACED/UFU. E-mail: blstutz@gmail.com
Carlos Alberto Lucena
Professor do Programa de Ps-Graduao Stricto Sensu em Educao da Universidade Federal de Uberlndia.
Doutor em Educao: Histria e Filosofia da Educao pela Unicamp. Grupos de Pesquisa: Histria e Historiografia
da Educao Brasileira (UFU) Histria, Trabalho e Educao (UFU). E-mail: carlosluc@faced.ufu.br
Resumo
O presente trabalho aborda a educao enquanto uma
construo do homem como ser social em constante
transformao. Enfatiza o pensamento caracterstico a
cada perodo histrico vivenciado pela sociedade, da
Antiguidade aos dias atuais, as influncias do movimento
na esfera epistemolgica na rea da educao e a
insuficincia das mudanas ocorridas no sentido de
contribuir de forma significativa, no campo social, para a
concretizao dos ideais de democratizao do saber e
emancipao humana.
Palavras-chave: Educao. Histria. Democratizao do
Saber. Modernidade.
Abstract
The present study approaches the education while a
construction of men in constant social transformation.
Emphasizes is given to the characteristic thought of each
historical period lived by society, from the Antiquity to
the current days, the influences of the movement in the
epistemic field in the area of the education and the
insufficience of changes that could contribute in a
significant way, in the social field, for the concretion of the
ideals of democratization of knowledgement and
emancipation of human being.
Keywords: Education. History. Democratization of
Knowledgement. Modernity.
O que a Histria nos tem ensinado nesse eterno ir e
vir das sociedades e que envolve o processo educacional?
Antiguidade, Idade Mdia, Modernidade, Idade Contem-
pornea e Ps-Modernidade so adventos em que a
Histria se mostra como uma grande narrativa, em cujo
centro encontra-se a educao, sobre a qual tentar-se-
, aqui, um breve passeio por seus caminhos.
Da Antiguidade Modernidade
Indiscutivelmente, a construo do que chamamos
hoje de educao tem sua origem no pensamento de
grandes filsofos da Antiguidade. Entre os pr-socrticos,
assim denominados pelo fato de terem como preo-
114 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 113-123 1 sem. 2009
cupao central a phsis, tivemos a interpretao do
mundo como devir eterno
1
, onde tudo mudava mediante
um processo contnuo e incessante. A sabedoria e a
verdade no pertenciam ao homem, e sim, divindade.
Aos poucos, explicaes mticas sobre a origem do
homem e da sociedade do lugar a uma viso da
necessidade humana em viver em grupos para sua
prpria defesa
2
e por isso, diante do medo e da morte,
inventaram-se os deuses para atribuir a eles a origem
das coisas e das tcnicas. Numa sociedade escravista as
tcnicas ou artes eram consideradas inferiores pelos
aristocratas. Como os trabalhos manuais ficavam a cargo
dos escravos e artesos livres, passaram, ainda na
Antiguidade, a serem vistos, no como um dom dos
deuses, mas criao humana. Da mesma forma, a
atitude passiva do homem diante da doena vai sendo
transformada, medida que a cura no encarada mais
como tarefa apenas dos deuses e sendo necessrio ao
homem conhecer suas causas e formas de lidar com ela
3
.
Outra idia que vai se desenvolvendo ao longo desse
perodo diz respeito educao dos filhos pela socieda-
de. No sendo mais suficiente apenas a garantia da
continuidade da vida, mais que isso, a sociedade deveria
educar seus filhos, assim como criar leis e instituies
para que se pudesse nela viver.
Nos sculos V e IV a.C., h uma mudana no centro
da reflexo filosfica, passando de uma preocupao com
a natureza e o cosmos para a formao do cidado e do
sbio virtuoso, ocupando a poltica, a tica e a teoria do
conhecimento o centro das discusses e construtos
filosficos, assim como as relaes entre o corpo e a al-
ma. A Histria, a partir de Scrates (469- 399 a.C.), dis-
ponibiliza humanidade um mtodo de investigao
cientfica, de procedimentos tericos para chegar-se
definio universal das coisas.
Segundo Chau
4
, ao contrrio dos sofistas, vistos
como professores de tcnicas, poltica e sabedoria por
meio de monlogos, Scrates no fazia prelees, mas
induzia ao dilogo para a busca da verdade. Pelo mtodo
da induo chega ao universal, examinando o particular.
Todos os homens so iguais uma vez que todos so por
natureza dotados de razo, com inclinao para a cincia,
para a verdade e a para a virtude.
Uma teoria do conhecimento e da dialtica como
mtodo e instrumento foi desenvolvida por Plato (427-
347 a.C.) distinguindo entre o sensvel (visvel) e o
inteligvel, para passarmos da pluralidade contraditria
de opinies unidade da idia
5
. Inaugura-se a idia da
razo como atividade intelectual e a dialtica como luta
dos contrrios, ou seja, alcana-se a cincia pela excluso
e eliminao daquilo que semelhante, fazendo distin-
o entre o verdadeiro e o falso. O filsofo serve-se da
dialtica para refutar o discurso falacioso dos sofistas,
da sua deciso em criar uma escola para discutir as
idias. A teoria das idias de Plato avessa ao mundo
sensvel, considerado cpia imperfeita da realidade
perfeita. Para ele, a dialtica (a qual identifica a falcia
no discurso, mas no incorpora ainda a contradio) o
nico mtodo capaz de refutar teses essencialmente
aceitas.
Em Aristteles (384- 321 a.C.), ocorre o incio da
clssica distino da ao humana em modalidades
distintas: prxis (tica e poltica) e poesis (arte ou tcnica
agricultura, metalurgia, tecelagem, carpintaria, olaria,
navegao, pintura, arquitetura, medicina, artesanatos,
poesia, dana e retrica).
6
De acordo com o pensamento
aristotlico, a poltica superior tica e s outras formas
de ao. As cincias prticas encontram no homem o
agente da ao cuja finalidade volta para si mesmo. A
poltica era considerada mais nobre e geral do que a tica,
tendo em vista que, na sociedade grega, o indivduo s
existia como cidado. Numa sociedade na qual predo-
minavam os valores aristocrticos, o trabalho manual
(ou as tcnicas) no era considerado ocupao elevada
e relacionava-se ao cansao e dor. O pensamento e
vultosas obras aristotlicas influenciaram durante scu-
los o ensino e a prtica da cincia e da filosofia, como
tambm na organizao de currculos universitrios e
diferenciao entre teoria e prtica. diferena de Plato,
Aristteles considera o desejo como uma inclinao
natural e a educao tica tem como princpio a virtude
como fora de carter educado pela moderao. Esse
filsofo refere-se dialtica como mtodo em torno do
qual se pode raciocinar sobre todo problema cuja cons-
1
Pensamento de Herclito (540-570 a.C.) abordado por CHAU, Marilena. Introduo histria da filosofia: dos pr-socrticos a
Aristteles. Vol. I, 2 ed., rev. e ampl., So Paulo: Companhia das Letras, 2002, p.81.
2
Demcrito (460- 370 a.C.) abordado por CHAU, Marilena. 2002, p.127.
3
Idem.
4
CHAU, Marilena. 2002, p.188.
5
Idem, p.241.
6
Idem, p.332.
115 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 113-123 1 sem. 2009
truo se d a partir de fatos plausveis, possibilitando o
discernimento entre o falso e o verdadeiro:
A dialtica til para trs coisas: para exercitar-se,
para dialogar e para conhecimentos em filosofia. Tendo
um mtodo poderemos chegar mais facilmente ao que
nos seja proposto: para o dilogo porque havendo in-
ventrio de opinies da maioria, discutiremos com eles,
no a partir de pareceres alheios, seno de seus pr-
prios, forando-os a modificar aquilo que no nos
parea bem; para os conhecimentos em filosofia, por-
que, podendo descrever uma dificuldade em ambos os
sentidos, discerniremos mais facilmente o verdadeiro e
o falso em cada coisa.
7
A desintegrao do Imprio Romano do Ocidente,
no ano 476 d.C., marca o incio da Idade Mdia, que s
termina com a queda do Imprio Romano do Oriente,
no sculo XV, em 1453 d.C. Nesse perodo, por uma
concepo de educao que admitia o conhecimento
como algo inato no indivduo, cabia ao professor o res-
gate das experincias do aluno via desenvolvimento da
linguagem. A educao medieval foi marcada pela
reflexo acerca da felicidade, do bem, do belo, da verdade
e das aspiraes da vida humana, tornando-se um
instrumento para o alcance da sabedoria
8
.
Para Costa
9
, a educao na Idade Mdia traz a
marca da cincia como um fim nobre em si mesma e os
estudantes eram orientados a considerar importante todo
conhecimento cientfico pela valorizao do amor e da
bondade, do mtodo e da disciplina.
Se na Idade Mdia a educao era marcada pela tica
da resignao, na Modernidade vemos a instaurao da
educao cientfica, caracterizada pelo individualismo,
que sustentava a formao do burgus, passando de uma
fixao na retrica, presente na lio dos livros, carac-
terstica da Antiguidade, para uma leitura do mundo. A
argumentao de escola pblica para todos, defendida
pelos humanistas, choca-se com a prtica e educao
individualista burguesa, caracterizada pela negao da
pessoa e assim, anulao da humanidade no indivduo.
O mundo deixa de ser considerado como sagrado. Com
uma crescente valorizao do homem, vai-se de uma
viso teolgica do mundo para uma viso
antropocntrica. Dessa forma, o mundo, movido por
foras mecnicas, colocado a servio do homem. Vale
ressaltar que o Renascimento marca o final da Idade
Mdia, tendo sido um perodo de intensa produo do
conhecimento.
O contato com uma diversidade cultural e a perda
do sentimento de comunho com uma ordem superior
geram uma sensao de liberdade e abertura sem limites
para o mundo, tornando o homem, agora, o centro deste,
perdido e inseguro, em conflito entre o certo e o errado
10
.
Essa viso antropolgica expressa de diferentes formas,
por diferentes filsofos, assim como a crena na razo
para se chegar verdade e busca do conhecimento por
meio da objetividade, possibilitada apenas pela Aritm-
tica e pela Geometria. No sculo XVII, Descartes, o
defensor da busca pela objetividade cientfica, afirma que
somente o mtodo necessrio para a busca da verdade,
rejeitando-se todo conhecimento que no seja passvel
de comprovao:
Tira-se, evidentemente, dessas consideraes o
motivo pelo qual a Aritmtica e a Geometria so muito
mais certas do que as outras disciplinas: que so as
nicas a versar sobre um objeto to puro e to simples
que elas no tm de fazer, em absoluto, nenhuma
suposio que a experincia possa deixar duvidosa e
so inteiramente compostas de conseqncias que
devem ser deduzidas racionalmente.
11
Surgiria ainda no sculo XVII, mais especificamente
no ano de 1657 a publicao da obra Didctica Magna
de Comnio (Comenius na pronncia latina), que viria
a tornar-se importante influncia na rea da educao
at o sculo XIX. Essa obra, considerada o primeiro
tratado sistemtico de pedagogia, de didtica e at de
sociologia escolar, tinha como objetivo mostrar como
seria possvel ensinar tudo a todos. Todavia esse tudo
no se referia a todos os conhecimentos de todas as
7
Aristteles. Tratados de Lgica (rganon). Vol. I. Trad. Miguel Candel Sanmartn. Madrid: Editorial Gredos, 1994, p. 92.
8
COSTA, Ricardo da. A educao na Idade Mdia: a busca da sabedoria como caminho para a felicidade: All- Farabi e Ramon Llull.
Revista Dimenses. Vitria, n. 15, 2004, p.99-115. Disponvel em: http://www.ricardocosta.co./univ/felicidade.htm Acesso em:
14/02/2008.
9
Idem.
10
FIGUEIREDO, Luis Cludio M.; SANTI, Pedro Luiz Ribeiro de. Psicologia: uma (nova) introduo; uma viso histrica da Psicologia
como cincia. 2 ed. So Paulo: EDUC, 1997.
11
DESCARTES, Ren. Regras para orientao do esprito. Trad. Maria Ermantina Galvo. So Paulo: Martins Fontes, 1999, p.9.
116 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 113-123 1 sem. 2009
cincias, mas fundamentos, razes e objetivos dos prin-
cpios que existiam na natureza e o que ela produzia.
Apresentando uma crtica s poucas escolas existentes e
a seus objetivos, enfatizava que estas serviam apenas a
alguns privilegiados economicamente, que alm de
utilizarem um mtodo que retinha os alunos por um
perodo maior que o necessrio, ocupando suas mentes
com contedos que poderiam ser trabalhados em um
tempo menor, tornavam-se enfadonhas e de imposio
violenta.
Propunha a reforma das escolas a partir de uma
organizao que possibilitasse a formao de toda a
juventude (para ambos os sexos) por meio de coisas que
tornariam o homem sbio, probo e santo [...] enquanto
preparao para a vida
12
, cuja formao estivesse
determinada antes da idade adulta. Apresentando ain-
da uma crtica ao fato de os modernos no terem, a seu
ver, conseguido corrigir at aquele momento a causa da
lentido no progresso do ensino, Comenius defende uma
escola cuja finalidade seria tornar-se uma oficina de
homens, com um mtodo de ensino por meio de de-
monstraes prticas e de experincias, buscando a
cincia no apenas nos livros, nas observaes e
testemunhos alheios acerca das coisas, mas tambm
partindo da demonstrao sensvel e racional. Para ele,
a Didctica, alm de ser til aos pais, alunos, professores,
Estados e Igreja, seria til e interessaria tambm s
escolas, pois a partir daquela seria possvel conservar a
estas sempre prsperas, divertidas e atrativas. Ressaltou
a importncia das escolas que, uma vez formando
alunos, estariam formando professores para o futuro e
pessoas aptas para dirigi-las. Sem dvida, tem-se a um
marco na histria da educao.
Encontramos em Kant, filsofo iluminista do sculo
XVIII, a exaltao da inteligncia e a benevolncia
integradas natureza humana, sendo ambas, aspectos
da moralidade que permeiam a sociedade de ento:
E o mesmo diramos se a linguagem secreta de um
corao se expressasse desta maneira: Tenho que
auxiliar esse homem porque sofre e no porque seja
amigo ou conhecido meu, nem porque o considere capaz
de depois me agradecer. No ocasio de fazer dis-
tines nem perder tempo com questes: um homem,
e o que causa dano aos homens, tambm a mim me
toca.
13
A dialtica continua sendo uma arte, porm, cons-
titui-se como um mtodo de interpretao de enunciados
histricos, como uma narrativa de eventos e no mais
apenas como interpretao das escrituras sagradas. A
Histria, portanto, colocada como cincia e no mais
apenas como o acontecimento em si, incidindo sua
interpretao sobre a contradio. Diferentemente da
Antiguidade, baseada apenas na tese/anttese, a dial-
tica tida como o mtodo em que se tem, alm desses
dois elementos, a sntese. Surge a tentativa de resgatar-
se o mundo da cultura, mantendo a cincia da natureza.
Se com Descartes e posteriormente Comte, a cincia
passa a ser encarada como conhecimento certo e evidente
a partir do mtodo, que consistia na organizao dos
objetos numa numerao suficiente e metdica, Kant
lana dvidas sobre a cincia enquanto certeza absoluta.
Ainda que considere a cincia como algo seguro e o papel
indiscutvel da matemtica para tal, prope uma cincia
denominada Crtica da Razo Pura, que a seu ver,
contm de modo completo tanto o conhecimento
analtico quanto o conhecimento sinttico a priori (que
independe da experincia e dos sentidos), cuja utilidade
seria servir purificao da razo, mantendo-a livre de
erros. Props a Crtica como um instrumento a partir
do qual se poderia decidir sobre o valor dos conhe-
cimentos a priori e a promoo da Metafsica funda-
mental como cincia que deveria desenvolver-se de modo
sistemtico e escolstico.
14
Vale ressaltar que, se a Antiguidade foi caracterizada
por um ensino baseado em uma estrutura curricular a
partir da Lgica, da Fsica e da tica, com o advento da
Idade Mdia, essa estrutura passou a contar com a
Astronomia, Aritmtica, Geometria e Harmonia em sua
dimenso tcnica e com a Retrica, Gramtica e
Dialtica em uma dimenso voltada para questes coti-
dianas. Tal estrutura adentra a Modernidade, esten-
dendo-se at ao Sculo XVIII.
Um aspecto tambm importante a ser considerado
na obra de Kant anteriormente citada, que, ao defender
12
COMEIUS, Johann Amos. Didtica Magna: tratado da arte de ensinar tudo a todos. 4. ed. Trad. Joaquim Ferreira Gomes. Lisboa:
Fundao Calouste Gulbenkian, 1996, p. 163.
13
KANT, Immanuel. O belo e o sublime (Ensaio de Esttica e Moral). Trad. Alberto Machado Cruz. Porto: Livraria Educao Nacional,
1942, p.29-30.
14
_______. Crtica da Razo Pura e outros textos filosficos. Trad. Valrio Rohden. So Paulo: Abril Cultural, 1974, p.33.
117 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 113-123 1 sem. 2009
uma mudana no campo da cincia, o filsofo reconhece
na Moral, na Religio e na Filosofia campos fecundos
para a construo de um conhecimento que seja til no
apenas a uma esfera privilegiada da sociedade, mas ao
pblico de modo geral. Aqui, encontramos uma crtica
contundente ao papel da escola em relao ao co-
nhecimento e junto sociedade, medida que a mesma
apontada como inacessvel ao povo, outorgando o
conhecimento e a verdade para si, comunicando-lhes
apenas a utilidade de seu pretensioso saber. Uma escola
detentora de um saber inacessvel s classe populares,
as quais, a seu ver, no reconhecia como legtimos de
seu interesse os conhecimentos por ela e nela veiculados,
provocando cada vez mais um distanciamento entre am-
bos, uma vez que incorporava doutrinas e uma erudio
de interesse apenas do poder pblico que dela se ocupa-
va e a ela apoiava. Tais constataes so explicitadas nos
textos a seguir:
A transformao atinge, portanto, apenas as arro-
gantes pretenses das escolas, que gostariam de se
considerar aqui (como outrora com direito em muitos
outros pontos) como os nicos conhecedores e guardas
de tais verdades, das quais elas comunicam ao pblico
apenas a utilidade, conservando porm a chave delas
apenas para si (quod mecum nescit, solus vult scire
videri). [...] Com efeito, assim como o povo no chega a
compreender como verdades teis argumentos to
sutilmente elaborados, muito menos lhe ocorre fazer-
lhes objees anlogas.
15
Se aos governos agrada ocupar-se dos interesses
dos eruditos, ento seria mais adequado sua sbia
solicitude para com as cincias e mesmo para com os
homens favorecer a liberdade de uma tal crtica, pela
qual unicamente as elaboraes da razo podem ser
conduzidas a uma base slida, em vez de apoiar o
despotismo ridculo das escolas, que levantam gritos
de perigo pblico, quando se destroem suas teias de
aranha, das quais o pblico jamais tomou conhecimento
e cuja perda ele no pode, portanto, jamais sentir.
16
Para Gadotti
17
, o sculo XVIII foi por excelncia
poltico-pedaggico visto que as camadas populares
passaram a reivindicar mais saber e educao pblica
que culminaram em discusses cada vez maiores sobre
a formao do cidado via escolas. Parte desse processo
assenta-se nas idias de Rosseau que, centralizando o
tema da infncia na educao, afirma que a criana
nasce boa e o adulto que a corrompe. Dessa forma,
esse pensador chama a ateno para a importncia do
professor em sua formao, devendo este aprender com
seu educando. Com Rosseau a educao foi dividida em
trs momentos (infncia at 12 anos, adolescncia
dos 12 aos 20 anos e maturidade dos 20 aos 25), tendo
importante papel na transio de uma educao que sob
controle da Igreja passa para as mos do Estado.
diferena de Rosseau, Kant acreditava na capacidade do
homem em elevar-se, mais que em sua bondade natural,
por seu esforo constante, disciplina e observao das
leis morais.
Se, desde a Antiguidade at Kant, tudo explicado
pelo dualismo (como por exemplo, corpo e alma, subje-
tividade e objetividade, pensamento e existncia), e se
para Hume
18
a vida no era conduzida pela razo, mas
pelo hbito, sendo o futuro conforme ao passado, Hegel
tenta fundamentar a filosofia a partir dos fenmenos.
Para ele, a razo governava o mundo, porm, a filosofia
no discernia at ento em que consistia esse governo,
confundindo-se a razo com a Natureza. Apresentou a
Fenomenologia como forma de superao do dualismo.
A histria enquanto terreno da conscincia e da expe-
rincia continha o registro da compreenso sobre os
fenmenos. Apresentou tambm a realidade como uma
produo espiritual, porm, com uma base material.
Hegel defendia a necessidade da construo de uma
identidade nacional pela unificao do Estado. O Estado
seria o caminho para se garantir uma eqidade civil e os
indivduos deveriam aderir sua organizao, contri-
buindo para sua estabilidade e subordinando-se a ele:
Por fazerem parte do Estado, os indivduos devem,
pois, aderir sua organizao, contribuir para sua
estabilidade, e subordinar-se a ele, uma vez que j no
so, pelo seu carter e estrutura psquica os nicos
representantes dos poderes morais; no Estado verda-
15
Idem, p.18.
16
Idem, p.19.
17
GADOTTI, Moacir. Histria das idias pedaggicas. 8 ed., So Paulo: tica, 2002, p.79.
18
HUME, David. Resumo de um tratado na natureza humana. Trad. Raquel Gutirrez e Jos Sotero Caio. Porto Alegre: Paraula, 1995,
p. 7 1 .
118 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 113-123 1 sem. 2009
deiro, os indivduos devem regrar todas as particu-
laridades da sua sensibilidade, da sua maneira de
pensar e de sentir, de acordo com a legalidade. [...]
Todavia, os indivduos no deixam de constituir em
elemento secundrio que, fora do Estado, desprovido
de qualquer substancialidade prpria.
19
Embalado pelos ideais de liberdade proclamados pela
Revoluo Francesa que aboliu a monarquia absolutista,
desmantelou a ordem feudal e instaurou a sociedade
burguesa, Hegel tornou-se um entusiasta de tais ideais e
da dignidade humana. Pode-se dizer que o pensamento
Hegeliano marca a etapa final da Modernidade, para
quem a apreenso da conexo dos momentos no tempo
cria a histria, e a dialtica evidencia o carter processual
da realidade, havendo uma ruptura considervel entre o
antigo e o moderno na dimenso da cincia. No lugar de
uma dimenso ontolgica, vimos surgir uma dimenso
histrica; no mais a paz de esprito o objeto da cincia,
e sim, o poder sobre a natureza e sobre as pessoas.
Os sculos XVII e XVIII so perpassados no por
uma idia norteadora de teorias educacionais poca,
mas por fundamentos filosficos, polticos, sociais e
econmicos que se mostraram e ainda, mostrar-se-iam
presentes ao que viria depois. Para Goergen
20
, a Moder-
nidade caracterizou-se por uma confiana sem limites
na razo com capacidade de domnio sobre os princpios
naturais a favor dos homens, a partir do que seria possvel
garantir sociedade um futuro melhor, em que o passado
passa a ser visto como tempo de superstio e ignorn-
cia. Desvelando os segredos da natureza, ter-se-ia os
conhecimentos da advindos a servio do homem, cuja
emancipao se daria por meio da cincia e da tecno-
logia.
A histria da educao apresenta tal perodo como
profundamente marcante na construo de uma nova
sociedade, que deixando de ser agrria, sob o monoplio
da nobreza, a seguir, altamente influenciada pela bur-
guesia, constituindo-se no alicerce do mundo produtivo
com base na industrializao e fomento dos meios de
produo e servios, com vistas a uma mais-valia ca-
racterstica do capitalismo emergente.
Sendo verdade que o Humanismo e a economia ca-
pitalista foram o sustentculo da sociedade moderna,
tambm o a dimenso moralista presente na escola
construda sob a gide da burguesia, em que a educao,
associada ao tecnicismo da economia, serviu de instru-
mento para o desenvolvimento de habilidades tcnicas
para incluso do sujeito ao mercado de trabalho.
Vale ressaltar que o posicionamento epistemolgico
de confiana na razo como forma de emancipao e
liberdade do homem que caracterizou a Modernidade,
com nfase em sua capacidade de criar uma sociedade
culta, politicamente justa, igualitria e eticamente boa,
influencia os projetos pedaggicos, colocando no acesso
ao conhecimento, via educao, as bases para tal. A
verdade, porm, que o ideal de igualdade entre os
homens e na educao, preconizados no interior da
Modernidade, no se concretizou. As diferenas nos
nveis educacionais se apresentavam nas distintas classes
sociais. A educao burguesa destinava s classes tra-
balhadoras conhecimentos que privilegiavam o trabalho
e classe dirigente conhecimento para governar.
Mundo Contemporneo e Ps-Moderno
O pensamento pedaggico, ao final do sculo XVIII,
possui em seu interior duas concepes marcantes e
antagnicas que adentrariam ao sculo XIX, nomeadas
Positivismo a partir de Augusto Comte e Marxismo de
Karl Marx. Enquanto Comte centralizou esforos em
torno da discusso das cincias naturais e humanas,
tendo como objeto de anlise os fenmenos como fatos,
afastando-se de preconceitos e pressupostos ideolgicos,
prescindindo, portanto da neutralidade, Marx tratou
indiretamente da educao no mbito das relaes sociais
j que a base da desigualdade encontrava-se no sistema
econmico, ressaltando as influncias do mesmo na
educao e nos problemas a ela relacionados. Para ele,
as relaes sociais so relaes materiais e no apenas
espirituais, aplicando-se a dialtica, no s ideologias,
mas s relaes materiais, em que a apresentao de
momentos histricos evidencia relaes sociais anta-
gnicas. H a necessidade da superao do Estado
burgus como sntese da histria, sendo necessrio no
perder de vista a realidade, sem servir-se de abstraes.
No lugar da lgica formal, ressalta a economia poltica.
Seriam necessrias mudanas na educao para uma
19
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Esttica: a idia e o ideal; Esttica: o belo artstico ou o ideal. Trad. Orlando Vitorino. So Paulo:
Nova Cultural, 1999, p. 195.
20
GOERGEN, Pedro. Ps-Modernidade, tica e educao. Campinas: Autores Associados, 2001, p.12-13.
119 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 113-123 1 sem. 2009
alterao na sociedade e, ao mesmo tempo, uma mu-
dana nesta para transformaes na educao. Defendia
um sistema de ensino baseado na educao intelectual,
corporal e tecnolgica. Para ele, tal combinao elevaria
a classe operria a um nvel superior ao da burguesia e
da aristocracia. Ao discutir as relaes sociais e o sistema
sciopoltico-econmico na Europa industrializada do
sculo XIX, assim como, o processo de produo do
capital, a partir da produo da mais-valia, das relaes
da maquinaria e da grande indstria, dos efeitos ime-
diatos da produo mecanizada sobre o trabalhador e
sobre o salrio, a repercusso da revoluo agrcola sobre
a indstria e sobre a populao urbana, Marx inaugura
um pensamento at hoje presente nas discusses da
esfera intelectual e produtiva de nossa sociedade. A acu-
mulao capitalista, por ele posta em evidncia conforme
citaes abaixo, parece continuar rondando nossos dias,
traduzida por uma realidade cujo cenrio ainda visua-
lizamos no cotidiano:
Quanto maiores a riqueza social, o capital em
funcionamento, o volume e a energia de seu cresci-
mento, portanto tambm a grandeza absoluta do
proletariado e a fora produtiva de seu trabalho, tanto
maior o exrcito industrial de reserva. A fora de tra-
balho disponvel desenvolvida pelas mesmas causas
que a fora expansiva do capital. A grandeza propor-
cional do exrcito industrial de reserva cresce, por-
tanto, com as potncias da riqueza. Mas quanto maior
esse exrcito de reserva em relao ao exrcito ativo de
trabalhadores, tanto mais macia a superpopulao
consolidada, cuja misria est em razo inversa do
suplcio de seu trabalho. Quanto maior, finalmente, a
camada lazarenta da classe trabalhadora e o exrcito
industrial de reserva, tanto maior o pauperismo oficial.
Essa a lei absoluta geral, da acumulao capitalista.
21
Quanto mais rpido se acumula o capital numa
cidade industrial ou comercial, tanto mais rpido o
afluxo de material humano explorvel e tanto mais
miserveis as moradias improvisadas dos traba-
lhadores.
22
No turbilho das transformaes no campo
epistemolgico e conseqentemente, tecnolgico,
educacional e produtivo, o mundo se viu s voltas com
acontecimentos e conflitos sociais que, logo a seguir,
marcariam o sculo XX. No ano de 1954 Mannheim,
ainda no calor do ps-guerra, destaca o importante papel
da educao para a retomada da paz e do equilbrio
social:
impossvel que venhamos a retornar depois desta
guerra, a mais desumana de toda a Histria, a con-
dies de paz sem contar com a ajuda dos professores
para atacar essas tendncias desintegradoras. Hoje
ningum pode pensar na paz aps esta guerra como um
mero retorno s condies do pr-guerra [...] Numa
sociedade em transformao como a nossa, s uma
educao para a mudana pode auxiliar-nos.
23
Nesse perodo, o homem atnito diante de uma so-
ciedade constantemente em transformao aponta os
efeitos desumanizadores do processo de industrializao,
assim como, as mudanas culturais e alteraes de
valores morais. A Sociologia apresentada como im-
portante ferramenta para compreenso de tais trans-
formaes e para avaliar o significado da educao
mediante o estudo dos aspectos sociolgicos do com-
portamento humano
24
. Passa a ser discutida a impor-
tncia em relacionar as experincias novas com a baga-
gem de que o indivduo j dispe, levando em conta sua
histria e fatores sociais que atuam sobre ele, para alm
da escola. Contrrio poca do liberalismo, cuja prtica
educacional segundo Mannheim era supercomparti-
mentarizada, desconsiderando os fatores sociais, deba-
tia-se nesse momento as tendncias integradoras na
educao levando-se em conta a totalidade do sujeito.
Uma tendncia integradora entre a escola e o mundo se
faz notar. As discusses tomam o caminho de uma crtica
educao compartimentarizada. Tais transformaes,
porm, so difceis de serem efetivadas uma vez que a
realidade poltico-econmica, o crescente movimento
migratrio do campo para a cidade e o avano tecno-
lgico a galope tornam a educao e o homem cada vez
mais atrelados a um modo de produo que privilegia o
individualismo e coloca no sujeito a responsabilidade por
sua qualificao e empregabilidade. Esse processo se
21
MARX, Karl. O capital: crtica da economia poltica. V.1- t. 2. Trad. Regis Barbosa e Flvio R. Kothe. So Paulo: Abril Cultural,
1984, p.209.
22
Idem, p.222.
120 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 113-123 1 sem. 2009
apresenta com fora crescente nos anos 70 do sculo XX
e toma maior flego com o neoliberalismo e o processo
de globalizao. Se o cotidiano rduo e exige do homem
cada vez mais uma luta pela sobrevivncia, incluindo a
uma corrida para acompanhar os avanos no campo do
conhecimento, isso no impediu que se produzisse um
outro conhecimento no campo das cincias sociais e
humanas que chama a ateno para a necessidade de
um novo mundo e uma nova ordem. Chama ateno
tambm para a necessidade de uma leitura do cotidiano
a partir, no daquilo que se mostra aparentemente
evidente, mas daquilo que se esconde nas entrelinhas e
nos discursos, que o que verdadeiramente influencia e
determina os caminhos da sociedade.
Foucault, nos anos 60, j mostrava aquilo que,
segundo ele, apresentava-se antes mesmo do sculo XX,
no como algo novo, mas como algo que voltou a ocupar
espao no mbito da cincia: o significado e o discurso
que se esconde para alm da linguagem falada. Para ele,
a interpretao algo sempre inacabado. Temos aqui
novamente a cincia, no como possibilidade de des-
coberta definitiva e acabada, mas como uma forma de
chegar-se profundidade do conhecimento e, a partir
da aproximao de um ponto absoluto da interpretao,
ocorreria, simultaneamente, a aproximao de um ponto
de ruptura, chegando-se a um ponto de partida, a um
novo ponto
25
.
Nas discusses relativas educao temos aqui, alm
da nfase em uma integrao no campo do saber, a
possibilidade de uma concepo de ensino que tenha
como funo, no a formao do indivduo para deter-
minar seu lugar na sociedade, e sim, permitir a ele
modificar-se de acordo com sua preferncia. Isso
constitui verdadeiramente um desafio do qual estamos
longe de uma aproximao.
Em Educao e emancipao
26
, encontramos o
mesmo posicionamento quando o autor, ao discutir o
sentido verdadeiro da educao, ou seja, discutir no sua
finalidade, mas para onde ela deve conduzir o sujeito,
enfatiza que ao ser decidido para o outro que tipo de
educao deve ter, instaura-se uma contradio com
respeito idia de um homem autnomo e emancipado.
Vemos aqui, claramente, ainda presentes os ideais da
Modernidade. Na viso de Adorno, a educao no seria
restrita apenas transmisso de conhecimentos, tam-
pouco modelagem de pessoas. Somente a produo de
uma conscincia verdadeira seria capaz de promover,
paralelamente, a adaptao dos homens para se orien-
tarem no mundo. A adaptao aqui entendida, no
como uma acomodao ao que est posto, mas enquanto
necessidade humana, em constante movimento, numa
relao dialtica homem-mundo, de modo que suas
qualidades pessoais possam ser mantidas. A reunio
simultnea de princpios individualistas e sociais devem
ser cultivados e desenvolvidos j a partir da educao
infantil. Mais uma vez , um desafio que nas palavras do
autor tornou-se irrealizvel:
Do ponto de vista formal naturalmente isto evi-
dente. Entretanto acredito apenas que no mundo em
que ns vivemos esses dois objetivos no podem ser
reunidos. A idia de uma espcie de harmonia, tal como
ainda vislumbrada por Humboldt, entre o que funciona
socialmente e o homem formado em si mesmo, tornou-
se irrealizvel.
27
Hobsbawm
28
ao abordar questes relativas sobre o
homem e a sociedade do sculo XX, ao qual se referiu
como a era do neoliberalismo, marcado por avanos
tecnolgicos como a fotografia, o cinema, o rdio, a
televiso e a informtica, discute os impactos da glo-
balizao sobre a cultura e o mundo do trabalho e con-
seqentemente sobre o homem. Para ele o modus
operandi econmico do capitalismo, com a idolatria aos
valores do mercado, alm de gerar grande tenso para o
homem e para a sociedade, torna-se vulnervel enquanto
sistema, sendo imprevisveis as condies de sua
permanncia e continuidade. A mercantilizao do saber
estende-se tambm cincia medida que pesquisas,
que durante anos foram realizadas sem a necessidade
de apresentao de resultados econmicos, comeam a
sofrer presses em sentido contrrio. Para ele, a educao
que nas sociedades aristocrticas era um fator decisivo
de hierarquizao social, incapaz de superar a hie-
rarquia efetivada pela disponibilidade de recursos fi-
nanceiros. A otimizao do crescimento econmico e do
23
MANNHEIM, Karl. Diagnstico de nosso tempo. Rio de Janeiro: Zahar, 1961, p.68.
24
Idem, p.69.
25
MOTTA, Manoel Barros da. (Org.). Michel Foucault: Arqueologia das Cincias e histria dos sistemas de pensamento. 2 ed. Trad.
Elisa Monteiro. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2005, p.45.
121 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 113-123 1 sem. 2009
lucro assusta no apenas por sua capacidade de gerar
desequilbrio e mal-estar no homem que, enquanto ser
social, ir sempre requisitar a convivncia entre humanos
para realizao de seu trabalho, mas, sobretudo, por sua
capacidade em produzir efeitos negativos, inclusive sobre
os destinos e utilizao das descobertas cientficas, as
quais tm delegado cada vez mais poder ao homem sobre
a natureza, sem, contudo, prepar-lo para o que fazer e
como lidar com elas.
A Modernidade se constituiu, a princpio, no espao
do territrio e das mercadorias. Com a subordinao do
primeiro aos fluxos econmicos, ter uma identidade,
segundo Lvy
29
, seria sinnimo de participao na
produo e trocas de mercadorias. Tal subordinao,
para esse autor, no resultou na supresso dos territrios
e sim, em um movimento de desterritorializao com a
riqueza, estando agora relacionada ao controle do fluxo
de mercadorias, no mais ao domnio das fronteiras.
Com o espao reduzido, passando a identificar-se por
exemplo, pela lngua ou pela etnia, define-se o espao
humano, com a constituio dos Estados nacionais. O
capitalismo se torna internacional. A circulao de
mercadorias rompe com as fronteiras do territrio. A
evoluo da cincia e das inovaes tecnolgicas
acarretaram mudanas de peso na vida cotidiana e da
sociedade, alterando valores e significados do trabalho,
da comunicao e da relao do homem com o corpo e
o espao, medida que passou a dele exigir novas
aprendizagens e produo de novos conhecimentos,
lanando-o ao universo do espao do saber. Espao onde
a terra no o territrio, nem o corredor de circulao
de mercadorias, mas um espao unidimensional em que
todo ambiente um ambiente educativo. Encontramos
nesse autor a sntese das condies e caractersticas que
marcam o que denominamos hoje de Ps-modernidade.
A fonte de riqueza desloca-se dos produtos e mercadorias,
para centrar-se nos conhecimentos vivos, no saber fazer
e nas competncias dos seres humanos. A ps-mo-
dernidade entra na era do ciberespao e da sociedade do
espetculo. O saber humano passa a ser a mercadoria.
Com as subjetividades negligenciadas e vivendo em
uma sociedade em que o saber permanece como mo-
noplio de poucos, a sociedade da informao torna-se
uma falcia. Existe a propaganda da democratizao do
saber, mas percebe-se, cada vez mais, a engenharia
retrica que a se esconde, uma vez que a escola pblica,
ao invs de aproximar as camadas populares da cincia,
acaba afastando-as ainda mais desse desiderato. Pode-
mos dizer que vivemos sob a gide da tica da reparao,
ou seja, a acentuada incorporao de aes compen-
satrias, como recurso pblico, para minimizar o qua-
dro de graves problemas sociais que caracterizam a
atualidade.
Na ps-modernidade, a educao passa a ser ana-
lisada considerando relaes de poder e de gnero,
produo do conhecimento e etnia. A discusso em torno
da cincia questiona a aplicao do modelo das cincias
naturais para as cincias humanas e ainda enfatiza a
necessidade de ir alm de informaes factuais, levando-
se em conta situaes interativas, construdas a partir
do sujeito e do contexto em que ele vive. Desse modo,
no h um nico mtodo de trabalho cientfico para a
apreenso e interpretao da realidade e das coisas; as
subjetividades, ou seja, as diferenas existentes em cada
um e no indivduo em relao ao todo, passam a ser
apontadas como uma constatao que exige uma outra
compreenso de ns mesmos como seres da vida e como
sujeitos do conhecimento
30
. Nesse caso, no cabe uma
cincia que afirma a existncia da neutralidade e, por-
tanto, a objetividade absoluta e imparcial:
Vivamos ento o alvorecer e vivemos agora a
manh do tempo em que, entre a fsica e a filosofia, se
descobre que a cincia est deixando de ser uma
experincia objetivamente controlvel e analtica em
busca de regularidades nicas e leis definitivas, para
vir a ser uma aventura motivada e multicnica do
esprito humano em busca de mltiplos significados de
compreenso das interaes e integraes de campos
interconectados do real. Entre marxistas, humanistas
cristos e fenomenlogos, aprendemos a desconfiar de
cincias nicas, de teorias nicas e de verses nicas
26
ADORNO, Theodor W. Educao e emancipao. Trad. Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p.141.
27
Idem, p.154.
28
HOBSBAWM, Eric. O novo sculo (entrevista a Antonio Polito). Trad. Cludio Marcondes. So Paulo: Companhia das Letras, 2000.
29
LVY, Pierre. A inteligncia coletiva; por uma antropologia do ciberespao. Trad. Luiz Paulo Rouanet. So Paulo: Edies Loyola,
1 998.
30
BRANDO, Carlos Rodrigues. A pergunta a vrias mos: a experincia da pesquisa no trabalho do educador. So Paulo: Cortez,
2003, p.61.
122 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 113-123 1 sem. 2009
(ou as mais verdadeiras) dentro de uma teoria. Conti-
nuamos desconfiando, e agora com mais razes.
31
Para Giroux
32
, o termo ps-modernidade tem sido
empregado cada vez mais dentro e fora da instituio
acadmica para designar vrios discursos, tornando-se,
por isso, objeto de lutas conflitantes e de divergncias.
Sua influncia difusa e carter contraditrio tornam-se
evidentes em vrios campos culturais, entre eles a
educao. Ainda assim, para esse autor, seu valor est
em seu papel como indicador mutvel e de resistncia a
todos os sistemas explanatrios totalizantes e ao
crescente apelo por uma linguagem que oferea a
possibilidade de se lidar com as condies ideolgicas e
estruturais mutveis de nossa poca
33
.
A crtica instrumentalizao do ensino se faz
presente, rejeitando sua reduo a uma preocupao com
tcnicas, habilidades e objetivos instrumentais. A cultura
definida pedagogicamente como prticas sociais que
permitem, tanto aos professores quanto aos alunos,
construrem-se como agentes na produo de subje-
tividade e significado.
34
Pletora
O saber, enquanto poder, atravessou a modernidade
e vivemos ainda em uma sociedade dominada pela
retrica. Abdicamos de um pensamento e de uma prxis
em educao que contribuiriam para uma real pros-
peridade do indivduo e da coletividade. Enquanto o
indivduo for visto como ser autmato, dificilmente se-
remos capazes de promover mudanas efetivas e no
apenas aes compensatrias. Enquanto se discutir, no
campo da teoria, a necessidade de uma ascenso da
economia das qualidades humanas e da construo de
coletivos inteligentes com o desenvolvimento e am-
pliao recproca das potencialidades sociais e cognitivas
dos sujeitos, no estaremos tendo mais que a consta-
tao, na prtica, de que a modernidade um captulo
da Histria ainda no suplantado. Faz-se mister romper
com a cosmoviso antiga, vendo os fatos como processo
contnuo que dependem de nossa ao. Talvez esse possa
ser o caminho que nos mova para uma direo oposta
inrcia da retrica.
Se a Histria nos ensina que o movimento no campo
epistemolgico ocasionou por sua vez mudanas no
campo educacional, que na verdade ainda no foram
suficientes para contribuir para reais e significativas
mudanas no campo social, de forma a realizar ideais
da emancipao e liberdade humanas, mostra-nos tam-
bm que a busca por uma democratizao do saber
nascida no bero da modernidade ainda ronda nossos
dias.
Para Foulcault no padecemos do vazio, mas de
poucos meios para pensar em tudo que ocorre:
No acredito [...] na esterilidade do pensamento,
do horizonte fechado e morno. Acredito, ao contrrio,
que h pletora. E que no padecemos do vazio, mas de
muito poucos meios para pensar tudo o que ocorre. H
ento uma abundncia de coisas a saber: essenciais ou
terrveis, ou maravilhosas, ou cmicas, ou minsculas
e capitais simultaneamente... Creio ao contrrio, que
as pessoas reagem, quanto mais se tenta convenc-las ,
mais elas se interrogam. A inteligncia das pessoas no
uma cera moldvel. uma substncia que reage.
35
O fato que vivemos em uma sociedade que,
paradoxalmente, discute a incluso e que tem como mote
atual a educao para cidadania, a qual no se con-
cretiza. A sociedade e a cincia continuam sendo desa-
fiadas a solucionar os problemas da existncia e da
dignidade humana.
Referncias
ADORNO, Theodor. W. Educao e emancipao. Trad.
Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
ARISTTELES. Tratados de Lgica (ganon). Volume I.
Trad. Miguel Candel Sanmartn. Madrid: Editorial Gredos,
1994.
BRANDO, Carlos Rodrigues. A pergunta a vrias mos: a
experincia da partilha atravs da pesquisa na educao.
So Paulo: Cortez, 2003.
31
Idem, p.63.
32
GIROUX, Henry A. Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas polticas em educao. Porto Alegre: Artmed, 1999.
33
Idem, p.67.
34
Idem, p.118.
35
FOUCAUT, Michel. In: MOTTA, Manoel Barros da. (Org.). Michel Foucault: Arqueologia das cincias e histria dos sistemas de
pensamento. 2 ed. Trad. Elisa Monteiro. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2005, p.303.
123 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 113-123 1 sem. 2009
CHAU, Marilena. Indroduo histria da filosofia: dos
pr-socrticos a Aristteles. Volume I, 2. ed., rev e ampl.,
So Paulo: Companhia das Letras, 2002.
COMNIUS, Johann Amos. Didtica Magna: tratado da arte
de ensinar tudo a todos. 4 ed. Trad. Joaquim Ferreira Gomes.
Praga: Fundao Calouste Gulbenkian, 1996.
COSTA, Ricardo. da. A educao na Idade Mdia: a busca da
sabedoria como caminho para a felicidade: All- Farabi e
Ramon Llull. Revista Dimenses, n. 15, Vitria, 2004, p.
99-115. Disponvel em: http://www.ricardocosta.com/univ
/felicidade.htm. Acesso em: 14/02/2008.
DESCARTES, Ren. Regras para orientao do esprito. Trad.
Maria Ermantina Galvo. So Paulo: Martins Fontes, 1999.
FIGUEIREDO, Luis Cludio M.; SANTI, Pedro Luiz Ribeiro
de. Psicologia, uma (nova) introduo; uma viso histrica
da psicologia como cincia. 2. ed., So Paulo: EDUC, 1997.
GADOTTI, Moacir. Histria das idias pedaggicas. 8 ed.,
So Paulo: tica, 2002.
GIROUX, Henry. A. Cruzando as fronteiras do discurso
educacional: novas polticas em educao. Porto Alegre:
Artmed, 1999.
GOERGEN, Pedro. Ps-Modernidade, tica e educao.
Campinas: Autores Associados, 2001.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Esttica: a idia e o ideal;
Esttica: o belo artstico ou o ideal. Trad. Orlando Vitorino.
So Paulo: Nova Cultural, 1999. (Coleo Os Pensadores).
HOBSBAWM, Eric. O novo sculo [entrevista a Antonio
Polito]. Trad. Cludio Marcondes. So Paulo: Companhia das
Letras, 2000.
HUME, David. Resumo de Um tratado da Natureza Humana.
Trad. Raquel Gutirrez e Jos Sotero Caio. Porto Alegre:
Paraula, 1995.
KANT, Immanuel. O belo e o sublime (Ensaio de Esttica e
Moral). Trad. Alberto Machado Cruz. Porto: Livraria Edu-
cao Nacional, 1942.
______. Crtica da Razo Pura e outros textos filosficos.
Trad. Valrio Rohden. So Paulo: Abril Cultural, 1974.
(Coleo Os Pensadores).
LVY, Pierre. A inteligncia coletiva: por uma antropologia
do ciberespao. Trad. Luiz Paulo Rouanet. So Paulo: Edies
Loyola, 1994.
MANNHEIM, Karl. Diagnstico de nosso tempo. Rio de
Janeiro: Zahar, 1961.
MARX, Karl. O capital: crtica da economia poltica, V.1- t.
2. Trad. Regis Barbosa e Flvio R. Kothe. So Paulo: Abril
Cultural, 1984.
MOTTA, Manoel Barros da (Org.). Michel Foucault:
Arqueologia das Cincias e histria dos sistemas de pensa-
mento. 2 ed. Trad. Elisa Monteiro. Rio de Janeiro: Forense
Universitria, 2005.
125 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 125-129 1 sem. 2009
A renovao historiogrfica, consolidada desde os idos
dos anos de 1980, transformou paradigmas da produo
do conhecimento histrico acadmico, ao mesmo tempo
em que, se constituiu na principal referncia para a
reelaborao do conhecimento histrico escolar e dos
elementos concernentes prtica do ensino da histria.
A partir das mudanas paradigmticas resultantes
deste processo renovador, o desafio colocado ao professor
de histria tem sido o de consolidar capacidades e
habilidades, de mobilizar metodologias capazes de
construir conceitos e processar informaes, articulando
o conjunto de representaes sociais e culturais dos
indivduos ao mundo social e ao conhecimento histrico
cientfico. Desta forma, o tema do cotidiano, fruto da
renovao historiogrfica referida tornou-se, na rea do
ensino, um tema de fundamental importncia. No
somente como tema a ser incorporado a partir de
paradigmas diferenciais do conhecimento acadmico,
mas como temtica central do corpo de conhecimentos
necessrios ao indivduo na construo das relaes
sociais e sua inteligibilidade.
Assim, o tema do cotidiano na sala de aula relaciona
Refletindo sobre o vivido: o cotidiano,
o saber escolar e a formao histrica
Claudia Moraes de Souza
Doutora em Historia Social pela FFLCH/USP e professora de Teoria e Metodologia da Histria
no curso de licenciatura em histria da Fundao do Ensino Superior de Osasco /UNIFIEO.
E-mail: cacaops@ig.com.br
Resumo
Este artigo trata de possibilidades da historia, do cotidiano
e da didtica da histria. Seu objetivo o de refletir sobre
alguns problemas concernentes ao ensino de histria e
prtica em sala de aula na formao histrica dos
indivduos. Ele evoca questes tericas da histria do
cotidiano e a necessidade da construo de uma didtica
capaz de interligar o saber histrico e a vida social na
formao do sujeito histrico.
Palavras-chave: Ensino de Histria. Cotidiano.
Formao Histrica.
Abstract
This article reflects about possibilities of history, the daily
and didactic of history. Its goal is to reflect on some
problems concerning the teaching of history and practice
in the classroom in the formation of historical subjects. He
evokes the history of theoretical issues and the need for
daily construction of a didactic able to connect the know
history and social life.
Keywords: History Theching. Daily. Formation of
Historical.
o conhecimento histrico e o mundo vivido. Neste artigo,
os temas : cotidiano, saber histrico escolar e formao
histrica nos remetem a discusso da construo do
conhecimento histrico a partir da dimenso cotidiana
e seus mecanismos de difuso do saber escolar. O
cotidiano, definido como o espao do vivido, assume uma
dimenso central na histria do indivduo e conse-
qentemente deve se articular a construo do conhe-
cimento histrico e aos mecanismos de difuso do saber
escolar.
Como premissa, a historia do cotidiano assume
funes no saber histrico e no saber escolar. Assim,
cotidiano e ensino sugerem reflexes sobre as funes
da historia da vida cotidiana na construo dos conhe-
cimentos e do pensar histrico. Buscaremos refletir no
espao deste texto, a questo do papel do cotidiano no
saber escolar, assim como, as funes que a histria da
vida cotidiana pode cumprir no ensino de histria.
Inicialmente, demarcamos que o sentido do trabalho
com o cotidiano em sala de aula deve se associar aos
princpios e objetivos da formao histrica. Se o desafio
trazer a problemtica do cotidiano para dentro da sala
126 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 125-129 1 sem. 2009
de aula, conseqentemente, o tema do Cotidiano precisa
estar articulado ao aprendizado e a formao histrica
que se quer promover por meio da escola. Necessitamos,
portanto, de um entendimento genrico sobre a formao
histrica como ponto de partida.
Como formao histrica, Jorn Rusn
1
entende o
processo formativo do sujeito que se volta ao desenvol-
vimento de competncias cognitivas capazes de integrar
contedos e saberes ao conjunto de atitudes sociais,
necessrias ao indivduo, para a reflexo e a ao em
seu tempo presente e em sua realidade social. Desta con-
cepo deriva a idia de que o sujeito em sua formao
histrica deve conceber e representar a totalidade das
coisas e, a partir da refletir, interpretar e agir.
Por sua vez a capacidade de reflexo sobre a realidade
principia da capacidade de reflexo do individuo sobre
seu vivido e sua cotidianidade. A formao histrica do
sujeito torna-se assim, um ato da vida prtica, que
articula, dialeticamente, o entendimento da totalidade
social com as particularidades de forma simultnea.
Seguindo este raciocnio, afirmamos que esta
concepo de formao histrica faz emergir a pro-
blemtica do cotidiano na construo dos saberes
escolares e histricos. Na realidade, articulam-se no
sujeito a capacidade de reflexo sobre a totalidade das
coisas, com a capacidade de reflexo sobre a vida do
indivduo em seu espao/tempo social. Nas teorias
cognitivas construtivistas, a experincia do sujeito, sua
realidade socioeconmica, suas concepes de mundo,
saberes pretritos e representaes sociais compem
necessariamente o aprendizado. Na formao histrica,
a dimenso do cotidiano participar necessariamente dos
mecanismos de construo das noes e conceitos da
histria e dever, inclusive, ser o ponto de partida para a
construo e reflexo da histria como conhecimento
cientfico.
De que forma a histria do cotidiano poderia assumir
funes na aprendizagem em histria e na construo
do pensar histrico? Por meio da insero do sujeito em
sua prpria histria, na histria local, nas diferentes
histrias de diferentes comunidades, em tempos his-
tricos outros, que no apenas o presente. Ou seja, a
histria do cotidiano permite ao professor a possibilidade
do trabalho com as questes da identificao social do
indivduo em seu grupo e sua localidade, assim como a
abertura de possibilidades da explorao das questes de
pluralidade cultural na construo de mltiplas histrias
locais e regionais, em tempos e espaos diferenciados.
Na dialtica da construo do conhecimento, por sua
vez, as capacidades construdas a partir do estudo do
cotidiano e das consideraes do mundo vivido do aluno
abrigam tambm, as possibilidades do desvendamento
da grande histria, das histrias nacionais e da histria
integrada.
No Brasil, os Parmetros Curriculares Nacionais em
Histria do Ensino Fundamental /PCNs
2
relacionam,
dentre os objetivos do ensino de histria, a formao do
sujeito capaz de entender, interpretar e atuar sobre o
tempo presente, a partir de processos de reflexo que
partem da historia de vida do aluno, sua realidade
cultural, suas relaes econmico e sociais, no local e no
global. O estudo da histria local e do cotidiano cumpre
funes de construo de conceitos fundamentais do
conhecimento histrico, como as noes de diferena,
simultaneidade, permanncia e rupturas e na construo
da identidade cultural pluralista. As preocupaes com
o estudo do mundo vivido de povos e sociedades dife-
rentes de tempos e espaos diferentes e desiguais,
demarcam, nos PCNs, a importncia do tema do co-
tidiano no conhecimento histrico e no conhecimento
escolar.
O que fica claro nesta proposio o fato de que,
cada vez mais, se faz necessrio a articulao entre a
localidade e a globalidade da histria. A pontualidade do
cotidiano somado as suas possibilidades de reconhe-
cimento da organizao dos diferentes nveis da vida
social
3
(o poltico, o cultural, o religioso, o econmico,
dentre outros) assume funes fundamentais na for-
mao histrica responsvel pelo reconhecimento do
sujeito voltado prxis social.
Isto posto, se estabelecemos o cotidiano e a histria
do cotidiano como uma instncia significativa na cons-
truo do conhecimento e do pensar histrico, tanto na
dimenso da teoria da histria quanto da sua didtica,
cabe-nos desenvolver e apreender uma teoria do
cotidiano e seu papel na histria, conjuntamente com o
desafio de construo de uma didtica escolar que
possibilite o trabalho com o cotidiano em sala de aula.
1
RUSEN, J. Teorias da histria: formas e funes do conhecimento histrico. Braslia: UNB, 2007.
2
MEC. Parmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental em Histria, 1996.
3
HELLER, A. O Cotidiano e a Histria. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
127 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 125-129 1 sem. 2009
Propomos, a partir daqui, uma reflexo sobre estes dois
importantes aspectos do tema cotidiano e saber escolar:
aquele que trata das relaes do cotidiano, do saber e da
formao histrica, no intuito de se construir uma teoria
do cotidiano, e, aquele que trata da didtica da histria e
suas possibilidades no ensino da histria.
Cotidiano e conhecimento histrico
O estudo do cotidiano faz parte do quadro de trans-
formaes da histria desde a crise dos paradigmas
tradicionais e da conseqente renovao terico e
metodolgica do pensamento histrico, filosfico e das
cincias humanas em geral. Para Henri Lefebvre
4
, em
um ramo do pensamento ocidental europeu, no sculo
XIX, a filosofia e as cincias humanas em geral, deixaram
a especulao e se aproximaram da realidade emprica.
Naquele momento, o cotidiano passou a ser considerado
como a instncia em que o ser humano realiza suas aes
tornando-se objeto central do pensamento crtico, na
medida em que possibilitava a oposio entre o mundo
real ao mundo ideal. Para o autor, o cotidiano contm a
complexidade da vida social abarcando simulta-
neamente as formas homogneas da dominao e as
formas residuais da resistncia.
Em suas formas hegemnicas, o cotidiano foi tratado
pelo autor, como a dimenso do exerccio dos poderes.
Nele, o Estado e as classes dominantes propem seus
mecanismos mltiplos da homogeneizao, fazendo com
que no interior da vida social cristalizem-se formas de
dominao. O plo de dominao implanta seu domnio
nos mais variados nveis da vida social e pelos mais
variados caminhos do cotidiano, se instalando nas
repeties cotidianas do mundo do trabalho, da vida
familiar, da vida rural, da sexualidade, do compor-
tamento social, da religiosidade.
No pensamento de Lefebvre, a modernidade foi o
tempo responsvel pela construo dos preceitos desta
hegemonia, homogeneizando a opinio pblica, mas-
sificando modos de ser, de pensar, vestir, e sentir. Nesta
perspectiva, o campo educacional foi um campo
privilegiado da construo das intervenes sobre o
cotidiano. P. Bourdieu
5
, que tambm refletiu sobre a
construo dos campos culturais da homogeneizao,
destacou o papel da escola na modernidade, como campo
cultural de imposio de simbologias e contedos da
dominao de classes.
No entanto, nas proposies Lefebvreanas esto
tambm, no cotidiano, as possibilidades da resistncia
cultural e poltica. Sob a gide da modernidade, a vida
cotidiana se coloca como o lugar da transformao. O
cotidiano potencialmente o lugar das prticas no
programadas, da inventividade e dos subprodutos que
escapam aos poderes e as formas de submisso. O
cotidiano a ambigidade por excelncia. Nas palavras
do autor ele : satisfao e mal-estar, trivialidade e
aborrecimento, sobre a resplandecente armadura da
modernidade
6
. Daqui, extramos um conceito de coti-
diano, como espao simultneo e contraditrio: da
passividade e da massificao, das insatisfaes e das
vontades que so os alimentos da resistncia.
Com este olhar sobre o vivido, Lefebvre elaborou
noes de cotidiano e cotidianidade. A cotidianidade
resulta de uma estratgia global econmica, poltica e
cultural da hegemonia e do domnio de classe. Ela o
momento em que o vivido foi dominado, disciplinado.
Contraditoriamente, no cotidiano se colocou a potencia-
lidade para a rebeldia, ele aponta as possibilidades que
se assentam no vivido, no dia a dia, nas diferenciaes,
nos gestos e atitudes.
Quando a filosofia e as cincias humanas assumem
o papel crtico da transformao do mundo real, h que
se elaborar um caminho para o tratamento da vida
cotidiana: uma filosofia do cotidiano, uma sociologia do
cotidiano e uma histria do cotidiano. Este caminho deve
preocupar-se com a descrio e a reflexo do mundo
vivido para dele fazer o parto da atividade criadora hu-
mana. Aqui, o estudo do cotidiano determina problemas
centrais: aqueles que tratam do mundo da produo e
da existncia social e aqueles interligados ao conhe-
cimento e sua inciso sobre os problemas do mundo real.
Na historiografia propriamente dita, as preocupaes
com os estudos do modo de vida e do cotidiano esto
cada vez mais presentes. No sculo XX, desde as pri-
meiras geraes dos Annales, Lucien Febvre
7
declarou-
se seguidor de Michelet, como historiador preocupado
4
LEFEBVRE, H. A vida cotidiana e o mundo moderno. So Paulo: tica, 1989.
5
BOURDIEU, P. A economia das trocas simblicas. So Paulo: Perspectiva, 1974.
6
LEFEBVRE, H. Introduo modernidade. Presena, 1970.
7
FEBRE, L. Combates pela histria. Lisboa: Presena, 1989.
128 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 125-129 1 sem. 2009
com a vida material e mental do povo. Braudel, na
dcada de 1960, no livro Civilizao Material e Capita-
lismo, tratou de discorrer sobre a vida material e mental
em suas instncias cotidianas, contribuindo para descri-
o e construo de informaes quantitativas da cultu-
ral material da civilizao pr-capitalista. A partir da,
multiplicaram-se os estudos franceses preocupados em
inventariar a vida material e as instancias cotidianas da
vida social.
Peter Burke, em sua avaliao sobre o Annales, lo-
caliza o despontar da histria do cotidiano, como dimen-
so autnoma da histria, no perodo denominado a
terceira gerao dos Annales, ou a Nova Histria. Esta
gerao transformou a histria do cotidiano em tema
privilegiado, construindo estudos de projeo mundial
como os de Emanuel Le Roy Ladurie, Georges Duby e
Jacques Le Goff, dentre outros, responsveis pelo trata-
mento detalhado do universo da cultura material, dos cos-
tumes e hbitos de sujeitos historiograficamente esque-
cidos ou subsumidos pela histria dos heris e dos eventos.
Em outro movimento, tambm nas dedas de 1960 e
1970, dando o destaque para os estudos das camadas
populares, a historiografia inglesa promoveu estudos da
cultura popular e experincias prticas do homem co-
mum, construindo estudos sobre o cotidiano e os sentidos
da articulao entre a poltica e a cultura. Rompiam-se
concepes estruturalistas do marxismo que desvalo-
rizavam o sujeito na histria, valorizando-se a expe-
rincia social. Transferiram-se, nos estudos culturais
marxistas, a experincia do cotidiano para o ncleo
central das atenes da histria.
Autores como C. Hill, R. Willians e E.P. Thompson
projetaram a ao poltica e a potencialidade orga-
nizacional dos chamados homens comuns, localizando
a resistncia na dimenso do cotidiano. Tendo o cotidia-
no como lugar da ao poltica, as pesquisas inglesas
procuraram focar o mundo da experincia e o processo
de identificao cultural, como o ponto de partida para
o resgate das estratgias populares criadas e recriadas
no mundo cotidiano moderno.
Nesta historiografia, o desvendamento do cotidiano
suplantou o universo de descrio das rotinas cotidianas
e o inventrio de aes, para revelar o universo de con-
flitos, tenses sociais e polticas da histria, alm das
formas de resistncia popular. O estudo da vida cotidiana
e das representaes se articulou ao movimento terico
do marxismo que passava a se preocupar em incidir sobre
as condies da existncia humana.
Desafios do cotidiano na didtica da histria
O conhecimento do cotidiano deve incidir sobre a
histria e a ao histrica. Esta a concluso a que
chegamos aps estes apontamentos tericos. Na escola,
mais do que nunca, o cotidiano deve ser confrontado
com o pensamento crtico e com as realidades mlti-
plas da existncia e da produo humana.
Tanto o historiador, como o professor de histria,
necessitam de uma teoria sobre o cotidiano, a fim de
que, a abordagem do mesmo no se restrinja constru-
o de mltiplos inventrios acerca da cultura material,
dos costumes, do imaginrio e hbitos de comunidades,
grupos sociais em tempos presentes ou j passados.
O desafio da rea de conhecimento da didtica da
histria o de levar a teoria do cotidiano para a sala de
aula e fazer com que professores e alunos realizem o
estudo desta dimenso da histria, com objetivos da
formao histrica para reflexo, interpretao e o agir.
Em primeira instncia, ao professor de histria cabe
conceber o cotidiano como instncia legtima de inves-
tigao. Tanto o cotidiano de grupos sociais diversos do
passado, como o cotidiano do tempo presente e dos
agentes sociais envolvidos com a escola. Da, a histria
local e a histria de vida constiturem-se em mecanismos
cada vez mais procedentes e necessrios no trabalho
escolar e na formao histrica.
Como j dito nas falas iniciais deste artigo, o estudo
do local e da vida cotidiana, no pode, no entanto, se
transformar em limites da particularidade histrica. O
cotidiano no pode ser tratado como a priso do pen-
samento e a impossibilidade do conhecimento da gene-
ralidade e da totalidade. Devemos reconhecer a necessi-
dade de levar sala de aula as concepes tericas ade-
quadas a problematizao do cotidiano e da histria do
cotidiano em suas articulaes com a histria poltica,
social, econmica e cultural.
Com isso queremos dizer que, tratar do cotidiano
atende objetivos genricos da formao histrica quando
levamos o indivduo a refletir sobre sua realidade local e
cotidiana, como forma de construir um agir. Os objetivos
de entendimento da histria global no podem ser
abandonados. No podemos perder de vista, o intuito da
construo das trajetrias histricas explicativas dos
temas selecionados pelo currculo escolar.
Dessa forma o sentido do estudo do cotidiano em sala
de aula est articulado a problematizao do
conhecimento histrico. O recorte da vida cotidiana
129 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 125-129 1 sem. 2009
requer uma problemtica a ser pensada, discutida e
interpretada. Nesta empresa, ao professor cabe a seleo
de problemticas significativas, a seleo de temas, de
contedos, de linguagens e de fontes adequadas para o
trabalho com o cotidiano.
Com os estudos do cotidiano o professor poder
diversificar o uso de fontes e documentos histricos na
sala de aula. Nos estudos cotidianos, a cultura material
tem sido um conjunto privilegiado de fontes, atrelado a
ela, o cotidiano fornece objetos, vestimentas, hbitos
alimentares, gestuais, cerimnias, e um sem nmero de
possibilidade para a explorao das dimenses da vida
do homem comum. Explorar os modos de vida dos
grupos sociais na sua dimenso cotidiana permite a
realizao de objetivos significativos do ensino de histria
hoje: a construo das identidades sociais plurais e da
alteridade cultural.
Como os estudos cotidianos podem se articular ao
saber escolar? Esta foi a questo inicial deste texto. Se
partimos da premissa de que a formao histria se
articula ao agir, por meio da temtica do cotidiano po-
demos desenvolver noes da diversidade dos modos de
vida em crianas, jovens e adultos em formao, com
intuito de construo de identidades sociais plurais que
reconheam a diferena das culturas, dos espaos geo-
grficos, dos saberes, das religiosidades, dos costumes etc.
Os estudos comparativos, os estudos e a crtica dos
documentos escritos, o trabalho com a memria oral,
com saberes populares, so mecanismos mltiplos para
trazer para dentro da sala de aula as diferentes formas
de viver e de pensar de nosso tempo histrico e de tempos
j passados. Estas podem ser estratgias e alternativas
para o estudo do cotidiano em sala de aula.
Na historiografia recente, o professor de histria
poder encontrar mltiplas possibilidades do trabalho
com o cotidiano. A historiografia nos fornece com maes-
tria, estudos do modo de vida, da cultura popular, dos
comportamentos sociais, do mundo do trabalho, do mun-
do das mulheres, do mundo da criana. Sem dvida
alguma, o desafio de historiadores e professores de
histria na contemporaneidade o de poder levar a
riqueza e a complexidade do mundo cotidiano para
dentro da sala de aula.
Como considerao final a este conjunto de reflexes
gostaria de demarcar a importncia dos estudos coti-
dianos na escola contempornea, no apenas em suas
formas ldicas ou inventariais, mas principalmente em
suas instncias problematizadoras da realidade social.
Na articulao do cotidiano com o saber histrico esco-
lar, a formao histrica poder realizar suas funes
constitutivas da conscincia histrica e da prxis social,
de modo a alcanar os objetivos do ensino de histria
assumidos atualmente como fundamentais, aqui rela-
cionados como: a formao da cidadania de direitos, a
formao das identidades culturais plurais, a construo
da tolerncia, da alteridade e da solidariedade humana.
Referncias
BORDIEU,P. A economia das trocas simblicas. So Paulo:
Perspectiva, 1974.
CERTEAU, M. A inveno do cotidiano: artes de fazer. Rio
de Janeiro/Petrpolis: Vozes, 1994.
FEBVRE, L. Combates pela histria. Lisboa: Presena, 1989.
LEFEBVRE, H. A vida cotidiana e o mundo moderno. So
Paulo: tica, 1989.
______. Introduo modernidade. Presena, 1970
MARTINS, J. S. A sociabilidade do homem simples. So Pau-
lo: Hucitec, 1990.
MEC. Parmetros Curriculares Nacionais do Ensino Funda-
mental em Histria. 1996.
THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a
cultura popular tradicional. So Paulo: Cia. Das Letras, 1998.
RUSEN, J. Teorias da histria: formas e funes do conhe-
cimento histrico. Brasilia: Editora UNB, 2007.
RUSEN, J. A razo na historia. Braslia: UnB, 1997.
131 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 133-142 1 sem. 2009
O presente texto tem por objetivo problematizar a
necessidade de discutir no espao escolar conceitos como
patrimnio histrico, memria e museu como alterna-
tiva para a construo do conhecimento histrico. Para
tanto, buscarei articular alguns dados da pesquisa
desenvolvida durante o curso de Mestrado, com a minha
experincia como professora supervisora de estgio
supervisionado no curso de Histria da UNIVALE, du-
rante os anos de 2005 e 2006
1
.
Ao propor fazer um dilogo entre os dados colhidos
na pesquisa e os relatos trazidos pelos estagirios,
pretendo ainda cruzar os olhares sobre o ensino de
Histria na nossa cidade. Por um lado, as falas dos alu-
nos, sujeitos da pesquisa, que concluam naquele mo-
mento a educao bsica, e que receberam uma edu-
cao histrica escolar, nos onze anos que antecederam
a pesquisa; por outro, a percepo do aluno-estagirio,
Patrimnio, museu e memria na construo do
conhecimento histrico
Joana Darc Germano Hollerbach
Graduao em Histria pela UNIVALE (Governador Valadares MG). Mestrado em Educao pela Faculdade de Educao da UFMG.
Professora-Assistente do Departamento de Educao da Universidade Federal de Viosa.
E-mail: joanadarcgermano@hotmail.com
Resumo
Este texto traz a discusso apresentada durante o
Congresso Euro-Brasileiro de Gesto do Patrimnio
Cultural, realizado em julho/2006, pela UNIVALE
Universidade Vale do Rio Doce. Tem por objetivo
problematizar a necessidade de discutir no espao escolar
conceitos como patrimnio histrico, memria e museu
como alternativa para a construo do conhecimento
histrico.
Palavras-chave: Ensino de Histria. Memria e
Patrimnio Histrico.
Abstract
This text conveys the discussion presented during the
Euro-Brazilian Congress of Management of the Cultural
Patrimony held in July/2006 by UNIVALE Universidade
Vale do Rio Doce. It aims to debate over the necessity
on what pertains to school spaces to argue about
concepts as historic site, cultural memory and museum as
an alternative for the construction of historical
knowledge.
Keywords: Teaching of History. Memory and Historical
Patrimony.
que se preparava para o magistrio, o futuro professor.
Esses olhares em alguns momentos se confundiam,
considerando que o aluno-estagirio que naquele
momento se preparava para o magistrio veio, em alguns
casos, da mesma escola na qual desenvolvia seu estgio.
No raro, alguns conseguiam, durante essa experincia,
concluir pensamentos que ficaram no ar no seu tempo
de estudante do ensino fundamental e mdio. Muitas
vezes os estagirios afirmavam durante o estgio: agora
eu entendo porque o ensino foi daquela maneira ou
indagavam porque no me ensinaram isso l na es-
cola?.
Minha experincia como professora supervisora de
estgio me aproximou, portanto, das prticas dos pro-
fessores de histria, em especial dos professores da rede
pblica, onde aconteceram a grande maioria dos est-
gios supervisionados naquele perodo. Atravs dos rela-
1
No curso de Histria da UNIVALE o estgio supervisionado acontecia nos seus trs ltimos perodos, obedecendo carga horria
definida por lei de 400 horas. A disciplina de estgio supervisionado no quinto e stimo perodos era cumprida em estabelecimentos
de ensino da rede pblica e particular do municpio, onde os alunos, pela observao da prtica no primeiro momento, e pela
observao e regncia na etapa final do curso buscam a aplicao dos conceitos e teorias trabalhados ao longo de sua formao
acadmi ca.
132 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 133-142 1 sem. 2009
tos dos alunos estagirios, foi possvel perceber prticas
que podemos entender como tradicionais
2
e que ainda
permanecem na prtica do ensino de histria. Aqui
podemos inferir que essas prticas podem ser rela-
cionadas s concepes tambm tradicionais ainda
presentes entre os alunos do ensino mdio, concepes
essas identificadas na pesquisa do mestrado. Por con-
cepo tradicional da histria entendemos, como Reis,
aquela que
(...) seria produzida por um sujeito que se neutraliza
enquanto sujeito para fazer aparecer seu objeto. Ele
evitar a construo de hipteses, procurar manter a
neutralidade axiolgica e epistemolgica, isto , no
julgar e no problematizar o real. Os fatos falam por
si e o que pensa o historiador a seu respeito irrelevante.
Os fatos existem objetivamente, em si, brutos, e no
poderiam ser recortados e construdos, mas apanhados
em sua integridade, para atingir a sua verdade objetiva,
isto , eles devero aparecer tais como so. Passivo,
o sujeito se deixa possuir pelo seu objeto, sem constru-
lo ou selecion-lo
3
.
A discusso proposta, portanto, ir permear os se-
guintes pontos: em que medida conceitos como museu,
patrimnio e memria aparecem nas respostas dos jo-
vens pesquisados, relacionados s concepes de histria
que eles declaram? Qual o papel do espao escolar na
educao patrimonial? Ou ainda, qual o papel da edu-
cao patrimonial na educao escolar? Como perce-
bemos essas mudanas/permanncias nos relatos dos
estagirios?
Governador Valadares: lugar de
construo do conhecimento histrico
A pesquisa O Jovem e o ensino de Histria: A com-
preenso do conceito de Histria por alunos do Ensino
Mdio, foi realizada dentro do Programa de Ps-gra-
duao em Educao, da Faculdade de Educao da
UFMG, entre abril e setembro de 2006. Teve por obje-
tivos identificar quais eram as concepes de Histria
dos jovens concluintes do Ensino Mdio e se existia uma
concepo predominante; se, dentre as concepes iden-
tificadas, era possvel estabelecer alguma relao com a
pesquisa histrica recente, com as novas concepes
sobre ensino de histria e com as novas abordagens
historiogrficas; se era possvel identificar outras influ-
ncias na construo dessas concepes ou relacion-
las com as diretrizes oficiais estabelecidas para o ensino
de Histria; e por fim identificar que concepo de His-
tria esses jovens declaravam ter.
Participaram da pesquisa 170 jovens, de ambos os
sexos, alunos do terceiro ano do Ensino Mdio. Tinham
idade entre 15 e 29 anos e estavam distribudos em cinco
escolas, das redes pblica (56%) e particular (44%) de
ensino de Governador Valadares. Alm deles, partici-
param do processo as orientadoras das respectivas
escolas, atravs de entrevistas.
Os dados foram coletados atravs de questionrio
(aplicado aos 170 jovens) e entrevistas com 10 deles,
sendo esses selecionados dentre os demais e com as
coordenadoras das escolas que compuseram a amostra.
O questionrio era composto de 36 questes, sendo que
destas 8 buscaram identificar a concepo que o
respondente tinha sobre histria, sua relao com a
histria no espao escolar e na sociedade.
Ao final da pesquisa foi possvel perceber, no que diz
respeito ao tema proposto, que possvel identificar a
ausncia quase que completa de referncias a museus,
patrimnio histrico ou memria, articulados com as
concepes declaradas pelos alunos.
, entretanto, importante destacar que entre os textos
oficiais, projetos polticos pedaggicos e em artigos
acadmicos encontramos com frequencia a afirmao
de que o ensino de histria dever contribuir para que o
aluno perceba o seu lugar na construo dos espaos
sociais; para que o aluno se veja como promotor da
histria e assuma um papel ativo na sociedade que o
cerca; que o ensino da histria deve fazer com que a
idia de cidadania se fortalea na nossa sociedade.
Nessa perspectiva, os Parmetros Curriculares
Nacionais apresentam como um dos objetivos gerais da
histria a valorizao do patrimnio sociocultural, atra-
vs do que o aluno ir, entre outras coisas, desenvolver
a noo de cidadania, ampliar sua noo do outro,
aprender a respeitar as diferenas culturais e tnicas.
O documento oficial ainda recomenda a diversi-
ficao do trabalho em sala de aula atravs do uso do
documento, visita a museus e outros locais que
2
Por prticas tradicionais entendemos aquelas que excluem o aluno do processo de aprendizagem, centradas na figura do professor,
sem a possibilidade de problematizao do tema estudado por parte do aluno.
133 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 133-142 1 sem. 2009
favoream a construo do conhecimento histrico, o
debate entre os pares, enfim, criar condies para que a
discusso histrica se estabelea e a partir dela, a
construo de uma concepo de Histria mais pro-
blematizadora.
Alm de essas orientaes indicarem uma aborda-
gem conceitual mais relacionada historiografia con-
tempornea, elas pressupem tambm metodologias e
critrios de avaliao que integrem o aluno ao processo
de construo dos conceitos historiogrficos e histricos.
Essa perspectiva metodolgica possibilitaria a insero
do aluno nos processos histricos a partir da prpria sala
de aula, colaborando assim, para a elaborao de uma
concepo de histria na qual o aluno se veja sujeito dos
processos que o rodeiam.
Todavia, ao analisarmos os dados obtidos na pesquisa,
percebemos que concepes tradicionais da histria so
freqentes entre os alunos participantes da amostra. A
idia da histria como verdade, como resposta para os
problemas do presente ainda forte entre os alunos
sujeitos da pesquisa. Quando perguntados sobre que idia
lhes vem mente quando se fala da histria, so
recorrentes citaes a heris, datas comemorativas,
guerras ou figuras clssicas dos textos didticos, como
Cristvo Colombo ou Getlio Vargas. A histria ainda
vista por boa parte dos respondentes como muito
chata ou algo que os remete a coisa velha, passado sem
utilidade, pessoas ou fatos importantes. Ao final da
pesquisa ainda foi possvel perceber, no que diz respeito
ao tema proposto, que possvel identificar a ausncia
quase que completa de referncias a museus, patrimnio
histrico ou memria, articulados com as concepes
declaradas pelos alunos.
A pouca ou quase nenhuma referncia a museus
ou patrimnio histrico durante a pesquisa nos induz a
fazer um reconhecimento desse lugar o municpio de
Governador Valadares.
A ausncia da evocao, pelos estudantes, desses
lugares de memria da cidade (como os museus, por
exemplo) como espaos de aprendizagem da histria pode
ser relacionada ausncia de polticas pblicas de
valorizao do patrimnio cultural. Apesar de o decreto
4646, de 02//8/99, estabelecer uma poltica para a
preservao do patrimnio no municpio de Governador
Valadares, as aes objetivas nesse sentido ainda so
precrias e carecem de sistematizao. Segundo dados
obtidos junto ao Museu da Cidade a visitao ao local
teve um incremento nos ltimos dois anos, na seguinte
proporo:
2004 2736 visitantes
2005 5637
2006 4725 at 28/06/06
Segundo informaes da gerente do museu, a
visitao aumentou nos anos de 2005 e 2006, com
destaque para crianas na faixa etria de 06 a 12 anos.
Cabe ressaltar que a histria da cidade estudada
prioritariamente nos anos iniciais do ensino funda-
mental, o que em parte explica a presena majoritria
desse pblico. O museu tem buscado estabelecer parce-
ria com as escolas pblicas atravs do agendamento de
visitas e da organizao de eventos que tem por objetivo
atender demanda das escolas.
No que diz respeito pesquisa, temos aqui um des-
taque a fazer. Uma das questes pedia ao respondente
que indicasse o que ele gostaria de ter estudado nas aulas
de histria que nunca foi ensinado. Em trs das cinco
escolas houve alunos que indicaram o desejo de estudar
a histria da cidade. Os jovens que compem a amostra
no tiveram acesso ao museu como espao de apren-
dizagem da histria ao longo da sua escolarizao bsica,
at por que esse espao no era constitudo
4
.
importante ressaltar que Governador Valadares
tem uma histria recente (o municpio completou 70
anos de sua emancipao em trinta de janeiro de 2008)
e peculiar. Essa histria tentaremos resumir a seguir.
De Figueira a Valadares: de coronis a coiotes, a
busca pelo eldorado
Governador Valadares localiza-se no vale do Rio
Doce, regio leste do estado de Minas Gerais, no
entroncamento das rodovias federais BR-116, BR-381 e
BR-259. A ao integradora iniciada no perodo colonial
possibilitou a incorporao definitiva dessa parte do
territrio aos domnios portugueses. A ocupao se
estabeleceu lentamente desde o sculo XIX, mas somente
no incio do sculo XX se concretizou de maneira
3
REIS, Jos Carlos. A Histria: entre a filosofia e a cincia. 2. Edio. So Paulo: tica, 1999, p.13.
4
O Museu da cidade se localiza no centro da cidade, em imvel alugado, que em nada lembra a histria local. Nas trs ltimas
administraes mudou de endereo vrias vezes, sendo que o acervo esteve por vrios meses confinado em espaos inadequados, o
que causou, inclusive, a sua deteriorao por pragas, fungos e umidade. No h previso de mudana para um local definitivo.
134 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 133-142 1 sem. 2009
substancial. Segundo Maria Elisa Linhares Borges, a
vila de Porto de Figueira do Rio Doce, que em 1822 no
era mais que um amontoado de casas, em 1938 passava
a cidade sob a denominao de Governador Valadares
em homenagem ao ento Interventor Federal em Minas
Gerais, Benedito Ribeiro Valadares
5
.
Em 1937, o distrito de Figueira foi desmembrado de
Peanha, atravs do Decreto-Lei 32, de dezembro de
1937. O Decreto-lei 148, de 17 de dezembro de 1938, entre
outras providncias alterou a denominao do municpio
recm-criado de Figueira para Governador Valadares.
A extrao e o comrcio da madeira, favorecidos pela
instalao de usinas siderrgicas na regio
6
abriram
caminho para a criao do gado de corte. Paralelamente
praticava-se a agricultura de subsistncia e eram
cultivados caf, fumo, algodo, arroz, milho, feijo. A
cana-de-acar foi cultivada por um curto espao de
tempo, enquanto esteve em atividade a Companhia
Aucareira Rio Doce CARDO, de 1948 a 1978.
Ao longo de todo esse processo, a migrao foi
favorecida com a possibilidade de enriquecimento,
fazendo de Governador Valadares o destino de pessoas
das mais diversas regies do pas, em busca de riqueza e
prosperidade
7
. Durante o perodo em que ocorreu a
Segunda Guerra Mundial, a extrao da mica tornou-se
uma das atividades mais importantes do municpio, que
recebeu apoio financeiro dos Estados Unidos, pas que
comprava a maior parte da produo, principalmente
para uso na fabricao de equipamentos eletro-
eletrnicos utilizados no conflito. Com o fim da guerra e
o surgimento de novas tecnologias, a mica perde seu
valor comercial e a sua explorao se extinguiu na
regio.
De um acordo firmado com os EUA derivou a ins-
talao do SESP Servio Especial de Sade Pblica que
possibilitou a implantao de servios de tratamento de
gua e coleta de esgoto, com o objetivo de reduzir a
incidncia de malria e febre amarela, abundantes na
regio. As muitas lagoas existentes no municpio favo-
reciam a proliferao do mosquito transmissor das
doenas o que gerava prejuzos economia local
8
.
As dcadas de 1940 e 1950 apresentaram considervel
crescimento populacional. A explorao da mica e o
comrcio da madeira principalmente, impulsionaram a
ocupao do municpio que registrou um crescimento
populacional da ordem de 7% a.a no perodo
9
. A cons-
truo da rodovia Rio-Bahia (BR 116) favoreceu ainda
mais a condio de plo regional, contribuindo para o
crescimento da cidade, especialmente do comrcio e a
pecuria.
Nas dcadas seguintes, contudo, o cenrio econmico
da regio comeou a indicar outros contornos. A
substituio do carvo vegetal nas usinas siderrgicas;
o esgotamento da mata e o desgaste do solo pelo manejo
inadequado na pecuria se traduziram em perdas
econmicas para o municpio.
A agropecuria que substituiu a floresta apresentou
nos anos 1980 queda na produtividade, em funo do
manejo inadequado, e o municpio se ressentiu, ento,
da crise que assolava todo o pas. Concomitante a esse
cenrio de ascenso e decadncia econmica a marca
do pioneirismo inculcada na histria da cidade. Aqueles
que chegaram ao incio dos anos 1930 e 1940 ficaram
conhecidos como os desbravadores que fizeram a
cidade, tornando o passado anterior a esse perodo
esquecido historicamente.
Os embates travados nos anos que se seguiram
emancipao do municpio em funo da posse da terra
tiveram seu pice no momento que ocorre o movimento
que resultou no golpe militar de 1964, quando se instalou
o regime militar no Brasil. A extrao da madeira im-
plicou em expulso dos pequenos proprietrios da terra
que, alijados de seu trabalho, se viram com poucas
alternativas de sobrevivncia. Borges chama a esse
5
BORGES, Maria Eliza Linhares. Representaes do universo rural e luta pela reforma agrria no Leste de Minas Gerais. Rev. Bras.
Hist., 2004, vol.24, no.47, p.303-326. Disponvel em http://www.scielo.br, acesso em 27/04/07, p.307.
6
A Companhia Siderrgica Belgo-Mineira, inaugurada em Joo Monlevade no ano de 1937. (http://www.belgomineira.com.br/
grupo/hist1.htm); a Companhia Vale do Rio Doce se instala em Itabira em 1942 (www.cvrd.com.br); a Companhia de Aos
Especiais Itabira Acesita, em Timteo em 1944 (www.acesita.com.br), e por ltimo a USIMINAS, em Ipatinga, em 1956 (www.
usiminas. com. br).
7
SOARES, Weber. Singularidades da migrao interna de Valadares e de Ipatinga 1930/1991. Anais do XI Seminrio sobre a
Economia Mineira: Economia, Histria, Demografia e Polticas Pblicas. Diamantina, 2004. Disponvel em: http://www.cedeplar.
ufmg.br/diamantina2004/textos/D04A027.PDF, acesso em 27/01/07, p.3.
8
Disponvel em http://www.coc.fiocruz.br/areas/dad/guia_acervo/arq_pessoal/fundo_sesp.htm
9
SOARES, Weber. Singularidades da migrao interna de Valadares e de Ipatinga 1930/1991. XI SEMINRIO SOBRE A ECONOMIA
MINEIRA: Economia, Histria, Demografia e Polticas Pblicas. Anais do XI Seminrio sobre a Economia Mineira: Economia,
Histria, Demografia e Polticas Pblicas. Diamantina, 2004. Disponvel em: http://www.cedeplar.ufmg.br/diamantina2004/
textos/D04A027.PDF, acesso em 27/01/07, p.6.
135 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 133-142 1 sem. 2009
modelo de ocupao de casamento entre latifndio e
indstria, chancelado pelo Estado
10
.
As idias do ento presidente Joo Goulart de reforma
agrria, no bojo das reformas de base propostas no
momento que antecede o golpe militar, repercutiam na
regio como aes comunistas que objetivavam desa-
propriar as fazendas em favor dos camponeses. A orga-
nizao sindical dos pequenos e ex-proprietrios gerou
tenses que culminaram em mortes e conflitos antes
mesmo da deflagrao do golpe, em maro de 1964
11
.
A forma de apropriao da terra por expulso ou
morte, ou ainda pela falsificao de documentos era
comum e colaborou para que a cidade ficasse conhecida
como terra de coronis, onde tudo se resolvia pela fora.
As aes empreendidas na busca de acordo entre o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Associao
Rural
12
eram entendidas como um desagravo. A situao
entendida por Borges como sendo uma herana de
uma tradio autoritria e excludente que via na
ateno do poder pblico s questes dos trabalhadores
rurais uma ofensa
13
.
Com a recesso dos anos 1980 acentuou-se a ques-
to da imigrao, outra marca da cidade. A relao
estabelecida com os Estados Unidos no perodo da
Segunda Guerra Mundial, em funo da explorao da
mica deixou uma imagem de eldorado sobre o pas norte-
americano. Segundo Siqueira, estima-se que em 1997,
6,7% da populao tenham deixado a cidade em direo
ao exterior, principalmente com destino aos EUA
14
. A
expectativa de enriquecimento em solo norte-americano
atraa (e ainda atrai) aqueles que j no alimentavam
mais expectativas em relao s possibilidades de
trabalho apresentadas pela cidade a maior parte nas
atividades do setor tercirio da economia.
Sueli Siqueira
15
em sua tese de doutoramento registra
que da amostra consultada em sua pesquisa a forma de
ingresso de grande parte com visto de turista (52%),
mas boa parte chega a solo norte-americano por vias
clandestinas, principalmente pelo Mxico, intermediados
pelos coiotes
16
. So na sua maioria casados, com idade
entre 31 e 40 anos a maior parte, mas um percentual
significativo entre 20 e 30 anos (26%). As mulheres
representam 51,1% dos entrevistados e os homens 48,9%.
nesse cenrio que a maioria dos jovens entre-
vistados nasceu e se criou. Dos jovens que participaram
da amostra, 62% sempre viveu em Governador Va-
ladares; outros 8% esto na cidade h mais de 11 anos,
tendo, portanto, cursado toda a escolarizao bsica no
municpio.
As relaes sociais, econmicas e de poder esta-
belecidas quando da ocupao do espao onde o mu-
nicpio se estabeleceu, principalmente ao longo do s-
culo XX, so ainda comuns na cidade. A mdia local,
concentrada atualmente nas mos de um nico em-
presrio, privilegia pessoas, empresas, instituies, sem
a iseno (possvel) necessria a esse segmento. As
instituies locais (Cmara de Dirigentes Lojistas, Asso-
ciao Comercial, Fiemg, entre outras) alternam a dire-
o entre os mesmos nomes, o que em alguns casos se
estende aos descendentes, como numa dinastia.
17
nesse cenrio que esses jovens nasceram, cresce-
ram, estudaram, criaram relaes e vivenciaram a polti-
ca local. A histria que se ensina na escola no est, pro-
vavelmente, deslocada do cenrio no qual ela se insere.
Buscamos, portanto, a compreenso dos processos
histricos que se desenvolveram na regio por acreditar
que essa compreenso pode nos auxiliar na identificao
das concepes assumidas pelos jovens concluintes do
ensino mdio, sujeitos da pesquisa e as relaes dessas
concepes com a memria e o patrimnio histrico.
10
BORGES, Maria Eliza Linhares. Representaes do universo rural e luta pela reforma agrria no Leste de Minas Gerais. Rev. Bras.
Hist., 2004, vol.24, no.47, p.303-326. Disponvel em http://www.scielo.br, acesso em 27/04/07, p.309.
11
Ibidem, p.305.
12
Entidade que congregava os proprietrios de terras na regio.
13
BORGES, Maria Eliza Linhares. Representaes do universo rural e luta pela reforma agrria no Leste de Minas Gerais. Rev. Bras.
Hist., 2004, vol.24, no.47, p.303-326. Disponvel em http://www.scielo.br, acesso em 27/04/07, p.319.
14
SIQUEIRA, Sueli. Emigrantes na microrregio de Governador Valadares nos EUA: projeto de retorno e investimento. In: XV
ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS: Desafios e oportunidades do crescimento zero. 2006, Caxambu-MG.
Disponvel em
http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_353.pdf, acesso em 29/01/07, p.4.
15
Ibidem, p.8.
16
Nome dado ao individuo encarregado de recepcionar o emigrante na fronteira do Mxico com os EUA e orient-lo na travessia. Nem
sempre o trato cumprido e muitas vezes o imigrante abandonado prpria sorte, sendo preso pela polcia norte-americana ou
morrendo na travessia.
17
O site da Associao Comercial de Governador Valadares, ao relacionar a composio da primeira diretoria do rgo, faz o seguinte
destaque diante do nome do ento presidente: Tio-av do ex-presidente. O ex-presidente o atual 2. Vice-presidente.
(www.acgv.com.br, acesso em 28/01/07).
136 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 133-142 1 sem. 2009
A Histria ensinada: formao e prtica do
professor e seus reflexos na construo das
concepes dos alunos
As atuais condies de trabalho dos professores, mais
especialmente dos professores da rede pblica tm se
deteriorado ao longo das ltimas dcadas. Consequen-
temente, a qualidade do ensino pblico caiu de forma
escandalosa, gerando um fosso social de tamanho
considervel, j que a maior parte dos alunos que buscam
a rede pblica proveniente das camadas sociais mais
baixas.
No caso especfico do ensino mdio, percebe-se um
agravamento dessa situao, considerando no se tratar
de prioridade para os governos. Segundo o artigo 4. da
Lei 9394/96, dever do estado garantir o ensino
fundamental, gratuito, sendo que aos estados membros
da federao cabe oferecer o ensino mdio. Todavia,
apesar de ressaltar-se no artigo 10 que os Estados
devero assegurar o ensino fundamental e oferecer, com
prioridade, o ensino mdio, a universalizao prevista a
partir da aprovao do FUNDEB, em dezembro de 2007
ainda no teve seus efeitos percebidos, obviamente por
tratar-se de medida recente, que no contempla o tempo
da pesquisa.
As discrepncias que caracterizam a sociedade bra-
sileira como uma das mais desiguais do mundo tm seu
reflexo na educao. Em publicao do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio
Teixeira encontramos a afirmao de que a conhecida
metfora do funil do sistema educacional de a cada
ano adicional de estudo excluir maior nmero de jovens
oriundos das famlias mais pobres se estreita de forma
muito significativa no momento de ingresso no curso
superior
18
.
Dentro da lgica atual que rege as foras produti-
vas, o trabalho docente no se furta s mesmas impli-
caes impostas a qualquer outro posto de trabalho. Ao
longo do processo de redemocratizao do pas foram
empreendidos processos de reivindicao de melhores
salrios e melhores condies de trabalho pelos pro-
fessores, diante do intenso processo de inchamento da
categoria, o rebaixamento de seus salrios, a deteriora-
o das condies de trabalho, enfim, de proletarizao
crescente
19
.
Dentre as pesquisas que tm por objeto o trabalho
docente, destacamos a anlise feita por Maria Helena
Oliveira G. Augusto, sobre a rede estadual de Minas
Gerais. A autora parte do plano proposto pelo atual go-
vernador do Estado, Acio Neves, conhecido como
Choque de Gesto. A partir da proposta de adequao
dos gastos pblicos ao oramento do estado, a escola deve
planejar suas atividades pedaggicas de forma a atender
aos impositivos oramentrios. Dentro dessa perspectiva
de reduo dos gastos pblicos interfere diretamente nas
condies de trabalho docente, no h horas destinadas
a planejamento ou estudo, no h tempo destinado aos
alunos com dificuldade de aprendizagem, alm dos
contrrios temporrios que resultam numa alternncia
que prejudica o processo ensino-aprendizagem, na
medida em que h soluo de continuidade nas atividades
desenvolvidas com os alunos
20
.
Alm disso, de acordo com notcia divulgada no site
do Inep, os alunos submetidos ao ENEM declaram que
as condies de infra-estrutura das escolas pblicas no
atendem s necessidades do processo ensino-apren-
dizagem. Os dados coletados apontam que
71% dos alunos afirmam que [nas escolas pblicas]
as condies dos laboratrios variam de Insuficiente a
Regular; dos da rede privada, 34% qualificam esse item
de Regular a Bom e outros 34%, de Bom a Excelente.
Apesar disso, cerca de um tero dos estudantes da rede
privada declararam que as condies dos laboratrios
esto na classificao Insuficiente a Regular.
21
A experincia que tivemos com alunos estagirios no
curso de Histria da UNIALE nos mostrou que a rea-
lidade no municpio de Governador Valadares se apro-
xima do contexto geral do pas.
18
INEP. Qualidade da Educao: uma nova leitura do desempenho dos estudantes da 3 srie do Ensino Mdio. Braslia, janeiro de
2004, p.16.
19
HORTA, Rosilene. Luta na Escola: da gesto democrtica organizao no local de trabalho. Belo Horizonte: Edio da autora,
1996, p.55.
20
A autora define como condies de trabalho jornadas de trabalho, formas de avaliao de desempenho, horrios de trabalho,
procedimentos didtico-pedaggicos, admisso e administrao das carreiras docentes, condies materiais-relao salrio e tempo
de trabalho. AUGUSTO, Maria Helena Oliveira Gonalves. As reformas educacionais e o Choque de Gesto: a precarizao do
trabalho docente. 28. REUNIO DA ANPED, 2005, Caxambu, MG, p.9, disponvel em http://www.anped.org.br, acesso em
novembro/05.
21
http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/enem/news03_13.htm, acesso em 13/03/09.
137 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 133-142 1 sem. 2009
H casos de escolas da rede pblica estadual que
foram instaladas provisoriamente em espaos inade-
quados e se encontram nesses espaos por mais de dez
anos. Banheiros sem condies de uso, escolas em
distritos onde no h abastecimento regular de gua nem
saneamento bsico; escolas na zona rural onde o acesso
fica restrito quando no suspenso em poca de
chuva; falta de espaos definidos para biblioteca, sala de
vdeo ou laboratrio de informtica. Em outras escolas
o equipamento existe, mas faltam cadeiras, e, portanto,
o ambiente no utilizado. H ainda aquelas em que h
todo o equipamento e mobilirio, mas no h tcnicos
nem os professores receberam formao adequada,
portanto no h o devido aproveitamento do recurso.
A situao assusta os futuros professores, que em
muitas ocasies so orientados pelos professores que os
recebem para acompanhamento de estgio, a buscar
outra profisso. So inmeros os casos de alunos que
retornam da experincia na escola com essa reco-
mendao.
O municpio de Governador Valadares plo numa
regio de ndices sociais dos mais baixos do estado. O
acesso aos distritos e municpios vizinhos em muitos
casos se d por via no asfaltada o que inviabiliza o
trnsito em perodos de chuva. Muitos dos professores
que atendem essas reas so professores no habilitados
que no conseguem colocao nas escolas da sede do
municpio e se dirigem a essas localidades que so
preteridas pelos profissionais habilitados. Alm disso, pa-
ra aqueles que j possuem habilitao, a formao
continuada fica na dependncia do deslocamento at
Governador Valadares, o que traz mais dificuldade ao
processo, ou da ida de formadores at as comunidades,
o que mais raro.
Numa escola da regio central do municpio, um
aluno estagirio foi orientado a assistir as aulas do turno
vespertino, quando as aulas eram mais direitinhas. Ou
seja, noite no havia aulas. Mais tarde ele pode perceber
que o professor do turno noturno apenas passava
exerccios no quadro, sem nem ao menos corrigi-los; era
condescendente com as notas, pois acreditava estar
ajudando os alunos, trabalhadores e com dificuldades
de compreenso.
Em muitos casos, os alunos do ensino mdio so
atendidos como necessitados e tratados como sujeitos que
precisam ser empurrados para fora da escola. So comuns
os relatos que descrevem os alunos como incapazes,
rebeldes, desmotivados, carentes do apoio da escola e do
professor para vencer esta etapa da vida. Muitas so
as declaraes em que o professor supe estar sendo til
ao aluno no trabalhando os contedos e conceitos
necessrios, no propondo atividades problematizadoras,
no estimulando os alunos a adquirir novas habilidades.
So raros aqueles que tratam de prticas que escapam
aos moldes tradicionais, da cpia e do questionrio. Em
geral, os relatos dos estagirios trazem a observao do
sentimento de tdio dos alunos do ensino fundamental e
mdio com relao disciplina e o desnimo do professor
da educao bsica com relao profisso. So poucos
os recursos de que dispem escolas, professores e alunos,
exceo daqueles que esto nas escolas particulares.
Ainda assim, nem sempre a presena desses elementos
altera o quadro observado.
Sabemos das condies em que se desenvolvem o
ensino de histria nas escolas da rede pblica. As difi-
culdades no se restringem histria, mas percebemos
nas experincias trazidas pelos estagirios a importncia
de contedos como matemtica e lngua portuguesa em
detrimento de outros, como histria ou geografia. Sa-
bemos tambm da ausncia de recursos que possibilitem
outras prticas em sala de aula (ou fora dela) alm da
simples exposio oral do tema. H casos em que o aluno
no dispe nem mesmo do livro didtico, como no ensino
mdio
22
, por exemplo, e em algumas situaes, no ensino
fundamental. No raro encontramos alunos que no
recebem o livro didtico seja por que a quantidade
no foi suficiente para todos, seja por que o pai/respon-
svel no compareceu escola para receber o material.
Outra situao que se repete diz respeito s condies
de infra-estrutura das escolas. Em geral so equipadas
com aparelhos de TV e vdeo e mais recentemente, com
aparelhos de DVD. Todavia, comum esses equipa-
mentos dividirem espao com a biblioteca, ou perma-
necerem trancados por falta de lugar adequado para sua
utilizao. Essas condies adversas so um obstculo
ao trabalho do professor.
Nas escolas particulares a realidade um pouco
diferente. No universo das escolas que compem a
amostra da pesquisa, trs escolas compem a rede
particular de ensino. Duas adotam livro didtico e uma
22
A distribuio gratuita de livro didtico de histria para alunos do ensino mdio comeou a ser feita a partir de 2007. Os alunos que
compuseram a amostra no tiveram acesso a esse material, considerando que concluram o Ensino Mdio em dezembro de 2006.
138 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 133-142 1 sem. 2009
terceira adota apostila em parceria com uma grande rede
de ensino. As condies de trabalho nesses estabele-
cimentos so bem satisfatrias, sendo que os professores,
apesar de se ressentirem das questes que acometem
todos os trabalhadores achatamento salarial, carga
de trabalho excessiva, salas de aula com at 47 alunos
tm acesso a materiais e equipamentos que enri-
quecem as aulas, laboratrios, treinamentos e bibliotecas
relativamente bem equipadas. Foi possvel observar,
entretanto, que essa distino do ponto de vista material
no garante uma prtica diferenciada por parte dos
professores.
Ensino de Histria e Patrimnio Histrico:
novos espaos, novas possibilidades
Durante a pesquisa desenvolvida no mestrado, as
entrevistas realizadas com as coordenadoras dessas
escolas revelaram que as prticas ditas tradicionais ainda
permanecem e que a resistncia do professor em rever
seus mtodos e procedimentos claramente percebida.
Segundo elas, envolver o aluno como sujeito ativo do
processo de construo do conhecimento histrico requer
um comprometimento que muitas vezes o professor no
quer assumir.
Reportando-nos ao questionrio aplicado aos jovens
que compuseram a amostra da pesquisa encontramos a
pergunta quando voc pensa em histria qual idia ou
imagem lhe vem cabea?. Em apenas uma das cinco
escolas houve referncia a museu, por um aluno. Ao
serem indagados sobre a relao com a histria fora do
espao escolar, 44% respondeu nenhuma. Dos 56%
restantes, a maioria indicou a informao atravs de
jornais, TV, filmes e documentrios e apenas 3 alunos
indicaram ter relao com a histria fora do espao
escolar atravs de visita a museus (2) e viagem a lugares
histricos.
Esses dados nos fazem pensar sobre o papel do ensino
de histria na formao do jovem cidado. provvel
que o matiz captado pela pesquisa guarde relaes com
a histria da cidade. ainda possvel que as prticas
pouco problematizadoras no os levem a considerar a
memria como elemento de construo do conheci-
mento histrico. Podemos ainda inferir que a ausncia
de espaos mantidos pelo poder pblico que evoquem a
memria do lugar dificulte o estabelecimento de relao
entre histria-memria-patrimnio histrico.
Alm disso, sabemos que a discusso sobre pa-
trimnio, memria e museu uma discusso recente,
que certamente no foi contemplada nos cursos de
formao de professores concludos antes de 2000.
As condies descritas at aqui nos permitem uma
indagao: como inserir, portanto, nas prticas escolares
as noes de patrimnio, museu e memria que possam
ampliar as percepes que os alunos tm dos processos
histricos?
O conceito de patrimnio, segundo Franoise Choay,
sofreu (e sofre) alteraes ao longo do tempo. Segundo
a autora, patrimnio histrico seria
um bem destinado ao usufruto de uma comunidade
que se ampliou a dimenses planetrias, constituido
pela acumulao continua de uma diversidade de
objetos que se congregam por seu passado comum:
obras e obras-primas das belas artes e das artes apli-
cadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e
savoir-faire dos seres humanos.
23
A autora fala do culto ao patrimnio, referindo-se
ao destaque que dado s questes que envolvem a
herana histrica de uma sociedade. Segundo a autora,
a importncia do patrimnio est naquilo que ele
representa, sua relao com a memria, como algo que
traz de volta algo importante que tenha sido vivido por
aquele grupo, ou no.
A sociedade estabelece relaes com os espaos e com
as coisas, valorizando e esquecendo, destruindo ou
construindo segundo os interesses dos seus membros,
oficiais ou no. Ao recontar a histria, so descartadas
algumas situaes e assimiladas outras e a cultura
material tambm passa por essa seleo.
Ainda nesse sentido, admitimos que a memria seja
fruto de uma construo, da a necessidade de lugares
de memria como os museus, por exemplo. Em vista
disto, a apropriao desses espaos na construo do
conhecimento histrico vem possibilitar uma ampliao
das concepes tradicionais de histria. Ao aproximar o
aluno da cultura material, temos a oportunidade de
trabalhar as permanncias e rupturas temporais,
ampliando a noo de tempo, abrindo a possibilidade
23
CHOAY, Franoise. A Alegoria do Patrimnio. So Paulo: Editora UNESP, 2001, p.11.
139 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 133-142 1 sem. 2009
para a compreenso da histria como construo
humana.
Em que medida, portanto, trabalhar os conceitos
patrimnio, memria e museu seria til construo de
uma outra concepo de histria, mais coerente com as
discusses mais recentes da historiografia e com as
propostas oficiais?
A idia de educao patrimonial para o nvel mdio
de ensino sugerida pelo Governo de Minas Gerais, em
documento que registra pesquisa sobre o assunto vem
colaborar com essa discusso. Atravs de projetos que
tenham por objetivo capacitar tcnicos e docentes do
sistema de ensino para a utilizao de conceitos e me-
todologias adequadas
24
, seria possvel desenvolver
habilidades em alunos e professores e promover uma
ampliao na compreenso da histria e na percepo
do aluno/professor/comunidade do seu papel como
agente da histria.
A proposta de educao patrimonial parte do prin-
cipio de que a educao das relaes sociais para a
compreenso da histria passa pela compreenso de
prticas culturais e da valorizao da diversidade cul-
tural. A pesquisa citada acima, realizada pela Funda-
o Joo Pinheiro, identifica a necessidade de quali-
ficao docente para tratar do assunto e tambm de
adequao do espao escolar atravs de materiais e infra-
estrutura.
possvel perceber o movimento que atualmente se
esboa no sentido de incorporar a educao patrimonial
como espao privilegiado de construo de conhe-
cimento. Para Mrio Chagas,
(...) a educao uma prtica scio-cultural. Nesse
sentido que se pode falar no carter indissocivel da
educao e da cultura ou ainda na inseparabilidade
entre educao e patrimnio. No h hiptese de se
pensar e de se praticar a educao fora do campo do
patrimnio ou pelo menos de um determinado enten-
dimento de patrimnio. Por esse prisma, a expresso
educao patrimonial constituiria redundncia, seria
o mesmo que se falar em educao educacional o
educao cultural. No entanto, no se pode negar que
a referida expresso tenha cado no gosto popular.
Resta, neste caso, compreender os seus usos e os seus
significados.
25
O autor destaca a importncia do olhar critico e da
problematizao desse espao, que s construdo e
constitudo a partir de desejos e conjunturas que lhe so
prprias. A problematizao do patrimnio indis-
pensvel se pretendemos uma educao que transcen-
da os usos formais desses espaos.
importante ressaltar ainda que, quando nos de-
paramos com a ausncia de referncia a museus, pa-
trimnio e memria em nossa pesquisa, somos levados
a supor que prticas que privilegiam a repetio, a cpia
do livro didtico, a ausncia de projetos que levem o aluno
a compartilhar dos espaos que a cidade para a com-
preenso da histria colaboram com este estado de coisas.
O distanciamento do aluno desses espaos pode fazer
com que sua concepo de histria seja reduzida a uma
perspectiva tradicional, onde a reflexo e a crtica no
tm espao.
A proposta de educao patrimonial vem, portanto,
abrir espao para prticas que possibilitem a aproxima-
o do jovem com outras formas de representao da
histria, muitas vezes construdas e re-significadas pelos
sujeitos que delas se apropriam, dando outra interpre-
tao para a histria j construda. Perceber na prtica
que a histria reescrita a partir dos usos dos espaos e
das coisas abre ao aluno a possibilidade de compreen-
der a histria como interpretao e no como dado.
Assim, percebemos que discusso estabelecida aqui
vem se somar a outras vozes que buscam uma reor-
denao do ensino de Histria e suas relaes com a
sociedade. Perceber a importncia da relao de crianas
e jovens estudantes com o patrimnio local e cultivar
essa relao deve ser parte do compromisso do professor,
pois, como afirma Le Goff,
Sempre coube histria desempenhar um papel so-
cial, no mais amplo sentido; e em nossa poca, em que
esse papel mais do que nunca necessrio, a histria
nova, se lhes forem proporcionados os meios de pesqui-
sa, de ensino (em todos os nveis escolares) e de difuso de
que necessita, est em condies de desempenh-lo.
26
24
MINAS GERAIS. Fundao Joo Pinheiro, Centro de Estudos Histricos e Culturais. Pesquisa educao patrimonial: subsdios para
elaborao de proposta educativa. Cadernos do CEUC. Srie Cultura, n. 2, Belo Horizonte, 2001, p.8.
25
CHAGAS, Mrio. Educao, Museu e Patrimnio: tenso, devorao e adjetivao. Patrimnio: Revista Eletrnica do Iphan, n 3,
jan./fev. de 2006, p. Disponvel em http://www.revista.iphan.gov.br/secao.php?id=1&ds=17, acesso em 13/03/09, p.4.
140 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 133-142 1 sem. 2009
Referncias
AUGUSTO, Maria Helena Oliveira Gonalves. As reformas
educacionais e o Choque de Gesto: a precarizao do
trabalho docente. 28. Reunio da ANPEd, 2005, Caxam-
bu, MG, p.1-16, disponvel em http://www.anped.org.br,
acessado em novembro/05.
BORGES, Maria Eliza Linhares. Representaes do universo
rural e luta pela reforma agrria no Leste de Minas Gerais.
Rev. Bras. Hist., 2004, vol.24, no.47, p.303-326. Disponvel
em http://www.scielo.br, acesso em 27/04/07
BRASIL. Ministrio da Educao e do Desporto. Secretaria
de Ensino Fundamental. Parmetros Curriculares Nacio-
nais. Histria e Geografia. Braslia: MEC/SEF, 2001.
CHAGAS, Mrio. Educao, Museu e Patrimnio: tenso,
devorao e adjetivao. Patrimnio: Revista Eletrnica do
Iphan, n 3, jan./fev. 2006. Disponvel em http://www.
revista.iphan.gov.br/secao.php?id=1&ds=17, acesso em
27/02/08, p.1-7.
CHOAY, Franoise. A Alegoria do Patrimnio. So Paulo:
Editora UNESP, 2001.
HORTA, Rosilene. Luta na Escola: da gesto democrtica
organizao no local de trabalho. Belo Horizonte: Edio da
autora, 1996.
INEP. Qualidade da Educao: uma nova leitura do desem-
penho dos estudantes da 3 srie do Ensino Mdio. Braslia,
janeiro de 2004.
LE GOFF, Jacques. A histria nova. In: LE GOFF, Jacques
(org.). A histria nova. 4. Edio. So Paulo: Martins Fon-
tes, 2001, p.25-64.
MINAS GERAIS. Fundao Joo Pinheiro, Centro de Estudos
Histricos e Culturais. Pesquisa educao patrimonial:
subsdios para elaborao de proposta educativa. Cadernos
do CEUC. Srie Cultura, n. 2, Belo Horizonte, 2001.
REIS, Jos Carlos. A Histria: entre a filosofia e a cincia. 2.
Edio. So Paulo: tica, 1999.
SIQUEIRA, Sueli. Emigrantes na microrregio de Governa-
dor Valadares nos EUA: projeto de retorno e investimento. In:
XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais: desafios e
oportunidades do crescimento zero. 2006, Caxambu-MG.
Disponvel em: http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro
2006/docspdf/ABEP2006_353.pdf, acesso em 29/01/07.
SOARES, Weber. Emigrantes e investidores: redefinindo a
dinmica imobiliria na economia valadarense. Dissertao
(Mestrado em Planejamento urbano e regional) IPPUR,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1995, 195p.
SOARES, Weber. Singularidades da migrao interna de
Valadares e de Ipatinga 1930/1991. XI Seminrio sobre a
Economia Mineira: Economia, Histria, Demografia e Polt-
icas Pblicas. Anais do XI Seminrio sobre a Economia
Mineira: Economia, Histria, Demografia e Polticas Pblicas.
Diamantina, 2004. Disponvel em: http://www.cedeplar.
ufmg.br/diamantina2004/textos/D04A027.pdf, acesso em
27/01/07.
141 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 141-151 1 sem. 2009
Os ltimos anos foram marcados por alguns
produtivos e intensos debates envolvendo o ensino da
histria africana. Se por um lado, certo que a Lei 10639/
03 foi uma das foras dinmicas desse processo, defendo
tambm que o aumento das investigaes e do nmero
de especialistas em Histria da frica no Brasil responda
por parcela significativa das atividades e investigaes
ocorridas ou em execuo.
Como resultado desse casamento de fatores,
percebemos uma positiva tendncia de criao de
polticas e de prticas acerca da temtica, entre as quais,
podemos citar: a publicao de artigos, livros,
dissertaes e teses frutos das pesquisas desenvolvidas
pelos africanistas brasileiros e de estudos clssicos da
Leituras sobre a frica Contempornea:
representaes e abordagens do continente africano
nos livros didticos de Histria*
Anderson Oliva
Professor de Histria da frica. Universidade do Recncavo da Bahia UFRB
E-mail: oliva@unb.br
Resumo
O tratamento concedido a histria da frica
Contempornea nos livros didticos de 5 a 8 srie o
objeto principal do presente artigo. O enfoque eleito e as
questes levantadas articulam-se em torno de uma
reflexo central: o quanto os textos, imagens e
interpretaes apresentadas pelos livros escolares
divergem ou convergem em relao ao chamado
imaginrio brasileiro construdo sobre a frica e os
africanos. Observamos a existncia de uma anlise
superficial das trajetrias recentes dos pases e sociedades
africanas e uma repetio das representaes e
esteretipos divulgados sobre o continente.
Palavras-chave: Histria da frica Contempornea.
Livros Didticos. Representaes.
Abstract
The treatment given to history of Contemporary Africa in
textbooks of 5 th to 8 th grade is the main subject of this
article. The focus elected and the issues raised are
articulated around a central consideration: how the texts,
images and interpretations made by school books diverge
or converge in relation to the so-called imaginary
Brazilian built on Africa and the Africans. As a general
framework it is a superficial analysis of the recent
trajectories of the countries in African societies in a repeat
of representations and stereotypes disclosed on the
continent.
Keywords: History of Contemporary Africa. Textbooks.
Representations.
historiografia africanista internacional , servindo que
matria-prima de alta qualidade para referenciar as
atividades de ensino; a oferta, cada vez mais freqente,
de Cursos de Extenso, Capacitao de Professores e
Especializao com temticas voltadas trajetria
histrica das sociedades africanas; a ampliao do
nmero de cursos de graduao em Histria que
oferecem, em suas matrizes curriculares, componentes
com o foco principal na histria da frica; a criao de
espaos para o debate, divulgao de experincias e para
produo de conhecimento, articulando professores
universitrios e da educao bsica, especialistas,
estudantes, integrantes dos movimentos sociais
organizados e demais interessados
1
.
* Este trabalho recebeu apoio financeiro da Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior (Capes).
1
Acerca da temtica, ver o seguinte artigo: OLIVA, Anderson Ribeiro. A histria africana nos cursos de formao de professores:
panorama, perspectivas e experincias. Estudos Afro-Asiticos, v. 28, nmeros 1/2/3, Rio de Janeiro, 2006, p. 187-219.
142 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 141-151 1 sem. 2009
Apesar desse quadro, que revela certo otimismo
quando pensamos a questo do tratamento da histria
africana nas salas de aula, outro importante ingrediente
das prticas docentes e do sistema educacional brasileiro
parece resistir s mudanas: os livros didticos. No
ignoramos a densa historiografia que se constituiu em
torno do campo do ensino da histria do Brasil nos
ltimos vinte anos e a ateno dedicada por dezenas de
autores s reflexes, anlises e crticas sobre o uso desse
material em nossos bancos escolares
2
. Infelizmente, no
poderemos realizar aqui uma sntese desses trabalhos.
Porm, apesar das polmicas e pontuais intervenes
acerca do tema, parece existir um consenso de que, para
o mal ou para o bem, os manuais escolares contam com
um espao cada vez mais cativo nos exerccios desen-
volvidos em nossas experincias escolares.
Sendo assim, as abordagens acerca dos estudos
africanos, presentes ou ausentes nas colees de livros
didticos de Histria, aparecem como ingredientes
chaves na composio, transformao e manuteno das
referncias e imagens que o pblico escolar constri sobre
aquele continente e suas sociedades. Partindo desses
elementos expliquemos nossas intenes ao abordar o
tratamento concedido histria contempornea da
frica nos livros didticos.
Atentando para a construo das representaes e
imagens sobre os africanos no imaginrio
3
contem-
porneo da populao brasileira percebemos um
conjunto mais ou menos homogneo de idias
compartilhadas. A partir dos anos 1980, o ruir dos sonhos
africanos de reconstruo, crescimento e organizao
ps-ocupao colonial diante das prprias dinmicas
internas do continente e do seu no-lugar na economia
mundial do final do sculo XX comearam a ocupar
um lugar substantivo nos cenrios mentais formulados
sobre aquele continente
4
. Neste mesmo perodo os meios
de comunicao social comearam a ser bombardeados
por imagens dos flagelos africanos, principalmente dos
conflitos, da misria e das epidemias. As ondas de fome
na Etipia na dcada de 80, a longa guerra civil angolana,
os golpes de Estado sucessivos em algumas partes do
continente, o fim do apartheid, as epidemia de Aids e
malria, o descontrole governamental, a desorganiza-
o geral, a corrupo, os massacres de Serra Leoa e os
genocdios em Ruanda e no Sudo, ganharam
freqentemente destaque nas pginas de jornais e
revistas, nas telas da televiso e nas produes
cinematogrficas. A partir desse contexto seria
interessante perguntarmos que imagens os brasileiros
contemporneos geram e carregam sobre a frica e suas
populaes. De acordo o historiador Valdemir
Zamparoni, as respostas possveis a essa questo no
destoam muito uma das outras:
(...) extica, terra selvagem, como selvagem so os
animais e pessoas que nela habitam: miserveis,
desumanos, que se destroem em sucessivas guerras
fratricidas, seres irracionais em meio aos quais assolam
doenas devastadoras. Enfim, desumana.
5
Essas parecem ser as mais fortes imagens acerca da
frica circulantes no imaginrio coletivo brasileiro do
tempo presente. A elas se associam toda a carga negativa
da escravido, do racismo e do desconhecimento da
Histria de frica que carregamos ao longo do sculo
XX.
Partindo do princpio que existe uma importante
influncia do ensino da histria na construo de
2
VILLALTA, Luiz Carlos. O livro didtico de histria no Brasil: perspectivas de abordagem. In: Ps-Histria, (Unesp), (9), Assis,
2001, pp. 39-59; BITTENCOURT, Circe. Livros Didticos entre Textos e Imagens. In: _____. O Saber Histrico na Sala de Aula. So
Paulo: Contexto, 1997, p. 69-90; MACEDO, Jos Rivair. Histria e livro didtico: o ponto de vista do autor. In: GUAZZELLO, Cezar
Augusto Barcellos, et al. Questes de Teoria e Metodologia da Histria. Porto Alegre: EDUFRG, 2000, p. 289-301; MUNAKATA,
Kazumi. Histria que os Livros Didticos contam, depois que acabou a Ditadura no Brasil. In: FREITAS Marcos Cezar (org.).
Historiografia brasileira em perspectiva. So Paulo, Contexto, 2001, p. 271-298.
3
O debate acerca dos sentidos e usos do conceito de imaginrio extenso e extremamente rico. No entanto, em poucos casos encontramos
uma definio, ao mesmo tempo to sinttica e envolvente, como a apresentada pela historiadora Sandra Jatahy Pesavento.
Segundo Pesavento o imaginrio faz parte de um campo de representao e, como expresso do pensamento, se manifesta por
imagens e discursos que pretendem dar uma definio da realidade. Mas imagens e discursos sobre o real no so exatamente o real
ou, em outras palavras, no so expresses literais da realidade, como um fiel espelho. () Enquanto representao do real, o
imaginrio sempre referncia a um outro ausente. O imaginrio enuncia, se reporta e evoca outra coisa no explcita e no
presente, (In: Em busca de uma outra histria: imaginando o imaginrio. In: Revista Brasileira de Histria, vol. 15, n 29, So
Paulo, 1995, p. 15).
4
MUNANGA, Kabengele. frica: trinta anos de processo de independncia. Revista da USP, n 18, So Paulo, fevereiro-agosto de
1993, p. 102; e MOURO, Fernando Augusto Albuquerque. frica: fatores internos e externos da crise. In: Revista da USP, v. 18,
So Paulo, 1993, p. 60-69.
5
ZAMPARONI, Valdemir. A frica, os africanos e a identidade brasileira. In: PANTOJA, Selma e ROCHA, Maria Jos (orgs.).
Rompendo Silncios: Histria da frica nos currculos da educao bsica. Braslia: DP Comunicaes, 2004, p. 40.
143 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 141-151 1 sem. 2009
interpretaes e representaes dos alunos acerca dos
seus cotidianos e das diversas realidades que os cercam,
buscamos analisar como a histria da frica, do perodo
que se estende do ltimo quartel do sculo XIX at os
dias atuais, foi tratada em alguns livros didticos de
histria. Entendendo a extenso da proposta apre-
sentada, reservamos nossos olhares s pginas de dez
livros didticos
6
, produzidos entre 1999 e 2002, e des-
tinados a 6, 7 e 8 sries do Ensino Fundamental.
Acreditamos ser extremamente valioso realizar a
anlise aqui proposta, buscando avaliar as possveis
impregnaes e participaes dos manuais didticos
especificamente sobre o objeto levantado nas cons-
trues ou desconstrues mentais elaboradas pelos
nossos estudantes sobre a frica. Como estratgia de
dilogo com os autores dos manuais, que dever servir
tambm como uma tentativa de orientar nossos leitores
docentes (quando for o caso), procuraremos a cada ponto
ou reflexo realizados, apontar algumas referncias de
leitura ou consultas historiografia especializada na
histria africana.
A abordagem da Histria da frica
Contempornea nos livros didticos
Antes de iniciarmos nossas incurses pelas pginas
dos manuais escolares selecionados permitam-me prestar
alguns breves esclarecimentos. Os resultados aqui
apresentados fazem parte da investigao que resultou
em minha tese de doutorado, defendida junto ao
Programa de Ps-Graduao em Histria da Uni-
versidade de Braslia
7
. Na realidade, o percurso seguido
por aquele texto foi mais extenso e multifocal, envol-
vendo uma longa discusso entre a construo das
representaes sobre os africanos no imaginrio
ocidental, principalmente nos ltimos duzentos anos, e
o tratamento concedido Histria da frica nos livros
didticos no Brasil e em Portugal, produzidos entre 1990
e 2005.
Para sistematizao de nossas anlises, classificamos
os assuntos enfocados sobre a histria africana dentro
de trs recortes temtico-cronolgicos, divididos por sua
vez em tpicos, nos quais, associamos as vises dos
autores dos manuais acerca de determinados contedos
aos referenciais formulados por parte da historiografia
africanista. Os recortes escolhidos foram os seguintes:
Abordagens da frica at o sculo VII; O estudo da
histria da frica entre os sculos VII e XVIII; O
estudo da histria da frica entre os sculos XIX e XXI.
A seleo dos livros analisados nesses tpicos pro-
curou seguir um critrio de coeso: a escolha dos vo-
lumes pertencentes apenas s colees de manuais
didticos de Histria, destinados ao ensino de 5 a 8
sries, que possuam captulos ou tpicos exclusivos para
o tratamento da Histria Africana.
No presente artigo iremos trabalhar com o ltimo
dos tpicos listados acima, a partir da anlise de dez (10)
livros, pertencentes a sete (7) colees diferentes. Como
j adiantamos, todos eles organizados tanto pelo
formato de Histria Integrada como pelo de Histria
Temtica
8
envolviam recortes cronolgicos que
abarcavam o final do sculo XIX ou o sculo XX. No
mais, como um ltimo elemento explicativo, nos vimos
estimulados a incluir na anlise, para o perodo
correspondente histria contempornea da frica, dois
volumes da coleo
9
. que recebeu as melhores avaliaes
do Guia de Livros Didticos organizado pelo MEC
10
at
2002, sendo recomendado com distino. Dessa forma,
ele tambm se tornou um dos manuais mais solicitados
e utilizados pelos professores em diversas escolas
brasileiras
11
.
Concluda essa sinttica digresso sobre as origens
do presente artigo sinalizamos que, as anlises do
tratamento concedido histria contempornea da fri-
ca nos manuais escolares selecionados perseguiram,
fundamentalmente, a abordagem de quatro objetos:
A abordagem dos processos de resistncia dos
africanos ocupao colonial do sculo XIX;
6
Os livros esto listados nas referncias bibliogrficas.
7
Ver: Autor, 2007.
8
De uma forma geral poderamos assim definir esses recortes: Histria Integrada os volumes da coleo abordam as histrias do
Brasil e Geral de forma articulada temporalmente, numa seqncia cronolgica que relaciona as histrias de vrias civilizaes,
sociedades ou contextos histricos contemporneos entre si; Histria Temtica livros com os assuntos organizados por temas
especficos, seguindo um vis temporal ou temtico.
9
Ver: PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. Histria e Vida Integrada. So Paulo: tica, 2002.
10
Ver os Guias de avaliao dos livros didticos elaborados pelo MEC: MINISTRIO DA EDUCAO. Guia dos livros didticos: 5 a 8
sries. Braslia: MEC; Programa Nacional do Livro Didtico, 1999 e MEC: MINISTRIO DA EDUCAO. Guia dos livros didticos: 5
a 8 sries. Braslia: MEC; Programa Nacional do Livro Didtico, 2002.
11
CASSIANO, Clia Cristina de Figueiredo. Aspectos polticos e econmicos da circulao do livro didtico de Histria e suas implicaes
curriculares. In: Histria, 23, 1-2, So Paulo, 2004, p. 41.
144 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 141-151 1 sem. 2009
O tratamento concedido s Independncias em
frica do sculo XX;
O estudo das temticas contemporneas comu-
mente associadas ao continente: Apartheid; Subde-
senvolvimento; Guerras e Massacres; Tragdias e
Doenas;
As imagens veiculadas sobre a histria contem-
pornea da frica.
Realizada a leitura desses objetos tencionamos no
final do artigo estabelecer algumas reflexes acerca das
relaes entre a forma como a frica aparece retratada
nesses manuais e no imaginrio brasileiro.
A abordagem dos processos de resistncia
dos africanos ocupao colonial europia
A eleio desse primeiro tpico associa-se ne-
cessidade de visualizarmos o tratamento concedido a um
dos momentos mais marcantes da histria contem-
pornea africana. Consultando a historiografia afri-
canista acerca do perodo, parece existir um consenso
de que uma srie de imagens negativas e preconceituosas
foi gerada sobre a frica nesse recorte temporal
primitivos, selvagens, tribais, atrasados, preguiosos
12
.
E, mais do que isso, formatou-se uma equivocada idia
geral de que os africanos sucumbiram passivamente
ocupao europia, por serem incapazes de opor re-
sistncia efetiva s aes colonialistas. Somando-se a
isso, a conquista ou partilha da frica, confirmaria de
forma pragmtica, pela mesma tica eurocntrica, as
teorias que justificavam e legitimavam a ao colo-
nizadora de alguns pases europeus no continente
13
.
Dessa forma, enfocar o assunto nos manuais esco-
lares um instrumento importante a ser utilizado para
revelar as estratgias de resistncia militar, religiosa,
poltica, cultural, laboral, imaginria e os movimentos
e dinmicas histricas do perodo, que contaram com
intensa participao das sociedades africanas. Explicitar
o papel desempenhado pelos africanos em meio aos
interesses e intervenes estrangeiras revelaria aos
estudantes e docentes uma outra face do citado contexto
histrico
14
e auxiliaria a desconstruir as idias equi-
vocadas formuladas anteriormente.
Um primeiro aspecto observado foi de ordem
quantitativa. Ou seja, identificamos os manuais que
enfocavam ou no a questo. Os resultados obtidos no
foram to negativos, apesar de serem ainda insuficientes.
Dos dez manuais, quatro citavam ou tratavam o assunto.
Alguns o fizeram de forma bastante superficial, outros
procuraram destacar algumas de suas faces diversi-
ficadas, demonstrando estar em sintonia com a histo-
riografia recente produzida sobre a temtica. Porm, a
maioria, apresentava informaes e abordagens pouco
consistentes, alm de um reduzido espao para tra-
tamento.
No manual de Mrio Schmidt, Nova Histria Crtica,
7 srie, percebemos que o autor concedeu a questo
uma perspectiva marcada por denncias e argumentos
tendenciosos e, em alguns aspectos, equivocados.
Podemos perguntar: o que os povos africanos
fizeram diante dessa situao? Ora, resistiram he-
roicamente. Infelizmente, no entanto, seus escudos e
lanas no eram preo para os fuzis, as metralhadoras
e os canhes europeus. A histria do domnio colonial
foi tambm a histria das brutalidades cometidas pe-
los colonizadores. Os soldados europeus invadiam as
aldeias africanas e incendiavam as casas com os
moradores l dentro mesmo, metralhavam tribos
inteiras, torturavam e at amputavam membros dos
nativos.
15
No caso desse manual, os problemas se encontram
na classificao das aes histricas apresentadas em
uma escala maniquesta , nas imprecises e gene-
ralizaes acerca das estratgias e instrumentos adota-
dos pelos africanos na resistncia aos europeus, e nas
ferramentas de controle e dominao empregadas no
12
Acerca da questo, ver os seguintes trabalhos: HENRIQUES, Isabel Castro. Os pilares da diferena: relaes Portugal-frica,
sculos XV-XIX. Lisboa: Caleidoscpio, 2004; ZAMPARONI, Valdemir. De escravo a cozinheiro: colonialismo e racismo em
Moambique. Salvador: Edufba, 2007.
13
Sobre o tema ver: HERNANDEZ, Leila Leite. Os movimentos de resistncia na frica. In: Revista de Histria, USP, n 141, So
Paulo, 1999, p. 142.
14
Acerca do assunto, ver: UZOIGWE, Godfrey N. Partilha europia e conquista da frica: apanhado geral. In: BOAHEN, A. Adu.
(org). Histria Geral da frica VII. So Paulo: tica; Unesco, 1991, pp. 43-67; RANGER, Terence. Iniciativas e resistncias
africanas em face da partilha e da conquista. In: BOAHEN, A. Adu. (org). Histria Geral da frica VII. So Paulo: tica; Unesco,
1991, pp. 59-86; MBOKOLO, Elikia. frica central: o tempo dos massacres. In: FERRO, Marc (org.). O livro negro do colonialismo.
Rio de Janeiro: Ediouro, 2004, p. 502-521.
15
SCHMIDT, Mario. Nova Histria Crtica. 7 srie. So Paulo: Nova Gerao, 2002, p. 237.
145 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 141-151 1 sem. 2009
continente africano
16
. As aes consideradas violentas e
os atos de resistncia no podem ser tomados como
homogneos. preciso que se conceda a eles suas
especificidades. Ao mesmo tempo, conhecido o uso de
armas de fogo por vrios focos de luta intentados pelos
africanos. A idia transmitida pelo autor, pelo contr-
rio, defende a idia de que os tribais povos africanos
resistiram heroicamente agresso dos avanados
exrcitos europeus.
J no livro intitulado, Uma Histria em Construo,
volume 4, os autores destacam que a dominao s foi
possvel devido superioridade militar europia, apre-
sentando argumentos que parecem estar mais ajusta-
dos historiografia sobre o tema
17
.
As metralhadoras a Maxim e a Gatling foram
decisivas para a conquista militar, porque os africanos
ofereceram ampla resistncia aos invasores. Lutas
anticoloniais ocorreram em Bilundu, Angola, Maji-Maji,
Serra Leoa, Congo, Uganda e Qunia. S aps sufocar
revoltas no Egito em 1876 e em 1882, e no Sudo em
1898, que os britnicos puderam garantir sua supre-
macia no norte da frica (...). S no Sudo mais de 20
mil pessoas morreram em combate.
18
No livro de Joelza Ester Rodrigue, Histria em
Documento: texto e imagem, 8, que aborda a questo
em um tpico com duas pginas (uma s com imagens),
a nfase sobre os movimentos de resistncia destaca
alguns dos conflitos que marcaram os anos iniciais do
processo de ocupao colonial em frica, como os
ocorridos em Serra Leoa, Zimbbue, Angola, Nambia,
Tanznia, Costa do Marfim, Gana e o nome de alguns
dos lderes africanos, como Gungunhana. Tambm
percebemos a perspectiva de denncia ou crtica ao
europia, marcada, de acordo com a autora, pela
opresso.
(...) tratados com violncia, os africanos eram
massacrados pelas modernas armas europias. Na
primeira dcada do sculo XX, a conquista estava
praticamente concluda e a frica dividida em cerca de
quarenta unidades polticas (...). Outra forma de
resistncia foram os movimentos religiosos. Muul-
manos, seguidores de cultos africanos e de religies afro-
crists chegaram a pegar em armas contra os co-
lonizadores.
19
Em outro manual, intitulado O jogo da Histria, os
autores destacam o papel dos missionrios e exploradores
europeus na ao de reconhecimento e ocupao do
continente africano
20
. A abordagem dos movimentos de
resistncia tambm se recobre de uma perspectiva
dicotmica, porm os autores utilizam o antagonismo
entre brancos x negros, ao invs da frmula, explo-
radores x explorados, apresentada nos outros manuais,
quando afirmam que os povos africanos resistiram,
fazendo guerra ao branco durante todo o perodo co-
lonial. (...) cada povo, a sua maneira, resistiu do-
minao branca
21
.
Acerca dos impactos e conseqncias do colonialismo
para as sociedades africanas encontramos em seis dos
dez livros uma perspectiva muito parecida
22
. Neste caso,
a maioria dos textos est de acordo com as correntes de
historiadores que apontavam para o domnio colonial
europeu, associado ao trfico de escravos e ao racismo,
como o principal responsvel pela situao de crise
vivenciada atualmente em vrias partes do continente
23
.
No entanto, uma nova onda de estudos e inter-
pretaes tem varrido a historiografia africanista bus-
cando uma viso mais equilibrada sobre o tema. Essas
novas interpretaes no eximem os europeus da
responsabilidade histrica pelas aes em curso na fri-
ca entre os sculos XIX e XX, mas deixa de ver os afri-
canos apenas como vtimas da histria. Sendo assim,
16
Sobre uma crtica mais elaborada acerca deste manual ver, OLIVA, Anderson Ribeiro. A Histria da frica nos Bancos Escolares:
representaes e imprecises na literatura didtica. In: Revista Estudos Afro-Asiticos, ano 25, n 3, Rio de Janeiro, set./dez. 2003,
p. 421-462.
17
Sobre o tema ver os seguintes trabalhos: RANGER, Terence. Op. cit., pp. 69-86; e HERNANDEZ, Leila Leite. Os movimentos de
resistncia na frica. In: Revista de Histria, USP, n 141, So Paulo, 1999, p. 141-149.
18
MACEDO, Jos Rivair; OLIVEIRA, Mariley W. Uma histria em construo, vol. 3. So Paulo: Editora do Brasil, 1999, p. 127.
19
RODRIGUE, Joelza ster. Histria em Documento: Imagem e Texto, 8. So Paulo: FTD, 2000.
20
CAMPOS, Flavio de, et. al. O jogo da Histria: de Corpo na Amrica e de Alma na frica. So Paulo: Moderna, 2002, p. 173-175.
21
Ibid., p. 189.
22
Ver, alm dos manuais citados, os seguintes textos: MONTELLATO, Andrea; CABRINI, Conceio e CATELLI, Roberto. Histria
Temtica: O Mundo dos Cidados, 8 srie. So Paulo: Scipione, 2000, p. 106; BONIFAZI, Elio; DELLAMONICA, Umberto. Descobrindo
a Histria: Idade Moderna e Contempornea, 8. So Paulo: tica, 2002, p. 212.
23
Ver: BOAHEN, A. Adu. O colonialismo na frica: impacto e significao. In: Histria Geral da frica VII. So Paulo: tica; Unesco,
1991, pp. 787-811; e MBEMBE, Achille. As formas africanas de auto-inscrio. In: Revista Estudos Afro-Asiticos, ano 23, n 1, Rio
de Janeiro, 2001, p. 171-209.
146 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 141-151 1 sem. 2009
muitos historiadores tm chamado a ateno para as
prprias responsabilidades africanas sobre suas atuais
condies, seja pelas perspectivas das responsabilidades,
seja pelas iniciativas a serem tomadas para solucionar
os problemas vivenciados
24
. No manual temtico inti-
tulado, O jogo da Histria, 6 srie, os autores associam
diretamente o quadro de problemas vivenciado atual-
mente na frica tanto ao trfico de escravos como ao
neocolonialismo do sculo XIX.
No passado, Mama frica foi explorada, recortada,
colonizada. Hoje lembrada nos noticirios da tev por
suas tristezas. O corao das riquezas dos europeus no
sculo XIX transformou-se no corao da pobreza dos
dias de hoje. O espetculo de horrores, que comeou a
ser encenado a partir do sculo XV, teve seu apogeu do
sculo XIX. E deixou sua herana.
25
J o texto de Mrio Schmidt, Nova Histria Crtica,
7 srie, lista pontualmente os supostos efeitos causados
pelo processo de ocupao europia na frica, como a
fome e os conflitos entre os africanos que teriam sido
provocados pela inveno das fronteiras no continente
a partir da partilha europia
26
. Sua leitura tambm est
equivocada sobre o papel da Conferncia de Berlim na
diviso da frica, j que a mesma retratada como o
local no qual teria ocorrido literalmente o fatiamento
do continente, inclusive com reproduo da falsa imagem
de que, os representantes das potncias imperialistas que
se lanavam corrida colonial, teriam ali redesenhado
o mapa do continente.
Em 1885, reuniram-se na cidade de Berlim quatorze
naes europias, mais os Estados Unidos, para
decidirem o futuro da frica. Os homens srios e ele-
gantes debateram a par ti l ha da fr i ca. A discusso
era neste nvel: Qual pas europeu ficar com este
territrio? E aquela outra regio, de quem ser? Para
que lugar ns transferimos essa aldeia? O mais
interessante que nenhuma nao africana pde enviar
um representante reunio. Na Confer nci a de
Ber l i m, (...) eles fatiaram a frica como se fosse um
enorme presunto e jamais consultaram seus habi-
tantes.
27
Os outros manuais
28
trabalham com uma idia
prxima a essa, pelo menos no que concerne ao papel da
Conferncia na partilha da frica. Tal leitura revela ou
demonstra que os autores desconhecem ou discordam
das novas interpretaes formuladas pela historiografia
africanista sobre o tema. Sabemos que existe um
interessante debate na historiografia africanista acerca
da questo das fronteiras no continente. Esse debate se
estabeleceu tanto em torno da questo conceitual ou dos
significados atribudos s fronteiras pelas sociedades
africanas no perodo anterior ocupao colonial, como,
tambm, sobre os mecanismos utilizados e os efeitos
gerados pela implantao das divisas no perodo colonial.
Da mesma forma, parece ser consenso hoje que, a Con-
ferncia de Berlim, desempenhou uma funo menos
direta e decisiva acerca da partilha africana, pelo menos
ao que se refere imagem divulgada dos representantes
das potncias imperialistas fatiando o mapa da frica
com esquadros e rguas, o que de fato no aconteceu
29
.
O nico material que demonstra uma aproximao
com os novos estudos realizados acerca da temtica o
de Flvio de Campos, Ldia Aguilar, Regina Claro e
Renan Garcia Miranda, O jogo da Histria, 6 srie. Pelo
menos os argumentos apresentados pelos autores se
aproximam bastante das idias defendidas pelo
historiador nigeriano Godfrey Uzoigwe
30
, de que na
Conferncia no foram estabelecidas as fronteiras
africanas, mas sim as regras para que a ocupao do
continente pudesse ocorrer
31
.
24
Ver o seguinte trabalho: LOPES, Carlos. Enough is Enough! For an alternative diagnosis of the African crisis. In: frica, USP, 18-19,
1, So Paulo, 1995-1996, p. 69-101.
25
CAMPOS, Flavio de, et. al. Op. cit., p. 181.
26
SCHMIDT, Mario. Op. cit., p. 237.
27
Ibid., p. 238.
28
Ver MACEDO, Jos Rivair; OLIVEIRA, Mariley W. op. cit., p. 126; BONIFAZI, Elio; DELLAMONICA, Umberto. Descobrindo a
Histria: Idade Moderna e Contempornea, 8. So Paulo: tica, 2002, p. 213; e PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. Histria e Vida
Integrada, 7 srie. So Paulo: tica, 2002, p. 177.
29
Sobre o tema ver: HENRIQUES, Isabel Castro. Territrio e Identidade: o desmantelamento da terra africana e a construo da
Angola Colonial (1872-1926). Lisboa: FLUL, 2003. Mmeo; e DPCKE, Wolfgang. A vinda longa das linhas retas: cinco mitos sobre
as fronteiras na frica Negra. In: Revista Brasileira de Poltica Internacional, 42 (1), Braslia, 1999, p. 78-81; 93-101.
30
UZOIGWE, Godfrey N. op. cit., pp. 52-53.
31
Para percepo diferenciada ver o trabalho do historiador Wolfgang Dpcke, citado anteriormente.
147 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 141-151 1 sem. 2009
Nessa conferncia foram feitos acordos de
distribuio de territrios e estabelecidas as regras de
ocupao para as naes europias. Ou seja, cada pas
europeu tinha de ocupar de fato um territrio para
reivindic-lo como seu e avisar aos outros inte-
ressados.
32
No manual de Nelson Piletti e Claudino Piletti,
Histria & Vida Integrada, 7 srie, encontramos tam-
bm uma abordagem parecida s anteriores, responsa-
bilizando, mesmo que parcialmente, a diviso continen-
tal em fronteiras arbitrrias no perodo colonial, pelos
vrios conflitos ocorridos nas ltimas dcadas.
A partilha da frica foi feita de maneira arbitrria,
sem respeitar as caractersticas tnicas e culturais de
cada povo. Em parte, isso tem contribudo para muitos
dos conflitos da atualidade no continente africano.
33
Um outro objeto adequadamente abordado em al-
guns manuais a citao do papel das ideologias colo-
niais e das teses racistas para o desempenho das aes
colonialistas desenvolvidas pelos europeus na frica. O
trabalho reflexivo com essas idias permite aos leitores
o reconhecimento e a desconstruo histrica de alguns
comportamentos e prticas formuladas ao longo dos
ltimos sculos e que se tornaram ingredientes centrais
na relao entre europeus e africanos no decorrer do
perodo colonial na frica. De alguma forma elas ainda
podem ser encontradas, com novas roupagens, em meio
s relaes sociais cotidianas no pas, na Europa e na
frica, como o racismo e a discriminao. o caso, do
livro de Mrio Schmidt, que apresenta aos seus leitores
a idia de que trs grandes postulados alimentaram, em
termos tericos ou cientficos, a ao colonial no con-
tinente africano: estamos falando do etnocentrismo, do
racismo e do darwinismo social
34
.
Argumentos parecidos podem ser encontrados
tambm no manual Elio Bonifazi e Umberto Dellamo-
nica, Descobrindo a Histria, 8 srie, que destaca que
um dos alicerces ideolgicos do imperialismo baseou-se
nas teses racistas da superioridade do homem europeu
perante o africano.
Grande parte das populaes dos pases ricos
compartilhava ainda o preconceito da superioridade
sobre os outros povos. Era opinio comum entre a
populao dos pases industrializados que os povos
dominados constituam-se em raas inferiores, por
natureza incapazes de utilizar seus prprios recursos
naturais; e que eles, povos superiores, tinham o direito
e o dever de explor-los em benefcio de toda a huma-
nidade.
35
Percebemos dessa forma que, o tratamento
concedido ao Imperialismo e as suas conseqncias,
mesmo que apresentando aspectos adequados e em
sintonia com parte da historiografia africanista, apre-
senta no quadro geral uma condio ainda insatisfat-
ria para o exerccio de reconstruo das imagens que
circulam sobre a frica e os africanos.
A falncia de um mundo:
a frica das ltimas dcadas
Em relao ao tratamento do perodo que se estende
das independncias africanas aos dias atuais vamos
encontrar um quadro de imagens e idias nada favorvel
a uma reviso crtica e equilibrada das referncias
imagticas que circulam sobre a frica no imaginrio
brasileiro.
No caso da anlise desse tpico procuramos, ini-
cialmente, enfocar o espao concedido aos processos que
levaram desconstruo do sistema colonial no con-
tinente buscando perceber se a nfase recaiu sobre os
movimentos africanos de independncia ou se o papel
de protagonista foi transferido para as potncias euro-
pias. J sobre o recorte temporal que, se estende do final
do processo das independncias africanas e chega aos
nossos dias, intentamos identificar quais foram as
notcias e imagens mais veiculadas pelos manuais e
organiz-las em algumas categorias mais abrangentes,
acerca dos eventos mais abordados.
De uma forma geral, encontramos nos livros di-
dticos uma concentrao convergente dos assuntos
enfocados. Tal aproximao temtica nos permitiu a
construo de categorias nas quais os contedos
32
CAMPOS, Flavio de, et. al. Op. cit., p. 174.
33
PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. Histria e Vida Integrada. 7 srie. So Paulo: tica, 2002, p. 185.
34
SCHMIDT, Mario. Nova Histria Crtica. 7 srie. So Paulo: Nova Gerao, 2002, p. 242.
35
BONIFAZI, Elio; DELLAMONICA, Umberto. Descobrindo a Histria: Idade Moderna e Contempornea, 8. So Paulo: tica, 2002,
p. 213.
148 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 141-151 1 sem. 2009
apresentados pelos textos analisados poderiam ser
classificados. Dos dez livros elencados para o estudo, nove
trabalhavam a questo do apartheid, sete noticiavam as
guerras civis, conflitos intertnicos e massacres (geno-
cdios) ocorridos pelo continente, cinco apresentavam a
frica aos leitores como um continente de misrias e
fome e outros trs destacavam tambm as epidemias e
doenas que se alastravam por vrios pases da regio.
Grfico 1
Parece-nos acertada a perspectiva de que os pro-
blemas enfrentados pelo continente sejam alvos da
abordagem dos autores dos livros escolares. O incmodo,
ou o procedimento inadequado, est em reduzir o
enfoque concedido Histria da frica nas ltimas
dcadas a algumas referncias, como se elas sinte-
tizassem todas as realidades e caractersticas histricas
de seus pases. Os problemas existem e devem ser
noticiados, mas as sociedades africanas no se resumem
a eles, existem outras faces da histria africana que
poderiam ser abordados, conjuntamente aos grandes
dilemas que varrem o continente
36
. Mais do que isso, ao
apresentar aos leitores as grandes querelas e as tragdias
que ocorrem de tempos em tempos na frica seria preciso
um cuidado muito maior ao explicitar suas causas,
agentes participantes e especificidades
37
. Em termos
panormicos podemos afirmar que os manuais escolares
analisados, com algumas excees, acabam por reforar
algumas das mais recorrentes imagens presentes no
imaginrio coletivo brasileiro contemporneo sobre a
frica, confundindo o continente e suas populaes s
imagens acima citadas.
Acerca das independncias africanas vamos en-
contrar um equilbrio das anlises. A maioria dos ma-
nuais (60%) enfatiza dois elementos centrais como teses
explicativas sobre o processo que culminou com a li-
bertao dos pases africanos: os movimentos de luta
organizados pelos africanos e o contexto histrico
formado pela perda de poder poltico e econmico das
ex-potncias coloniais e pela nova ordem mundial do
ps-Segunda Guerra
38
.
O emprego de termos carregados de significados
explicativos tambm encontra uma distribuio eqi-
tativa. Em seis manuais o processo descrito como
Descolonizao, o que aproxima os eventos da esfera
de influncia europia, e, tambm em seis livros (em
cinco os termos so coincidentes), aparece o termo
independncias africanas, que aproxima o fenmeno
da esfera de influncia africana. Em alguns textos, como
no de Mrio Schmidt, Nova histria Crtica, 8 srie,
esses elementos so apresentados, de fato, como co-
participantes e em condio de igual importncia para a
libertao dos pases africanos
39
. Para o autor, a Europa
(...) no tinha condies de controlar suas colnias e
os povos coloniais, ento, souberam se aproveitar da
fraqueza europia naquele momento para conquistar sua
independncia
40
.
Em outros manuais, como no de Elio Bonifazi e Um-
berto Dellamonica, o destaque concedido apenas a um
dos fatores no caso, quase sempre a perda de poder
por parte dos pases europeus , apontado como mais
importante do que o outro
41
. J no livro de Nelson Piletti
e Claudino Piletti, Histria & Vida Integrada, 8 srie,
os autores delineiam justamente os trs aspectos acima
citados como um conjunto equilibrado de fatores cau-
sadores das independncias no continente:
(...) o enfraquecimento dos pases europeus devido
Segunda Guerra Mundial; a prpria luta de liberta-
36
FAGE, John D. Histria da frica. Lisboa: Edies 70, 1995, p. 513-551.
37
MBEMBE, Achille. Op. cit., p. 171-209.
38
FAGE, John D. Histria da frica. Lisboa: Edies 70, 1995, p. 481-512.
39
O mesmo ocorre no seguinte manual: MACEDO, Jos Rivair; OLIVEIRA, Mariley W. Uma histria em construo, vol. 4. So Paulo:
Editora do Brasil, 1999, p. 136.
40
SCHMIDT, Mario. Nova Histria Crtica. 8 srie. So Paulo: Nova Gerao, 2002, p. 185.
41
BONIFAZI, Elio; DELLAMONICA, Umberto. Descobrindo a Histria: Idade Moderna e Contempornea, 8. So Paulo: tica, 2002,
p. 368-369.
149 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 141-151 1 sem. 2009
o dos povos colonizados; e o interesse dos Estados
Unidos e da Unio Sovitica em expandir suas reas de
influncia.
42
O elemento temtico de maior recorrncia nos ma-
nuais sem sombra de dvidas o apartheid sul-africano
que, tambm um dos ingredientes mais freqentados
pelo imaginrio brasileiro contemporneo quando o
assunto a frica. Ele aparece em 90% dos livros
observados. De certa forma, consideramos a abordagem
do tema quase sempre acertado e adequado aos estu-
dantes do ensino fundamental, concedendo a eles um
instrumental mnimo para o entendido da situao vivida
durante o perodo de vigncia do regime racista naquele
pas.
Os negros no podiam ser proprietrios de terras e
eram obrigados a viver em bairros prprios, separados
dos brancos. No podiam votar e no podiam casar-se
com pessoas brancas. A esse regime dava-se o nome de
apartheid, que quer dizer separao.
43
O ltimo tpico enfocado, e um dos mais prximos
de algumas idias que circulam no senso comum sobre
o continente, refere-se descrio da atual situao dos
pases africanos. Neste caso, a perspectiva transmitida
pelos autores , com poucas excees, realizada sem
nenhum aporte crtico, transformando o contedo dos
textos em meras notcias de certas realidades ali viven-
ciadas, muitas vezes estigmatizadas. Novamente, aler-
tamos que o equvoco no se encontra em trabalhar o
tema, ele deve ser apresentado aos estudantes, pois
sinalizam para algumas de suas faces histricas contem-
porneas.
O problema est em sintetizar a histria africana a
ele, como se no houvesse outras realidades a retratar,
e, como se, as sociedades do continente s pudessem ser
visualizadas a partir dessas imagens. E, mais do que isso,
os assuntos enfocados no podem ser tratados sem suas
especificidades e ritmos prprios, pois quando isso ocorre,
a mensagem transmitida a de que em toda a frica os
eventos ocorrem da mesma forma. Em sete dos dez
manuais as guerras civis so mencionadas como uma
dessas faces atuais mais marcantes da frica; j em
cinco, ocorre a referncia sobre a situao de misria
vivenciada por milhes de africanos, e, por fim, em outros
trs, a associao feita com as doenas e epidemias.
No manual de Nelson e Claudino Piletti, a referncia
mais explcita s faces contemporneas da frica a
citao epidemia de Aids que ocorre em vrias partes
do continente. Segundo os autores a Aids um fen-
meno mundial. (...) Mas na frica, onde provavelmente
a doena se originou, que se constatam os casos mais
graves. Por fim, acrescentam que, naquele continente
vivem 70% dos portadores do HIV
44
.
No manual de Flvio de Campos, Ldia Aguilar,
Regina Claro e Renan Garcia Miranda, a idia apresen-
tada a de que no sculo XXI a frica marcada pela
misria, por guerras e epidemias. Com raras excees, a
situao (...) trgica
45
. Por fim, no livro de Elio Bona-
fazi e Umberto Dellamonica, alm de apresentar um
quadro dramtico, os autores, de forma bastante ade-
quada e no percebida em outros textos, sinalizam para
algumas perspectivas e caminhos alternativos para a
soluo dos grandes dilemas africanos.
A frica o continente mais pobre do planeta. Na
rea subsaariana se concentram as mais altas taxas de
mortalidade, as piores condies higinico-sanitrias
e as rendas mais baixas da Terra. Numerosas regies
do continente ainda so perturbadas por conflitos
tnicos, que determinam uma permanente instabili-
dade poltica. (...) O panorama pessimista do continen-
te africano, todavia, apresenta alguns elementos po-
sitivos. Por exemplo, a progressiva democratizao da
frica do Sul tem feito deste pas um ponto de referncia
para toda a rea meridional do continente. Um forte
crescimento dos investimentos provenientes dos mer-
cados financeiros mundiais est, ademais, alimentando
a economia de diversos Estados africanos.
46
42
PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. Histria e Vida Integrada. 8 srie. So Paulo: tica, 2002, p. 99.
43
BONIFAZI, Elio; DELLAMONICA, Umberto. Descobrindo a Histria: Idade Moderna e Contempornea, 8. So Paulo: tica, 2002,
p. 370.
44
PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. Histria e Vida Integrada, 8 srie. So Paulo: tica, 2002, p. 217. Ver tambm: MACEDO,
Jos Rivair; OLIVEIRA, Mariley W. Uma histria em construo, vol. 4. So Paulo: Editora do Brasil, 1999, p. 137.
45
CAMPOS, Flavio de, et. al. Op. cit., p. 181. Sobre a questo ver tambm: SCHMIDT, Mario. Nova Histria Crtica. 8 srie. So Paulo:
Nova Gerao, 2002, p. 187.
46
BONIFAZI, Elio e DELLAMONICA, Umberto. Descobrindo a Histria: Idade Moderna e Contempornea, 8. So Paulo: tica, 2002,
p. 372-373.
150 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 141-151 1 sem. 2009
As imagens veiculadas
No campo das imagens veiculadas encontramos um
quadro em sintonia com as temticas mais enfocadas
pelos manuais, prevalecendo a construo de um cenrio
negativo sobre o continente e suas sociedades. Das 87
figuras localizadas nos dez livros, a maioria retratava a
frica a partir das seguintes perspectivas temticas:
Apartheid 20 imagens (23%); Imperialismo e frica
Colonial 17 imagens (19,5%); Pobreza, Misria e
Doenas 8 imagens (9,2%); Guerras Civis 2
imagens (2,3%); Africanos retratados como tribais
2 imagens (2,3%). J as imagens retratando os africanos
em situaes cotidianas, 2 (2,3%), em cenas que retra-
tam as resistncias ao imperialismo, 7 (8%), ou as
independncias africanas, 9 (10,3%), representaram,
ao todo, e novamente sem contabilizarmos os mapas,
cerca de 20% das imagens.
Grfico 2
Ou seja, excluindo os mapas com representaes
sobre o domnio colonial, a partilha africana e a frica
contempornea , com 20 exemplares ao todo (23% das
imagens), as iconografias com um enfoque de carga
negativa somaram cerca de 70% das representaes
imagticas veiculadas.
Algumas reflexes
Comecei o artigo comentando que os ltimos cinco
anos foram marcados por um intenso debate em torno
da construo de caminhos para a aplicao da lei
10639/03. Lembro-me que, na poca da entrada em
vigor da lei, muitos especialistas alertaram que uma de
suas mais fortes repercusses seria justamente o fato de
que a obrigatoriedade de se ensinar a histria africana
em nossos bancos escolares revelava o descaso que at
ento envolvia o tema, apesar das sempre positivas
excees. Concordo com eles.
Esse descaso, somado a multissecular herana sobre
as imagens geradas e circulantes sobre a frica e os
africanos nos cenrios mentais brasileiros quase
sempre depreciativas , espelha o mais divulgado con-
junto de representaes sobre aquele continente e suas
gentes. Sendo assim, parece-me ser necessria uma bre-
ve e intensa reviso dos contedos trabalhados pelos
manuais didticos analisados. Apesar das positivas
experincias, a maioria dos textos parece reprisar os
velhos cenrios fabricados, e, portanto, parecem seguir
rumos distintos aos indicados pela lei e por nossos
especialistas.
Referncias
BOAHEN, A. Adu. O colonialismo na frica: impacto e signi-
ficao. In: _____. Histria Geral da frica VII. So Paulo:
tica; Unesco, 1991, pp. 787-811.
BONIFAZI, Elio; DELLAMONICA, Umberto. Descobrindo a
Histria: Idade Moderna e Contempornea, 8. So Paulo:
tica, 2002.
CAMPOS, Flavio de, et al. O jogo da Histria: de Corpo na
Amrica e de Alma na frica. So Paulo: Moderna, 2002.
DPCKE, Wolfgang. A vinda longa das linhas retas: cinco
mitos sobre as fronteiras na frica Negra. In: Revista Brasi-
leira de Poltica Internacional, 42 (1), Braslia, 1999, pp.
77-109.
FAGE, John D. Histria da frica. Lisboa: Edies 70, 1995.
HERNANDEZ, Leila Leite. Os movimentos de resistncia na
frica. In: Revista de Histria, USP, n 141, So Paulo, 1999,
pp. 141-149.
LOPES, Carlos. Enough is Enough! For an alternative diag-
nosis of the African crisis. In: frica, Revista do Centro de
Estudos Africanos da USP, 18-19, 1, So Paulo, 1995-1996,
pp. 69-101.
MACEDO, Jos Rivair; OLIVEIRA, Mariley W. Uma histria
em construo, vol. 4. So Paulo: Editora do Brasil, 1999.
MBEMBE, Achille. As formas africanas de auto-inscrio. In:
Revista Estudos Afro-Asiticos, ano 23, n 1, Rio de Janeiro,
2001, pp. 171-209.
151 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 141-151 1 sem. 2009
MONTELLATO, Andrea; CABRINI, Conceio; CATELLI, Ro-
berto. Histria Temtica: Diversidade Cultural, 6 srie. So
Paulo: Scipione, 2000.
MONTELLATO, Andrea; CABRINI, Conceio; CATELLI,
Roberto. Histria Temtica: O Mundo dos Cidados, 8 srie.
So Paulo: Scipione, 2000.
MOURO, Fernando Augusto Albuquerque. frica: fatores
internos e externos da crise. In: Revista da USP, v. 18, So
Paulo, 1993, p. 60-69.
MUNANGA, Kabengele. frica: trinta anos de processo de
independncia. In: Revista da USP, n 18, So Paulo, fev-ago
1993, pp. 102-111.
OLIVA, Anderson R. Lies sobre a frica: dilogos entre
as representaes dos africanos no imaginrio Ocidental e o
ensino da Histria da frica no Mundo Atlntico (1990-
2005). Tese (Doutorado em Histria Social) ICH-UnB,
Braslia, 2007, 416p.
_____. A Histria da frica nos Bancos Escolares: repre-
sentaes e imprecises na literatura didtica. In Revista
Estudos Afro-Asiticos, ano 25, n 3, Rio de Janeiro, set./
dez. 2003, pp. 421-462.
PANTOJA, Selma (org.). Entre fricas e Brasis. Braslia:
Paralelo 15, 2001.
PESAVENTO, Sandra Jatahy. Em busca de uma outra histria:
imaginando o imaginrio. In: Revista Brasileira de Histria,
vol. 15, n 29, So Paulo, 1995, pp. 9-27.
PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. Histria e Vida Inte-
grada, 7 srie. So Paulo: tica, 2002.
PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. Histria e Vida Inte-
grada, 8 srie. So Paulo: tica, 2002.
RANGER, Terence. Iniciativas e resistncias africanas em
face da partilha e da conquista. In: BOAHEN, A. Adu. (org).
Histria Geral da frica VII. So Paulo: tica; Unesco, 1991,
pp. 59-86.
RODRIGUE, Joelza ster. Histria em Documento: Imagem
e Texto, 8. So Paulo: FTD, 2000.
SCHMIDT, Mario. Nova Histria Crtica, 7 srie. So Paulo:
Nova Gerao, 2002.
SCHMIDT, Mario. Nova Histria Crtica, 8 srie. So Paulo:
Nova Gerao, 2002
ZAMPARONI, Valdemir. De escravo a cozinheiro: colonialis-
mo e racismo em Moambique. Salvador: Edufba, 2007.
153 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 153-161 1 sem. 2009
Muito se tem debatido com a lei 10.639/2003 de
implantao do ensino afro no currculo das escolas.
Como pesquisadora que lida diretamente com estudos
histrico-jurdicos, cumpre-nos algumas palavras e
reflexes acerca de tal lei, lembrando que, nos dizeres de
E.P.Thompson, a lei pode estabelecer limites de atuao
dos governantes sobre os governados, mas no pode agir
na conscincia e na cultura popular. Entretanto, e de
forma no simplista, no podemos considerar que todas
as leis so injustas ou ms. Existem sim, as boas leis. O
que queremos afirmar com isso que no Brasil existe o
hbito de se criar leis a todo momento, mas h uma
Diversidade e incluso:
relato de experincia didtica interdisciplinar
de aplicao da Lei n 10.639*
Jeanne Silva
Graduada em Direito e Histria. Professora de Histria da Escola Agrotcnica Federal de Uberlndia.
Doutoranda em Histria pela Universidade Federal de Uberlndia.
E-mail: jeannes@triang.com.br
Resumo
Este artigo visa refletir sobre o tema da Diversidade e
Incluso sob o ponto de vista docente, em uma
perspectiva histrico-jurdica, tomando como base a Lei
n 10.639, a qual estabelece as diretrizes e bases da
educao nacional, para incluir no currculo oficial da
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temtica Histria e
Cultura Afro-Brasileira. E tambm, discutir o papel das
Cincias humanas, mais especificamente o Ensino de
Histria, nesse debate sobre diversidade e incluso social.
Relata a experincia da autora frente realizao da
Semana Cultural Diversidade & Incluso, promovida pela
Escola Agrotcnica Federal de Uberlndia em Novembro
de 2007.
Palavras chave: Ensino de Histria. Lei 10.639/2003.
Diversidade & Incluso.
Abstract
This article aims to discuss the issue of diversity and
inclusion from the point of view of teaching. Reflects a
historical and legal perspective, the implantano of Law
No. 10,639, which deals with the obligation of african-
deployment of teaching history in the curriculum of
schools in high school. And to discuss about the role of
Humanities, more particularly the teaching of history in
schools of education technology, reporting the experience
of the author forward to the achievement of the Week
Cultural Diversity & Inclusion, promoted by the School of
Uberlndia in Federal Agrotcnica November 2007
Keywords: Teaching of History.Law 10.639/2003.
Diversity & Inclusion.
dificuldade imensa, social e coletiva, de aplicao e
interiorizao das normas. Essa dificuldade reflete um
problema j exposto por Oliveira Viana, de que h um
abismo entre os costumes e as leis. Entretanto, com a
abertura poltica ps anos 80, os Movimentos Sociais
reafirmaram suas lutas e as reivindicaes de direitos
das chamadas minorias, que no entendo bem o critrio
de conceituao lingstico, pois as minorias so
quantitativamente maioria, contradies da
desigualdade social e ocultamento das relaes da luta
de classes.
No que tange a esse percurso histrico, por exemplo,
* Este artigo fruto da reflexo da autora, na experincia de Coordenao da Semana Cultural intitulada DIVERSIDADE & INCLUSO,
numa perspectiva interdisciplinar entre os professores de Histria, Sociologia, Geografia, Portugus, Psicologia, Ingls e Geografia,
com apoio do Grmio Estudantil e da direo da Escola, promovida pela EAF-UDI, de 06 a 09 de Novembro de 2007.
154 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 153-161 1 sem. 2009
quanto questo racial, basta citarmos, de forma
retroativa, um conjunto de leis que procuraram
regulamentar questes como a discriminao do branco
em relao negro. A Lei Afonso Arinos ( Lei n 1390 de
03 de Julho de 1951) considerada a primeira lei bra-
sileira a transformar em contraveno penal a prtica
de atos resultantes de preconceitos de raa ou de cor.
Em 1985, a lei Afonso Arinos ganhou nova redao com
a Lei Ca (Lei n 7437), de autoria do ento deputado
federal Carlos Alberto Ca, que estendeu tambm a
proteo penal prtica de atos resultantes tambm de
preconceito de sexo ou estado civil. Mas at ento todos
esses ilcitos constituam somente contravenes. Com
a abertura poltica, mencionada em linhas atrs,
evidenciou-se uma luta por parte dos Movimentos em
defesa dos Negros, fruto das constantes denncias das
desigualdades raciais, demonstrando a discriminao da
populao negra no mercado de trabalho, na educao,
na sade e em outros setores da sociedade, em con-
traposio idia do mito da democracia racial. Ou seja,
com o avano dos movimentos sociais foi-se obrigado a
admitir, ainda que a contragosto por parte de muitos de
que o racismo sempre foi uma realidade evidente e, ao
mesmo tempo, um grande obstculo democracia e
justia social no pas. Da que, fruto da mobilizao
popular e movimentos organizados, a nova Constituio
de 1988, Carta Magna de cunho notadamente liberal,
propugnou em seu artigo 5, que todos so iguais perante
lei, sem distino de qualquer natureza, sendo que a
prtica do racismo constitui crime inafianvel e im-
prescritvel, sujeito pena de recluso,nos termos da lei.
Surgia, portanto, amparada pela Constituio Federal,
no artigo 5, a lei n 7716, de 05 de Janeiro de 1989, que
passa a definir os crimes resultantes do preconceito de
raa ou de cor, para em 1997, por meio da lei n 9459,
estender sua proteo s prticas provindas de pre-
conceito religioso, tnico ou de procedncia nacional.
Agora, o que nos afigura diante desse histrico legisla-
tivo pregresso quanto aplicao e efetivao social
de tais leis junto populao. O Brasil reconheceu ofi-
cialmente a existncia do racismo apenas em 1995. Tal
reconhecimento, fruto inequvoco da mobilizao do
movimento negro, e bom reafirmar isso para no
termos a iluso de que as leis so doadas como presente
dos governantes aos governados tornou obrigatria a
adoo de polticas especficas pelo governo, a fim de que
esses setores historicamente discriminados fossem
alavancados ao patamar da igualdade. Hoje, apesar de
desmistificada a democracia racial e at reconhecida a
existncia do racismo pelo governo brasileiro, com a
conseqente implementao de polticas para o setor, a
desigualdade entre brancos e negros ainda se mostra
abissal. Dados de 2004, do Programa das Naes Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) revelam que uma
criana negra tem no Brasil 66% mais chances de morrer
no primeiro ano de vida do que uma criana no negra;
o atendimento mdico est disponvel para 83,6% dos
brancos, enquanto para os negros, 69,7%; o nmero de
negros que j foi pelo menos uma vez ao dentista duas
vezes menor do que o de brancos; 65% das pessoas que
esto abaixo da linha de pobreza so negras, sendo que
a representao branca se faz em torno de 25%, exemplos
que evidenciam a realidade de uma perpetuao, a
despeito de inmeras leis, de uma realidade precon-
ceituosa e racista. nesse sentido de luta que se entendem
e se justificam os movimentos sociais de luta a favor dos
negros, contra a discriminao, a favor das cotas para
negros nas universidades e outros debates que pautam
nosso momento histrico atual. O que no se pode
imaginar, em momento algum que a mera imple-
mentao das leis que realizar por si mesma a mo-
dificao dessa realidade de preconceitos. Da que
preciso atitudes e aes coletivas que lutem pela aplica-
o e concretizao dessa implementao jurdica, na
verdade uma luta para que a lei seja cumprida, e no se
torne, conforme expresso prpria letra morta.
Nesse debate por conscientizao social e realizao
de aes afirmativas que se justifica ao nosso en-
tendimento, a Lei 10.639, pois na escola, entre os vrios
espaos, lcus privilegiado, que se possvel estabelecer
discusses, reflexes e prticas que evidenciem um
ensino aprendizagem mais igualitrio, onde se debatam,
questionem, dialoguem sobre tais questes. Diante da
realidade brasileira, a compreenso das condies
histricas concretas de nossas origens ajuda a estabelecer
um posicionamento favorvel s aes afirmativas.
Foi nesse sentido, que a experincia de uma Semana
Cultural, organizada no espao escolar procurou discutir
e promover uma semana de palestras, reflexes que
buscaram envolver toda comunidade escolar em ati-
vidades que debateram tais temas, entre eles: o sistema
de cotas, a incluso social, o problema do preconceito, a
questo afro racional, marcando com debates e reflexes,
as comemoraes do dia 20 de Novembro Dia da
Conscincia Negra.
Nos debates e conversas preliminares do grupo
155 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 153-161 1 sem. 2009
organizador, uma questo nos pareceu muito clara desde
o incio: o de que no bastava cumprir uma exigncia
burocrtica que obriga comemorar o dia 20 de novembro
como dia da conscincia, remetendo-nos figura do lder
negro Zumbi dos Palmares, como se tivssemos apenas
trocando uma data comemorativa por outra j esta-
belecida, como /era costume considerar o 13 de Maio
com a abolio da escravatura apresentada como
episdio histrico na personagem da Princesa Isabel. Por
outro, numa conversa entre professores de diversas reas
de humanas: Histria, Sociologia, Geografia, Portugus,
Psicologia, Ingls e Geografia, as possibilidades de
atuao e de questionamentos tambm no abordavam
somente uma preocupao com os negros e o problema
racial em si. Numa discusso terica o que ficou posto
era que no podamos, de um dia para outro, focalizar a
questo do preconceito racial, junto aos alunos, como se
estivssemos descobrindo um achado, o que poderia
tambm causar constrangimentos frente a uma realidade
complexa e delicada. Em outras palavras, sem um devido
preparo e cuidado, corramos o risco de sermos buro-
crticos, ou de cairmos num extremismo que nos levasse
a um ufanismo desmedido da questo racial no Brasil.
Assim sendo, e como no existem receita prontas (o que
tambm timo, pois a educao esse caminho que
vai sendo construdo coletivamente por meio do debate,
da interao, das discordncias e negociaes), chegou-
se a concluso de que a discusso envolvia uma srie
aes afirmativas de diversas polticas pblicas em jogo
na modernidade. As polticas afirmativas que levam esse
nome so uma espcie de discriminao positiva, em
que o Estado se incumbe de combater a discriminao,
mas tambm promover a igualdade. Essa necessidade
ocorre diante da constatao de que na sociedade em
que vivemos, historicamente, certos grupos tm ficado
de fora das conquistas de certos direitos, e esses grupos
no so constitudos somente de NEGROS, embora estes
tenham um lugar de destaque no debate travado e na
matriz de nossa formao histrico cultural, mas
tambm h o grupo das MULHERES, dos PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, dos HOMOSSEXUAIS, dos
INDGENAS, dos POBRES. Todos esses grupos tm
reconhecer que no se pode exigir as mesmas obrigaes
a quem ainda no so dadas as mesmas oportunidades.
Nessas condies, para que o poder pblico trate todos
os seus cidados de forma igualitria, os movimentos
sociais politicamente organizados, representantes dessas
categorias marginalizadas, tm se mobilizado num
esforo de garantir a diversidade e ampliar a sua re-
presentatividade nos diversos setores da vida em comum,
buscando uma sociedade mais justa e mais democrtica.
Desse modo, as polticas de cotas raciais, visam a corrigir
as distores histricas, para que as contradies de nosso
passado colonial, mantidas no presente, no sejam mais
obstculos para o alcance de um futuro melhor para
todos os cidados, brancos ou no brancos, mulheres ou
homens, crianas, jovens ou idosos, ricos ou pobres. A
alterao dessa situao depende, assim, de aes
coletivas que, no caso estatal ofeream uma igualdade
mnima de oportunidades, para que cada pessoa,
mediante seu mrito e esforo prprio, possa alcanar
seus objetivos.
Com base nessas premissas anteriores que a rea-
lizao de uma srie de atividades de debate e reflexes
permeou a realizao da chamada Semana Cultural
Diversidade & Incluso, onde pudemos realizar em sala
de aula, nas mais diversas disciplinas, com a participao
dos alunos, debates e atividades que marcaram a se-
mana, ainda contando com o apoio dos convidados para
as palestras e eventos culturais. Assim sendo, foram
realizados coletivamente: leitura de trechos e obras
literrias relativas ao tema (Discusso de Triste Fim de
Policarpo Quaresma de Lima Barreto), apresentao de
filmes e documentrios com realizao de seminrios
(como o documentrio Para Nossos Filhos discutindo a
questo agrria, o filme Amistad entre outros), a pesquisa
sobre aspectos religiosos, o vesturio alimentao e
culinria dos grupos matrizes de nossa histria, que
marcam a mistura de nossas matrizes indgena, africana
e portuguesa, pesquisa essa que resultou na Feira
Gastronmica, com apresentao de pratos tpicos de
diversos grupos e regies do Brasil; elaborao de painis,
cartazes e folders, onde os alunos elaboraram atravs de
imagens, textos e recortes questionamentos s questes
propostas, combinando produes dissertativas pessoais
com pesquisa e crtica miditica, alm da apresentao
de peas teatrais, entre elas uma de autoria de um dos
alunos intitulada recortes do Brasil, onde os grupo
evidenciou questes como a pobreza, o abandono, a
discriminao feminina, o problema das drogas e
violncia juvenil, alm da discusso sobre a questo do
preconceito racial, trazendo para a discusso possi-
bilidades de modificao da realidade vivenciada pelos
grupos. Mais do que avaliaes quantitativas que foram
realizadas, a semana, pontuada de uma reflexo cultural
e histrica, com teatros, msicas, palestras, danas,
156 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 153-161 1 sem. 2009
teatro, feira gastronmica, roda de capoeira e outros
eventos permitiu a interao e a participao ativa dos
alunos, dos professores, dos funcionrios e de toda
comunidade escolar, o que, por si s, j modifica o ensino
ministrado, vendo a interao comunitria como um
prprio movimento inclusivo. O objetivo, ao final, foi
alcanado, e todos os que participaram do evento vi-
venciaram experincias inclusivas, o que animou o grupo
a dar prosseguimento a novas atividades nesse sentido,
interagindo os alunos e a comunidade escolar, em
assuntos que dizem respeito toda sociedade, uma vez
que a construo de um pas mais justo, multicultural,
cuja unidade se forjou sob trgicos captulos de into-
lerncia tnica, sob a gide do paternalismo e do coro-
nelismo tarefa que ainda est por ser feita, e dentro do
espao escolar esse tem sido um caminho que pode ser
construdo pela valorizao da diversidade, na luta por
incluso.
Crianas, portadores de necessidades especiais,
homossexuais, idosos, indgenas, judeus, mulheres,
negros e outras minorias tm encontrado forte di-
ficuldade em alcanar juridicamente seus direitos, por-
tanto, importante ensinar nas escolas que a lgica do
sistema capitalista no a nica instaurada na face da
terra. Entretanto, no se pode olvidar que propugnar pela
diferena no significa legitimar desigualdades. O signi-
ficado social das diferenas no pode ser deixado de lado,
especialmente quando o caso de respeit-las, em nome
da construo da dignidade da pessoa humana, cuja ma-
terializao no est pronta em algum lugar, mas sem-
pre e permanentemente (re)construda em qualquer
etapa da vida.
O alcance legislativo de aprovao de leis de aes
positivas muito restrito, para o bem ou para o mal, e
no tem o condo mgico de alterar a realidade social
de forma imediata, o Estado no pode se abster de
conferir garantias legais aos grupos que por elas lutam,
mas a efetivao ao reconhecimento de tais direitos
depende da luta dos grupos, da conscientizao das
pessoas, do professor que ensina para o respeito s
diferenas, para o educando que aprende sendo valo-
rizado pelo que , com suas potencialidades e limitaes,
aprendendo a lidar com elas e a super-las, quer sejam
essas limitaes de que natureza for. O benefcio social
de implantao de leis que valorizem a diversidade,
incluam o ensino histrico de nossas razes, debatam as
diferenas sociais so leis que decorrem de uma batalha
social tambm histrica, e so vlidas como um pontap
inicial, um ponto de partida para um processo maior que
culmine na difuso social de uma igualdade democrtica,
de uma igualdade decorrente no do fim das diferenas,
mas no respeito a elas.
Anexo:
A Semana cultural contou com Palestra da his-
toriadora Claudia Guerra, discutindo a questo de G-
nero: Mulheres e Incluso, Palestra do Prof. Guimes
do NEAB/UFU com discusso sobre Elementos da
Cultura Afro Brasileira e do Prof. Ezequiel sobre Eco-
terapia e Incluso (tratamento de doenas por meio da
ajuda com animais cavalo). Contamos com a presena
de Grupo de Dana do Ventre com portadoras de ne-
cessidades especiais, alm da produo cultural dos
discentes envolvidos.
Segue logo abaixo algumas fotos, a ttulo ilustrativo,
que marcaram tais eventos, entre palestras e apre-
sentaes:
Confeco de cartazes por alunas.
157 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 153-161 1 sem. 2009
Grupo de alunos em exposio na Feira Gastronmica
Grupo de teatro da Escola EAF-Udi
Apresentao da Pea: Recortes de Brasil
158 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 153-161 1 sem. 2009
Apresentao de Roda de Capoeira
Apresentao de Roda de Capoeira
Apresentao de Dana do Ventre com portadoras de necessidades especiais
159 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 153-161 1 sem. 2009
Palestra com a prof. Claudia Guerra
Cartaz produzido pelos alunos: X Preconceito
Cartaz: Quem somos ns povo brasileiro?
160 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 153-161 1 sem. 2009
Referncias
Lei Federal 10.639 de 2003 que institui obrigatoriedade de
Histria da frica na grade curricular escolar.
Carlota Joaquina e 1492: A conquista do Paraso (filmes)
Para nossos filhos (documentrio)
Constituio de Democracia Aes Afirmativas e Incluso.
UNB, n 18, dez/2007 (jornal)
Bibliografia
ALVES, Rubem. Conversas sobre poltica. In: Estou enjoado
de poltica. Campinas, So Paulo: Versus, 2002.
ARENDT, Hannah. O conceito de Histria antigo e mo-
derno e Verdade e Histria, in: ______. Entre o passado
e o futuro [1961]. 3. ed. So Paulo: Perspectiva, 1992, p. 69-
126; 282-325.
BRESCIANI, Maria Stella Martins. O charme da cincia e a
seduo da objetividade: Oliveira Viana interpreta o Bra-
sil. Tese titular apresentada ao Departamento de Histria/
Unicamp, 2002.
Acervo fotogrfico da Escola Agrotcnica Federal de Uberlndia 06 a 09 de Novembro de 2007
Brasil: pas do futebol... pas da violncia!
DLOYE, Iyves. A nao entre identidade e alteridade: frag-
mentos da identidade nacional.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Aula inaugural
no Collge deFrance, pronunciada em 02/12/1970. Trad.
Laura Fraga de Almeida Sampaio. 3. ed. Loyola, So Paulo,
1996.
FREYRE, Gilberto. Interpretao do Brasil: aspectos da
formao social brasileira como processo de amalgamento
de raas e culturas. Rio de Janeiro: Jos Olympio Editora,
1947. (pp.139-175)
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. Rio de Janeiro:
Jos Olympio Editora.
GINZBURG, Carlo. Apontar e Citar. A verdade da histria
[1989], In: Revista de histria.
HOLANDA. Srgio Buarque. Viso do Paraso: os motivos
ednicos no descobrimento e colonizao do Brasil. 5. ed.
So Paulo: Editora Brasiliense, 1992.
PRADO. Paulo. Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza
brasileira. So Paulo. Companhia das Letras, 1998. Parte III
a tristeza do brasileiro. p. 130-163.
161 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 153-161 1 sem. 2009
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formao e o sentido
do Brasil. so Paulo: crculo do livro. 1995.
SOUZA, Octavio. Fantasia de Brasil: as identificaes na
busca da Identidade Nacional. So Paulo: Ed. Escuta, 1994.
Captulo 1. Identidade e afirmao da diferena.
SILVA, J. O papel da Lei na formao da Identidade Brasi-
leira. Cadernos da Fucamp. 2005.
THOMPSON, E. P. Senhores e Caadores. Trad. Denise
Bootmann. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
VEYNE, Paul M. Como se escreve a histria: Foucalt revolu-
ciona a histria. Trad. de Adla Baltar e Maria Auxiliadora
Kneipp. Braslia: Editora da UNB, 1982.
VIANA Oliveira. Instituies Polticas brasileiras. Belo Hori-
zonte: Itatiaia, 1987. Volumes 1 e 2.
WHITE, Hayden. O fardo da histria e Interpretao na
histria. In: _____. Trpicos dos discursos [1978], So
Paulo, 1994.
Resenha
165 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 165-168 1 sem. 2009
Toda sociedade tem Histria, mas nem toda sociedade
deixa testemunhos e/ou escreve sua histria. Na ver-
dade, embora a expresso histria vivida, a existncia
das sociedades e dos homens no tempo, seja comum a
todas as civilizaes conhecidas (ou no), a histria
conhecimento, ou mais precisamente, a interpretao
daquele agir humano, refere-se apenas quelas que
tiveram a preocupao (poltica ou cultural) de deixar a
posteridade o registro escrito de suas aes, sob a forma
fragmentria de documentos (oficiais ou no), ou ainda
de interpretaes. Evidentemente, desde tempos ime-
moriais, a questo da histria dos homens e de sua
sociedade se coloca
1
. Mais ainda, para aquelas onde a
cultura escrita preponderou sobre a tradio oral. No
entanto, a importncia de quem deixa o testemunho,
sob a forma documental, ou mais caracteristicamente,
por meio de uma interpretao (na figura subjetiva do
historiador), segundo Franois Hartog em seu livro O
espelho de Herdoto, s teria, de fato, se iniciado na
Grcia, no sculo V antes de Cristo, principalmente com
as Histrias de Herdoto, que buscaria construir um
saber fundado nos depoimentos escritos e orais, a fim de
reconstituir a cadeia dos acontecimentos histricos e de
designar suas causas naturais prximas ou distantes.
Inaugura assim a tradio da histria factual detalhada
particularmente das guerras
2
, conforme constatar
Philippe Ttart. A prpria palavra histria, segundo
Jacque Le Goff em seu livro Histria e memria, tal
1
TTART, 2000, p. 7.
2
Idem, p 13.
Ofcio de historiador:
passado e presente
Diogo da Silva Roiz
Doutorando em Histria pela UFPR. Mestre em Histria pela Unesp/Franca.
Professor do curso de Histria e de Cincias Sociais da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul,
unidade de Amamba - UEMS/Amamba. E-mail: diogosr@uems.br
como aparece em todas as lnguas romnicas ou em
ingls, viria do grego antigo historie, em dialeto jnico,
que derivaria da raiz indo-europia wid-, weid-, que quer
dizer ver. Da, segundo ele, o snscrito vettas, teste-
munha, e o grego histor, aquele que v, seria tambm
aquele que sabe. E esse , para ele, o significado que a
palavra histria tinha na obra de Herdoto, de pro-
curar, de informar, de investigar (e, por extenso, de
deixar testemunhado aquilo que viu ou ouviu).
Se questionar, portanto, nas sociedades contem-
porneas, o que foi ser historiador na Antigidade
Clssica, a forma como aqueles historiadores teriam
comeado a tentar definir procedimentos de pesquisa, a
se inquirir as fontes, e a escreverem histrias, torna-se
uma etapa crucial para se precisar melhor a forma como
o ofcio de historiador teria comeado a se desenvolver.
Esse talvez tenha sido o objetivo principal de Philippe
Ttart, quando escreveu seu livro Pequena histria dos
historiadores, para a coleo Synthse da editora
Armand Colin, editado em 1998. A obra foi publicada no
Brasil em 2000 pela Edusc. Provavelmente sua maior
inspirao tenha sido a obra Histria e historiadores:
Antigidade, Idade Mdia, Frana moderna e contem-
pornea de autoria de Bizire e Vayssire, editada em
Paris no ano de 1995 (infelizmente ainda no traduzida
no Brasil). At pela semelhana das propostas, que tal
como a desses autores, a de Ttart (embora com caracte-
rsticas mais didticas) foi a de estudar o desenvolvi-
TTART, Philippe. Pequena histria dos historiadores. Traduo de Maria Leonor Loureiro. Bauru/So Paulo: Edusc,
2000, 166p.
166 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 165-168 1 sem. 2009
mento do ofcio de historiador da Antigidade Clssica
Frana contempornea. Pode-se, desde j, criticar a
proposta por dar maior nfase Grcia e Roma, para o
perodo da Antigidade Clssica, e a Frana, para o
perodo moderno e contemporneo. O que restringiria a
importncia de vrios outros lugares e autores do passa-
do e do presente. Com o aparecimento das narrativas
histricas em francs, a reflexo de Philippe Ttart
inclina-se com demasia, talvez, para o hexgono da
Frana (Idem, p. viii), como salienta Jos Leonardo na
apresentao da verso brasileira da obra. Pode-se ainda
observar certa fragilidade quando discute o que foi e o
que ser historiador. Contudo, no podemos deixar de
ver os mritos de obras como essa(s), ao contriburem
para um maior esclarecimento didtico sobre o desen-
volvimento de nosso ofcio profissional.
O livro de Ttart com pouco mais de 160 pginas foi
dividido em 17 pequenos captulos, antecipados por uma
bela apresentao do professor Jos Leonardo do
Nascimento e uma curta introduo do autor. O livro
ainda acrescido com um glossrio, fundamental, prin-
cipalmente, para os iniciantes de cursos de gra-duao
em Histria, ainda no habituados com conceitos e
termos especficos da rea. Em sua apresentao, Jos
Leonardo, ainda que um pouco crtico com a proposta
do autor, no deixa de reconhecer suas contribuies,
ainda mais considerando que:
... o fundamental que a vasta empresa escolar
francesa do oitocentos produzir a disciplina da histria
e o historiador profissional. A histria como disciplina
entra nos currculos escolares, do primrio univer-
sidade, e sobre este solo, enriquecido por revistas espe-
cializadas Revue Historique, Revue de Synthse e
publicaes diversas, a historiografia alcana os dias
atuais. A anlise de Philippe Ttart mantm o foco
concentrado sobretudo nos sculos XIX e XX do hex-
gono francs.
Em sua introduo, Philippe Ttart, tenta justificar
seu empreendimento da seguinte forma:
Compreender a histria dos historiadores, recons-
tituindo sua filiao desde os gregos at nossos dias,
equivale, portanto, principalmente a considerar cada
uma das geraes historiadoras por sua obra, sua
contribuio historiografia e ao pensamento histrico
considerando-a em relao a seu prprio tempo e
suas questes de memria (...) A histria da histria e
dos historiadores passa, portanto, primeiro por colocar
em perspectiva os modos diferentes de pensamento dos
historiadores com a sociedade na qual eles evoluam e
evoluem, a fim de sublinhar as conquistas, as rupturas,
a formao progressiva de um senso crtico, de um
pensamento e patrimnio cientficos.
(...) Assim, a histria greco-romana, dominada
pelas personalidades de Herdoto, Tucdides, Tcito,
Polbio, Salstio, Tito Lvio e Suetnio, no se resume a
eles. A histria no sculo XVII, perodo de calmaria
relativa para o amadurecimento de Clio, conta, apesar
de tudo, com numerosos historiadores. A idade de ouro
da histria [n]o sculo XIX no pode ser detalhada em
algumas pginas; um tempo de exploso da histria.
Quanto mais o tempo passa, com o desenvolvimento da
edio, do ensino, da universidade, da pesquisa, mais o
nmero de historiadores e de especialidades histricas
cresce. Abranger sua totalidade seria um desafio intil,
limitado a uma espcie de glossrio sem continuidade
problemtica. No essa nossa proposta. Nossa escolha
recai sobre a continuidade, correndo o risco de deixar
na sombra certos nomes, certas obras, a fim de privi-
legiar a coerncia do questionamento: como o histo-
riador faz histria?
3
Portanto, um questionamento poltico, maior at, do
que sua proposta intelectual, j que segundo ele haveria
um desenvolvimento linear na histria da histria indo
do perodo greco-romano para a Frana contempornea.
E, neste ponto, muito embora o professor Jos Leonardo
tenha apontado seus limites, no evidenciou que o autor
explicitamente demonstra sua filiao a uma histo-
riografia francesa, que remonta ao sculo XIX e se
desdobra no movimento dos Annales e na Nova Histria,
congregando diversos profissionais da Frana e de ou-
tros pases, para os quais, o centro da historiografia
internacional, desde o sculo XIX, estaria sediado na
Frana. A histria e a organizao desse discurso na
historiografia francesa foi muito bem estudada e criticada
por Rogrio Forastieri da Silva em seu livro Histria da
historiografia, verso reformulada de sua tese de
3
Idem, p. 8 e 10.
167 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 165-168 1 sem. 2009
doutoramento defendida, em 1999, na Universidade de
So Paulo, na qual Jos Leonardo fez parte da banca
examinadora. Assim, ainda que nos surpreenda o fato
de Jos Leonardo no ter articulado na sua apresentao
a proximidade de Ttart aquele discurso historiogrfico
to tpico na Frana, e compreensvel j que sua inteno
tenha sido to somente a de nos apresentar, e muito bem,
a obra do autor, no um fato desprezvel a de pelo
menos oferecer ao leitor uma modesta articulao sobre
a escolha poltica do autor em sua obra ora resenhada.
Para demonstrar com maior detalhamento a forma
como concebe o desenvolvimento do ofcio de historia-
dor e, a partir do sculo XIX, d nfase contribuio
francesa, primeiro constataremos isso sucintamente na
discusso do autor, em seguida elaborou-se, com base
em seu texto, o quadro abaixo, com o nmero e o perodo
que viveram os historiadores recenseados pelo autor.
Quadro 1: Distribuio de historiadores de acordo com o perodo
Antigidade Clssica Idade Mdia Idade Moderna Perodo Contemporneo
Hecateu de Mileto (540-476) Eusbio (265-341) Franois Hotman (1524-1590) Franois R. Chateaubriand (1768-1848)
Herdoto de Helicarnasso (490-425) Santo Agostinho (354-430) Jean Bodin (1530-1596) Augustin Thierry (1795-1856)
Hellanicos de Metilene (479-395) Grgoire de Tours (538-594) Henri V. L. Popelienire (1541-1608) Louis A. Thiers (1797-1877)
Tucdides (460-396) Isidoro de Sevilha (562-636) Bertrand dArgentr (1519-1590) Franois Guizot (1787-1874)
Polbio (205-120) Bde o Venervel (673-735) Nel de Fail (1520-1591) Alphonse de Lamartine (1790-1869)
Cato (234-149) Paul Diacre (725-799) tienne Pasquier (1529-1615) Edgar Quinet (1803-1875)
Ccero (106-43) Eginhard (770-840) Aubign (1552-1630) Louis Blanc (1811-1882)
Salstio (86-35) Hincmar (806-882) Pierre Pithou (1539-1596) Jules Michelet (1798-1874)
Tito Lvio (59aC-17dC) Flodoard (894-966) Andr Duchesne (1584-1640) Alxis de Tocqueville (1805-1859)
Tcito (56-117) Orderic Vital (1075-1142) Franois de Mezeray (1610-1648) Ernest Renan (1823-1892)
Suetnio (70-120) Guibert de Nogent (1055-1124) Racine (1639-1699) Hippolyte Taine (1828-1893)
Plutarco (46-120) Suger (1081-1151) Scipion Dupleix (1596-1661) Fustel de Coulanges (1830-1889)
Herodiano (175-250) Rigord (1145-1210) Antoine Varillas (1626-1696) Gabriel Monod (1844-1912)
Ammier Marcellin (330-395) Villehardouin (1150-1213) Jacques B. Bossuet (1627-1704) Ernest Lavisse (1842-1922)
Robert de Clari (? 1216) Richard Simon (1638-1712) Charles-Victor Langlois
Joinville (1224-1317) Mabillon (1632-1701) Charles Seignobos
Jean Froissart (1337-1410) Popenbroeck (1628-1714) Charles Pguy (1873-1914)
Jean Le Bel (1290-1370) Andr Aubert (1655-1735) Franois Simiand (1873-1935)
Georges Chastellain (1405-1475) Sbastien Tillemont (1637-1698) Henri Berr (1862-1955)
Jean Molinet (? 1507) Pierre Bayle (1647-1706) Henri Hauser (1866-1946)
Jean Lamaire de Belges (1473-1525) Charles Rollin (1661-1741) Ernest Labrousse (1895-1988)
Conde Olivier de la Marche (1428-1502) Paul F. Velly (1709-1759) Lucien Febvre (1878-1956)
Philippe de Commynes (1447-1511) Montesquieu (1689-1755) Marc Bloch (1886-1944)
Robert Gaguin (1425-1502) Voltaire (1694-1778) Fernand Braudel (1902-1985)
Diderot (1713-1784)
DAlambert (1717-1783)
Condorcet (1743-1794)
La Hontan (1666-1715)
Raynal (1713-1796)
Total: 14 historiadores Total: 24 historiadores Total: 29 historiadores Total: 24 historiadores
Fonte: TTART, Philippe. Pequena histria dos historiadores. Traduo de Maria Leonor Loureiro. Bauru/So Paulo: Edusc,
2000, 166p.
Para ele os historiadores gregos justifica[va]m a idia
de uma reflexo sobre o passado, sobre a memria (...)
mas tambm [sobre] os mundos que os rodeiam, esto
no centro de suas interrogaes e de seus relatos. A
histria tornou-se uma cincia humana. Na pena de
historiadores como foro (sec. IV aC), ela se presta a
tornar-se suporte de uma anlise moral do mundo grego
e no grego
4
. Destaca em seguida o surgimento da idia
de nao na historiografia romana, e a partir dela a idia
de uma histria universal, na qual a histria remetida
4
Idem, p. 19.
168 Cadernos de Pesquisa do CDHIS n. 40 ano 22 p. 165-168 1 sem. 2009
a uma funo to moral quanto poltica
5
. A histria na
Idade Mdia ter sua ateno centrada na escrita da
histria do povo cristo, na preservao dos escritos
bblicos e na institucionalizao da Igreja, no crculo
dos bispos (...) que se prossegue o essencial da atividade
historiogrfica
6
. Para ele a partir do sculo XII, inicia-
se um lento, mas progressivo movimento de secula-
rizao que perpassa as idias, a economia, a poltica,
at invadir o prprio cotidiano. Os historiadores, secu-
lares, desfizeram-se das viseiras da escatologia
7
. A
histria permanece a servio do Estado e afasta-se mais
um pouco de sua preocupao de edificao moral,
religiosa, para entrar num universo de reflexo poltica
e social
8
, do qual permanecer at as primeiras dcadas
do sculo XX. a partir do final do perodo medieval
que o autor focaliza sua ateno para o hexgono
francs.
O quadro acima indica como o autor utilizou de forma
flexvel o termo historiador para conseguir abranger
aquela quantidade de atores antigos e modernos. Con-
forme indica ainda o quadro acima, o autor referiu-se,
e/ou fez alguns comentrios de 14 historiadores da
Antigidade Clssica, 24 da Idade Mdia, 29 da Idade
Moderna e 24 do perodo Contemporneo o nmero
menor de historiadores para esse perodo se deve ao fato
de que, aps 1950, preferiu trabalhar a organizao de
grupos, e no somente o indivduo em suas pesquisas.
Evidentemente, no foi seu objetivo elaborar um levan-
tamento exaustivo de autores (historiadores). No en-
tanto, surpreende em alguns momentos a falta de auto-
res como: Nicolau Maquivel e G. Vico, para o perodo
do renascimento europeu; Leopoldo Von Ranke, para o
sculo XIX; Henri Pirenne, historiador belga, funda-
mental para o desenvolvimento do movimento dos
Annales na Frana; Raymond Williams, C. Hill, E. P.
Thompson, Eric Hobsbawm, Perry Anderson, grupo de
5
Idem, p. 32.
6
Idem, p. 39.
7
Idem, p. 53.
8
Idem, p. 58.
9
Idem, p. 134.
historiadores marxistas ingleses dissidentes do partido
comunista nos anos de 1950, que muito contriburam
com a historiografia contempornea; Carlo Ginzburg,
Giovanni Levi e Carlo Poni, historiadores italianos
responsveis pelo desenvolvimento da micro-histria; ou
ainda, Keith Thomas, Robert Darnton, Roger Chartier,
Peter Burke, Lynn Hunt, Natalie Zemon Davis, respon-
sveis, juntamente com outros historiadores, pela recu-
perao, sob novas perspectivas, da Histria Cultural, a
partir da decada de 1970. Tudo isso indica a comple-
xidade da escrita de qualquer histria, e a histria dos
historiadores no foge a regra.
Entretanto, novamente h que se ressaltar os mritos
de empreendimentos como esse, ou nesse mesmo
caminho, como tem sido os trabalhos de Marie-Paule
Caire-Jabinet Introduo historiografia, publicado em
2003 pela Edusc, e A histria na Frana da Idade Mdia
aos nossos dias, publicada em 2003 pela Flammarion,
na Frana (ainda no traduzida no Brasil). De modo que
bastante promissora a atitude de vrias editoras
brasileiras, como tem sido a da Editora da Universidade
do Sagrado Corao (a Edusc), em procurar traduzir
obras de relevo para o conhecimento do ofcio de
historiador e de sua histria.
Para se concluir h que se ressaltar novamente as
escolhas polticas e intelectuais do autor, por elencar
certos historiadores em prol de outros, principalmente
no caso do perodo contemporneo, com sua nfase para
o hexagono Francs. Porque seu objetivo foi o de justificar
a importncia da nova histria poltica e da histria do
tempo presente, pois, segundo ele, sob a influncia da
gerao dos historiadores do poltico e da pesquisa sobre
a Segunda Guerra Mundial, o tempo presente acaba por
reintegrar-se completamente no campo cientfico
9
, de
modo a congregar a ateno dos pesquisadores nas
ltimas dcadas.
PARECERISTAS
Alessandra Siqueira Barreto (DECIS/UFU/MG)
Antnio de Almeida (UFU/MG)
Carlos Henrique de Carvalho (UFU/MG)
Cristiane da Silveira (PUC/SP)
Dilma Andrade de Paula (UFU/MG)
Dulcina Tereza Bonati Borges (CDHIS/UFU/MG)
Edmar Henrique Dairell Davi (ESAMC/MG)
Eliane Schmaltz Ferreira (DECIS/UFU/MG)
Gizelda da Costa Simonini (UNIPAC/MG)
Ivanilda Aparecida Andrade Junqueira (CDHIS/UFU/MG)
Jane de Ftima S. Rodrigues (UNIMINAS/MG)
Jeanne Silva (CEFET/UFU/MG)
Ktia rodrigues Paranhos (UFU/MG)
Knia Maria de Almeida (UNITRI/MG)
Luciene Lehmkuhl (UFU/MG)
Luziano Macedo Pinto (UNIMINAS/MG)
Marcos Antnio Menezes (UFG/GO)
Maria Clara Tomaz Machado (UFU/MG)
Maria Cristina Nunes Ferreira Neto (PUC/GO)
Maucia Vieira dos Reis (CDHIS/UFU/MG)
Mnica Chaves Abdala (DECIS/UFU/MG)
Newton Dngelo (UFU/MG)
Valdeci Rezende Borges (UFG/GO)
Valria Maria Queiroz Cavalcante Neto (Arqu. Pblico/UDI/MG)
Vani Rezende (FCU/MG)
Velso Carlos de Sousa (CDHIS/UFU/MG)
Vilma de Jesus (FCU/MG)
Aos colaboradores
1. O material para publicao dever ser encaminhado para a Coordenao do Setor de Publicaes em duas vias
impressas em papel A4, digitadas em espao 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12 e obedecendo, para margens, as
medidas: direita e inferior: 2,5cm; superior: 3cm; esquerda: 4cm; acompanhado de CD ou encaminhado para o e-mail:
cdhis@ufu.br, com identificao do(s) autor(es) no corpo do trabalho.
2. Os trabalhos digitados devem estar de acordo com aspectos formais segundo tcnicas e procedimentos cientficos,
bem como padres atualizados da ABNT (Associao Brasileira de Normas Tcnicas).
3. As colaboraes a serem publicadas na revista Cadernos de Pesquisa do CDHIS podero ter os seguintes
formatos:
3.1. Artigos que estejam relacionados com trabalhos na rea de histria e afins. Os trabalhos devem conter:
ttulo; nomes do(s) autor(res) com informaces sobre a formao e instituio a que est vinculado no p da
pgina; resumo em portugus e em espanhol ou ingls, com o mximo de 04 linhas; palavras-chave em
portugus e em espanhol ou ingls (mnimo de trs e mximo de cinco); referncias bibliogrficas e notas no
p de pgina. Os trabalhos devem ter no mnimo 10 e no exceder a vinte laudas, includos anexos;
3.2. Resenhas;
3.3. Trabalhos Especficos do CDHIS;
3.4. Tradues acompanhadas de autorizao do autor e do original.
4. Em folha parte, em envelope lacrado, o(s) autor(es) dever(o) apresentar as seguintes informaes:
a) ttulo de trabalho;
b) nome completo do(s) autor(es);
c) titulao acadmica mxima;
d) instituio onde trabalha(m) e a atividade exercida na mesma;
e) endereo completo para correspondncia;
f) telefone para contato;
g) endereo eletrnico, se for o caso;
h) apontar(caso julgue necessrio) a origem do trabalho, a vinculao a outros projetos, a obteno de aux-
lio para a realizao do projeto e quaisquer outros dados relativos produo do mesmo.
5. Ao enviar o material para publicao, o(s) autor(es) est(o) automaticamente abrindo mo de seus direitos
autorais, concordando com as diretrizes editoriais e, alm disso, assumindo que o texto foi devidamente revisado e
no foi publicado em nenhum outro rgo.
6. O(s) autor(es) que tiver(em) seu artigo publicado receber(o) trs exemplares do nmero ou volume da
Revista Cadernos de Pesquisa do CDHIS.
7. A Revista Cadernos de Pesquisa do CDHIS no reter os direitos autorais de artigos no publicados e, nesse
caso, o(s) autor(es) ser comunicado da deliberao pelo Setor de Publicaes.
Imprensa Universitria/Grfica UFU
You might also like
- ASPECTOS NUTRICIONAIS DE FITATOS E TANINOS - Artigo de RevisãoDocument12 pagesASPECTOS NUTRICIONAIS DE FITATOS E TANINOS - Artigo de RevisãoJefersonNo ratings yet
- 2808 7830 1 PBDocument11 pages2808 7830 1 PBJefersonNo ratings yet
- 5 As Praticas cp6Document17 pages5 As Praticas cp6JefersonNo ratings yet
- BAGIO, V. O Processo de Escrita Das DCEs Do Estado Do PRDocument19 pagesBAGIO, V. O Processo de Escrita Das DCEs Do Estado Do PRJefersonNo ratings yet
- Caderno de Praticas-Curso-Modelagem de IndicadoresDocument13 pagesCaderno de Praticas-Curso-Modelagem de IndicadoresJefersonNo ratings yet
- 2917 9166 1 PBDocument18 pages2917 9166 1 PBJefersonNo ratings yet
- 624 1470 1 PBDocument14 pages624 1470 1 PBJefersonNo ratings yet
- 1 PBDocument18 pages1 PBJefersonNo ratings yet
- A África Não Está em NósDocument19 pagesA África Não Está em NósaparecidalopesNo ratings yet
- 1 PBDocument10 pages1 PBJefersonNo ratings yet
- 1 PBDocument18 pages1 PBJefersonNo ratings yet
- Azevedo Stamatto Historiografia Processo EnsinoDocument20 pagesAzevedo Stamatto Historiografia Processo EnsinoJefersonNo ratings yet
- 1 PBDocument13 pages1 PBJefersonNo ratings yet
- A06v2312 PDFDocument23 pagesA06v2312 PDFJefersonNo ratings yet
- Cesar, Maria Ritade AssisDocument191 pagesCesar, Maria Ritade AssisGabrielOtoniNo ratings yet
- Martins. A CENP e A Criação Do Currículo de HistóriaDocument13 pagesMartins. A CENP e A Criação Do Currículo de HistóriaJefersonNo ratings yet
- Saeculum06-07 Art10 OlivaDocument12 pagesSaeculum06-07 Art10 OlivaJefersonNo ratings yet
- FE64 Ed 01Document17 pagesFE64 Ed 01JefersonNo ratings yet
- Abud. Formação Da Alma e Do Caráter NacionalDocument7 pagesAbud. Formação Da Alma e Do Caráter NacionalJefersonNo ratings yet
- 859 3963 2 PBDocument4 pages859 3963 2 PBJefersonNo ratings yet
- 101348Document27 pages101348JefersonNo ratings yet
- FE64 Ed 01Document17 pagesFE64 Ed 01JefersonNo ratings yet
- 1 PBDocument22 pages1 PBJefersonNo ratings yet
- Dangelo. Ouvindo o BrasilDocument14 pagesDangelo. Ouvindo o BrasilJefersonNo ratings yet
- A Democratização BrasileiraDocument10 pagesA Democratização BrasileiraRodrigo TeixeiraNo ratings yet
- Stephanou. Instaurando Maneiras de Ser Conhecer e InterpretarDocument15 pagesStephanou. Instaurando Maneiras de Ser Conhecer e InterpretarJefersonNo ratings yet
- ALmeida. Estado Novo. Projeto Político Pedagogico e A Construção Do SaberDocument14 pagesALmeida. Estado Novo. Projeto Político Pedagogico e A Construção Do SaberJefersonNo ratings yet
- Representações no ensino de HistóriaDocument8 pagesRepresentações no ensino de HistóriaJefersonNo ratings yet
- Ricci. Quando Os Discursos Não Se EncontramDocument16 pagesRicci. Quando Os Discursos Não Se EncontramJefersonNo ratings yet
- 2915 9158 1 PBDocument20 pages2915 9158 1 PBJefersonNo ratings yet
- Lei 94/79 do Funcionarismo PúblicoDocument65 pagesLei 94/79 do Funcionarismo Públicodr_crpoNo ratings yet
- Boletim 20191030Document100 pagesBoletim 20191030MarcosViniciusOliveiraNo ratings yet
- Vida Altaneira Profissionalmente Do Cap. PM José Batista Pereira FreitasDocument47 pagesVida Altaneira Profissionalmente Do Cap. PM José Batista Pereira FreitasHellianCangussu100% (1)
- Diário Oficial do Município de Campos dos GoytacazesDocument8 pagesDiário Oficial do Município de Campos dos GoytacazescgtinocoNo ratings yet
- Rio de Janeiro 2021-02-15 CompletoDocument44 pagesRio de Janeiro 2021-02-15 Completofabiolopes27656No ratings yet
- Diário Oficial do Rio entrega tampinhas para cadeiras de rodasDocument104 pagesDiário Oficial do Rio entrega tampinhas para cadeiras de rodasAdrianaMarquesNo ratings yet
- CV (Atualizado)Document2 pagesCV (Atualizado)Rodrigo Da Silva FerreiraNo ratings yet
- Coleta Seletiva Solidária do Estado do Rio de JaneiroDocument114 pagesColeta Seletiva Solidária do Estado do Rio de JaneiroDanielNo ratings yet
- Contestação ETDocument9 pagesContestação ETElizabeth_Magl_3722No ratings yet
- Comerciantes de Grosso TratoDocument14 pagesComerciantes de Grosso TratopradofariaNo ratings yet
- Carta de EsperançaDocument54 pagesCarta de EsperançalaryssaqueirozNo ratings yet
- Samara Go YaDocument194 pagesSamara Go YaPaulo VictorNo ratings yet
- Realidade Aumentada na Indústria 4.0Document2 pagesRealidade Aumentada na Indústria 4.0Lucas SantosNo ratings yet
- II CIMUCI Anais V.finalDocument308 pagesII CIMUCI Anais V.finalKLESIA ANDRADENo ratings yet
- Adjetivos Pátrios Dos Estados e Capitais BrasileirasDocument2 pagesAdjetivos Pátrios Dos Estados e Capitais BrasileirasPortuguês Em MadrynNo ratings yet
- RJ Monitor Mercantil 050723Document12 pagesRJ Monitor Mercantil 050723Pablo Fernandes SoaresNo ratings yet
- Caderno de Programação X CBHEDocument109 pagesCaderno de Programação X CBHEbocharttNo ratings yet
- A viagem do corsário inglês Anthony Knivet ao Rio ParaíbaDocument14 pagesA viagem do corsário inglês Anthony Knivet ao Rio ParaíbaClimerio dos Santos VieiraNo ratings yet
- Volkswagen OtimaDocument96 pagesVolkswagen OtimawilhelmFischerNo ratings yet
- PM Boletim 105 alterações escalas serviçosDocument55 pagesPM Boletim 105 alterações escalas serviçosThyago OliveiraNo ratings yet
- Perigosa - Fabiana Escobar PDFDocument253 pagesPerigosa - Fabiana Escobar PDFChristiane Porpiglio79% (57)
- Imagens de Vilas e Cidades Do Brasil - Nestor Goulart Reis FilhoDocument14 pagesImagens de Vilas e Cidades Do Brasil - Nestor Goulart Reis FilhoJoão PenaNo ratings yet
- Lei Complementar #70 de Julho de 2004 (PEU TAQUARA)Document42 pagesLei Complementar #70 de Julho de 2004 (PEU TAQUARA)Fábio FreitasNo ratings yet
- Questoes Tema II Prof Elisabete 02 10Document3 pagesQuestoes Tema II Prof Elisabete 02 10RodrigoMarinsNo ratings yet
- Livro Geografia, Turismo e CulturaDocument391 pagesLivro Geografia, Turismo e CulturamatiasemilianocabjNo ratings yet
- Resultado Processo Seletivo Complementar Edital 10/2022Document1 pageResultado Processo Seletivo Complementar Edital 10/2022Guilherme MenezesNo ratings yet
- Consumo brasileiro R$ 2,5 tri em 2011Document17 pagesConsumo brasileiro R$ 2,5 tri em 2011Jonas Raphael SchulerNo ratings yet
- Contrato serviços eventos UNIRIODocument15 pagesContrato serviços eventos UNIRIOJade Ramos FeltrinNo ratings yet
- Japeri - 5070 - 17 de Fevereiro 2022Document4 pagesJaperi - 5070 - 17 de Fevereiro 2022MarombaFitness29No ratings yet
- Geografia Geral do BrasilDocument222 pagesGeografia Geral do BrasilfdvasconcelosNo ratings yet