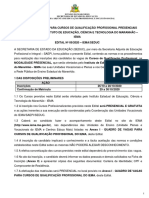Professional Documents
Culture Documents
Etnomatemtica Alma Auwe Xavante
Uploaded by
João Carlos SantosCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Etnomatemtica Alma Auwe Xavante
Uploaded by
João Carlos SantosCopyright:
Available Formats
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
FACULDADE DE EDUCAO
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante
em suas relaes com os mitos
WANDERLEYA NARA GONALVES COSTA
So Paulo
2007
Wanderleya Nara Gonalves Costa
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante
em suas relaes com os mitos
Tese apresentada Comisso de Ps-
Graduao da Faculdade de Educao da
Universidade de So Paulo, para a obteno do
ttulo de Doutora em Educao.
rea: Ensino de Cincias e Matemtica.
Orientadora: Prof
a
Dr
a
Maria do Carmo Santos
Domite.
So Paulo
2007
iii
Autorizo a reproduo e divulgao total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrnico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.
Catalogao na Publicao
Servio de Biblioteca e Documentao
Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo
371.97 Costa, Wanderleya Nara Gonalves
C837e A etnomatemtica da alma Auwe-xavante em suas relaes
com os mitos / Wanderleya Nara Gonalves Costa ; orientao
Maria do Carmo Santos Domite. So Paulo : s.n., 2007.
270 p. : il
Tese (Doutorado Programa de Ps-Graduao em
Educao. rea de Concentrao: Ensino de Cincias e
Matemtica) - Faculdade de Educao da Universidade de So
Paulo.
1. Educao indgena 2. ndios Xavante 3. Etnomatemtica
4. Matemtica Estudo e ensino 4. Formao de professores
5. Mitos I. Domite, Maria do Carmo Santos, orient.
Folha de Aprovao
Wanderleya Nara Gonalves Costa
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante em suas relaes com os mitos
Este exemplar corresponde redao da verso
final da tese apresentada Comisso de Ps-
Graduao da Faculdade de Educao da
Universidade de So Paulo, para a obteno do
ttulo de Doutora em Educao.
rea: Ensino de Cincias e Matemtica.
Aprovada em: ____ de ________________ de 2008
Banca Examinadora:
Profa. Dra. Maria do Carmo dos Santos Domite [Orientadora]
Instituio: FE/USP Assinatura: ____________________________
Prof . Dr . Ubiratan DAmbrosio [Titular]
Instituio: FE/USP Assinatura: ____________________________
Profa. Dra. Carmem Sylvia Alvarenga Junqueira [Titular]
Instituio: PUC-SP Assinatura: ____________________________
Prof . Dr . Antnio Miguel [Titular]
Instituio: FE/UNICAMP Assinatura: ____________________________
Prof . Dr . Pedro Paulo Sandiuzzi [Titular]
Instituio: IBILCE/UNESP-RP Assinatura: ____________________________
Prof . Dr . Antnio Joaquim Severino [Suplente]
Instituio: FE/USP Assinatura: ____________________________
Prof . Dr . Mrcio DOlme Campos [Suplente]
Instituio: IFCH/UNICAMP Assinatura: ____________________________
v
queles que tem fome de saber,
queles capazes de reconhecer
e respeitar saberes distintos,
este trabalho dedico.
Agradecimentos
Por vezes dizer obrigada muito pouco, sinto-me assim agora, pois algumas
pessoas nos concedem tanto que difcil saber exatamente o qu agradecer.
Mas uma tentativa necessria, assim, sendo,...
A minha alma engrandece o Senhor, e o meu esprito se alegra em Deus
meu Salvador. Agradeo Tudo a Deus, personagem central do mito que me
sustenta e conduz.
Agradeo ainda:
Maria do Carmo dos Santos Domite, minha orientadora, pessoa para quem
o respeito ao Outro muito mais do que um discurso - uma ao constante.
Aos professores Ubiratan DAmbrosio e Carmem Junqueira, pelas sugestes
oferecidas por ocasio do exame de qualificao.
Aos amigos professores Pedro Paulo Scandiuzzi e Eduardo Sebastiani Ferreira,
no s por terem lido uma verso prvia da tese e apresentarem crticas e valiosas
sugestes, mas tambm por um pensar junto e pela realizao de uma reflexo a
respeito no s desse trabalho, mas dos caminhos que temos trilhado.
Aos professores Arthur Powell e Lafayette Moraes o primeiro pelas sugestes
e o segundo pela leitura e correo do captulo 4 (peo-lhe desculpas por algum
engano que haja permanecido).
Aos professores Marta Kohl, Idmia, Marcos Ferreira e Nilson Machado, pelos
ensinamentos que suas aulas proporcionaram.
Aos Auwe-xavante das aldeias de So Marcos e gua Branca, pela
acolhida e pelas informaes prestadas.
minha famlia: Alvacir - minha me (in memorian), pelo exemplo, confiana
e incentivos. Anbal meu pai, pelos ensinamentos. Soraya minha irm pela
cumplicidade e por presentear-nos com Csar e Vincius. Admur meu marido,
companheiro de todas as horas, leitor interessado, crtico justo e auxiliar incansvel.
Aos meus filhos: Ana Clara, Lucas e Mariana que so luzes em minha vida e alegria
dos meus dias.
Aos colegas do GEPEm, pelas discusses e pela amizade, todos me
ensinaram muito. Em especial, agradeo Cris pelas parcerias, ao Silvnio por
apresentar-me Foucault, Ktia pela companhia, ao Vanisio pela partilha de
reflexes, ao Gilberto e ao Cludio pelo carinho.
Aos colegas da Universidade Federal de Mato Grosso Campus do Mdio
Araguaia e Hilda Magalhes, da Universidade Federal de Tocantins, pelo
trabalho conjunto e cooperativo.
CAPES, pelo auxlio financeiro.
vii
Quem poderia duvidar da presena do esprito?
renunciar iluso que v na alma uma "substncia"
imaterial no significa negar a sua existncia, mas ao
contrrio, comear a reconhecer a complexidade, a
riqueza, a insondvel profundidade da herana, gentica
e cultural, bem como da experincia pessoal, consciente
ou no, as quais, juntas, constituem o ser que somos,
nico e inegvel testemunha de si mesmo.
Jaques Monod, 1999
O indivduo uma realidade nica. Quanto mais nos afastamos
dele para nos aproximarmos de idias abstratas sobre o homo
sapiens mais probabilidades temos de erro. Nesta poca de
convulses sociais e mudanas drsticas importante sabermos
mais a respeito do ser humano, pois muito depende das suas
qualidades mentais e morais. Para observarmos as coisas na sua
justa perspectiva precisamos, porm, entender tanto o passado do
homem quanto o seu presente. Da a importncia essencial de
compreendermos mitos e smbolos.
Carl G. Jung, 1964.
No buscamos no mito um sentido para a vida,
mas o mito a prpria experincia de estar vivo.
Campbell e Moyers, 1990
O sonho programou a praxis social, fato que ignoram os
ingnuos, para quem a economia s a economia e o sonho
s sonho; ignoram as transmutaes da neg-entropia, as
convenes do imaginrio ao real, do real ao
imaginrio, do fantasma praxis (o avio) e da praxis ao
fantasma (o cinema). A sociedade muito mais manipulada
por seus mitos do que os pode manipular. O imaginrio est
no mago ativo e organizacional da realidade social e
poltica. E quando, pelos seus traos informticos, o
imaginrio se torna generativo, ser ento capaz de
programar o real e, em neg-entropizando de modo
prtico, torna-se o real.
Castoriadis-Morin, 1998.
O Mito de Ariadne
Ariadne filha de Minos e Pesfae,
poderosos soberanos rodeados de uma brilhante corte;
residem num grande palcio fortificado, de geometria complexa
todos estes pormenores tem a sua importncia em Cnossos.
o centro de uma civilizao florescente que se desenvolveu em Creta entre
2400 e 1400 a. C. ,
uma civilizao capaz de mandar as suas naus por todo o Mediterrneo.
(Enciclopdia Einaudi, 1988, p. 254).
ix
Minos, rei de Creta, pai de Ariadne, recebeu de Poseidon um touro de
presente. No entanto, o deus dos mares exigiu que esse animal fosse
ofertado em sacrifcio. Minos, fascinado pela beleza do animal, negou-se a
devolv-lo. Como punio, Poseidon, por meio de Afrodite, fez com que a
esposa de Minos, a rainha Pasfae, se apaixonasse pelo touro. Ela pediu
ajuda ao arquiteto Ddalo, que fabricasse uma vaca de madeira e couro.
Disfarada de vaca, ir deslizar como uma novilha sob o touro, disse-lhe
ele. Pasfae se escondeu dentro da inveno e o touro tomou-a como sendo
uma vaca.
Dessa unio nasceu o Minotauro, metade homem, metade touro.
Para esconder o Minotauro, que tinha se tornado a vergonha de Minos, o
arteso Ddalo criou o labirinto, um estranho palcio repleto de corredores,
curvas, caminhos e encruzilhadas. Logo aps seu nascimento, o Minotauro
foi levado ao labirinto. E l ficou.
Devido ao assassinato de seu filho Androgeu, Minos imps aos
atenienses um severo castigo. Eles deveriam, a cada ano, enviar sete
rapazes e sete moas, escolhidos mediante sorteio, para alimentarem o
Minotauro. J havia trs anos que Atenas pagava o pesado tributo e suas
melhores famlias choravam a perda de seus filhos. Teseu resolveu, ento,
preparar-se para salvar seus conterrneos, oferecendo sacrifcios aos deuses
e indo consultar o orculo de Delfos. Nesta ocasio a pitonisa informou a
Teseu que ele resolveria o caso, desde que fosse amparado pelo amor.
Encorajado, Teseu fez-se incluir entre os jovens que deveriam partir para
Creta. L contou com a ajuda de Ariadne, que se apaixonou por ele e
obteve de Ddalo o segredo para sair da moradia. do monstro: o fio que
Ariadne ficaria entrada do palcio, segurando o novelo que
Teseu iria desenrolando medida que fosse avanando pelo
labirinto. Para voltar ao ponto de partida, teria, apenas, que ir
seguindo o fio que Ariadne seguraria firmemente.
Cheio de coragem, Teseu penetrou nos corredores do
labirinto e venceu o Minotauro, decepando-lhe a cabea. Vitorioso,
Teseu partiu de Creta levando em sua companhia a doce e linda
Ariadne. Entretanto, ele a abandonou na ilha de Naxos,
retornando sua ptria sem ela. Ariadne, vendo-se sozinha,
entregou-se ao desespero. Afrodite, porm, apiedou-se dela e
consolou-a com a promessa de que teria um amante imortal, em
lugar do mortal que tivera.
Ocorre que a ilha onde Ariadne fora deixada era a ilha
favorita de Dionsio e enquanto esta lamentava seu terrvel destino,
ele encontrou-a, consolou-a e esposou-a. Como presente de casamento,
deu-lhe uma coroa de ouro, cravejada de pedras preciosas que atirou
ao cu quando Ariadne morreu. medida que a coroa subia no
espao, as pedras preciosas foram se tornando mais brilhantes at se
transformarem em estrelas, e, conservando sua forma, a coroa de
Ariadne permaneceu fixada no cu como uma constelao, entre
Hrcules ajoelhado e o homem que segura a serpente.
xi
E a rainha deu luz um filho
que se chamou Astrion.
APOLODORO
1
Todos os anos, rapazes e moas eram oferecidos como alimento ao Minotauro.
Mas, porque ele se alimentaria de seres humanos? Talvez por ser metade animal.
Entretanto, sua metade animal era um touro, e touro algum se alimenta de carne.
Talvez Minos, o grande rei, tenha decidido tornar o nascimento daquele que seria
sua vergonha num episdio a seu favor. Torna-lo-ia um instrumento de manuteno do
poder. Era preciso, em primeiro lugar, que desde o nascimento o pequeno fosse afastado de
todos. Tambm seria necessria a constituio de um discurso que transformasse o
Minotauro num ser infame, temvel, responsvel por grandes crimes. Desse modo, o
prncipe seria um instrumento de terror sobre os povos subjugados. O Labirinto, seu
palcio, tornar-se-ia o smbolo do perder-se.
Mas como seria o Minotauro o Prncipe Astrion - por traz do discurso?
E o Labirinto?
1
Citado por BORGES, vol. 1, p.633.
Resumo
COSTA, Wanderleya N. G. A etnomatemtica da alma Auwe-xavante em suas relaes
com os mitos, 2007, 270p. Tese (Doutorado Programa de Ps-Graduao em Educao.
rea de Concentrao: Ensino de Cincias e Matemtica) Faculdade de Educao,
Universidade de So Paulo, So Paulo, 2008.
Esta pesquisa desenvolveu-se a partir de uma indagao acerca do relacionamento entre a
Etnomatemtica, os mitos e os ritos do povo indgena Auwe-xavante. Subjacente a essa
questo estava o objetivo de contribuir para a formao de professores que iro atuar num
ambiente onde diferente povos e culturas se relacionam cotidianamente e onde se torna
importante e necessrio desnaturalizar prticas discursivas que colaboram para a manuteno
da situao marginal em que se encontram muitos povos indgenas brasileiros. Para abordar o
problema optei pela utilizao de alguns princpios orientadores sugeridos por Ferreira Santos
(2004): a reconduo dos limites, a complexidade, a recursividade, a autopoiesis, a razo
sensvel, a multidisciplinaridade e a neotenia humana. Considero que, juntos, esses princpios
so capazes de problematizar nossos hbitos de pensamento, de argumentar em torno do
ntimo relacionamento entre pensamento mtico e pensamento lgico-matemtico, de
contrapor-se separao cartesiana entre histria e mito, de questionar a racionalidade
cientfica como modelo de pensamento e de valorizar a afetividade e a diversidade humana.
Por sua vez, a fundamentao terica deu-se a partir dos estudos de Lvy-Bruhl, Piaget e
Vygotsky sobre o relacionamento entre mente, corpo e meio. A discusso prosseguiu em
torno da exposio e do contraponto de idias sobre os Smbolos, advindas da Semitica, da
Psicologia de Jung e da Antropologia. Em seguida, como uma complementao aos estudos
histricos de Spengler (1973), foram analisadas mitocosmologias gregas, ocidental-crist e
auwe-xavante. Tais anlises deram-se em torno de categorias surgidas a partir dos prprios
mitos, da obra de Spengler e de escritos de Foucault. Algumas dessas categorias so: tempo,
nmeros, espao, smbolo primordial, teogonia e religiosidade, poder, discurso verdadeiro e
valores, dentre outros. Foi uma concepo de anlise capaz de considerar categorias to
diversas, atrelada ao mtodo e forma de relato que explora a metfora do labirinto ,
que tornou possvel considerar aspectos sociolgicos, antropolgicos e narrativos, dentre
outros, dos quais emergiram Etnomatemticas, identidades, formas de subjugar, mtodos
disciplinares, prticas discursivas e no discursivas, referncias sagradas e profanas, mticas e
histricas. Conclu ento que a Etnomatemtica dos Auwe-xavante - que tenho chamado de
Etnomatemtica Parinaia est inextricavelmente relacionada aos mitos e ritos do povo
que a produziu e produz. O reconhecimento desse fato, bem como o de que o ensino de
Matemtica veicula, alm de conhecimentos, valores, crenas, mitos, smbolos e
representaes, que nos marcam e conformam, dilaceram ou fortalecem, levaram-me a sugerir
que um maior conhecimento das Etnomatemticas implica o estudo dos mitos fundantes.
Sugiro ainda que o professor ou consultor que atue segundo a perspectiva de respeito e
valorizao das diferentes Etnomatemticas deve ressaltar os mitos subjacentes a elas. Assim,
a Educao Matemtica que ocorre junto s populaes indgenas estar buscando atuar no
sentido de respeitar a alma, a dimenso simblica da identidade dos diferentes povos.
Palavras-chave: 1. Educao indgena 2. ndios Xavante 3. Etnomatemtica 4. Matemtica
Estudo e ensino 4. Formao de professores 5. Mitos.
xiii
Wanderleya Nara Gonalves Costa natural de Salinas, Minas Gerais. Licenciada em Matemtica
pela Universidade Federal de Gois (1988), fez mestrado em Educao na Universidade Estadual de
Campinas (1998). Desde 1992 docente da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT.
Contato: wannara@ufmt.br
Abstract
COSTA, Wanderleya N. G. The etnomathematics of the Auwe-xavante soul in its
relations with myths, 2007, 270p. Tese (Doutorado Programa de Ps-Graduao em
Educao. rea de Concentrao: Ensino de Cincias e Matemtica) Faculdade de Educao,
Universidade de So Paulo, So Paulo, 2008.
This research was developed on the basis of a question about the relationship involving
etnomathematics, myths and rites of A'uwe-xavante indigenous people. Subjacent to it, was
the aim of contributing to the teachers formation that will actuate in an environment where
different people and cultures are involved daily and where it becomes important/necessary
denaturalize discursive practices that contribute to the maintenance of marginal situation
where many Brazilian indigenous people are immersed. To approach to the problem I made
the choice of using some guiding principles suggested by Ferreira Santos (2004): the return to
boundaries and limits, complexity, recurrence, autopoiesis, sensible reason, multidisciplinarity
and human neotenia. I think that all these principles allow to question our thinking habits, to
make problematic our habits, argue the intimate relationship between mythic thinking and
logical-mathematical thinking, in opposition to the Cartesian separation between history and
myth , as well as questioning mathematical rationalization as a model of thinking and of
valuating human affectivity and diversity. On its turn, theoretical foundations are located on
the study of Lvy-Bruhl, Piaget, and Vygotsky about the relationship among mind, body and
environment. The discussion went on to debate the exposition and counterpoint of ideas about
symbols, derived from Semiotics, from Psychology and Anthropology. Further, as a
complementation to the historical studies of Spengler, some Greek cosmological myths, as
also occidental/Christian and A'uwe-xavante ones. This analysis is developed around some
categories appearing from myths themselves, from the works of Spengler and writings of
Foucault. Some of the categories are: time, numbers, space, primal symbols, theogony and
religion, power, true discourse and values, as others. It constitutes a conception of analysis
able to consider many diverse categories, connected to the method and to the form of the
report (that explores the metaphor of Labyrinth), that allows having in mind sociological,
anthropological and narrative aspects, among others, from which emerged etnomathematics,
identities, ways of submitting, disciplinary methods, discursive and non-discursive practices,
sacred and profane referees , as well mythical and historical ones. I have concluded then that
the etnomathematics of A'uwe-xavante which has been called by myself as
Etnomathematics Parinaia - is inextricably related to the myths and rites of the people that
produces it. This acknowledge , as well the fact that the teaching that Mathematics brings,
beyond knowledge, values, beliefs, myths, symbols and representations, that conform and
assign us, dilacerate or strengthen, conducted me to suggest that a wider knowledge of
Etnomathematics implies the study of the grounding myths. I suggest besides that the teacher
or consultant acting by respect to the perspective and valuation of the different
etnomathematics must highlight the subjacent miths.
KEY-WORDS: 1. Indigenous Education 2. Xavante Indigenous/People 3. Etnomathematics
4. Mathematics Study and teaching 4. Teacher Education 5. Myths
xv
SUMRIO
O MITO DE ARIADNE.................................................................................................... VIII
RESUMO.............................................................................................................................. XII
INTRODUO: SOBRE ALGUMAS ESCOLHAS ......................................................... 17
DO TEMA E DO PROBLEMA............................................................................................................... 19
DO TTULO E DAS EPGRAFES ........................................................................................................... 25
DA METFORA DO LABIRINTO ......................................................................................................... 27
DOS PRINCPIOS ORIENTADORES (DO FIO DE ARIADNE) .................................................................. 29
DO PERCURSO NO LABIRINTO A ESTRUTURA DO TRABALHO...................................................... 33
CAPTULO 1: VISLUMBRANDO O LABIRINTO - A CAMINHO DE UMA
INVESTIGAO.................................................................................................................. 37
1.1 OS MITOS COMO RESPOSTA NECESSIDADE DE TRANSCENDNCIA .......................................... 39
1.2 PROCURA DE UMA CMARA OS MITOS COMO INFORMANTES.............................................. 42
CAPTULO 2: ABRINDO A PORTA DO LABIRINTO PARA CONHECER OS.... 49
AUWE-XAVANTE................................................................................................................ 49
2.1 ALGUNS ASPECTOS SCIO-AMBIENTAIS E HISTRICO-GEOGRFICOS........................................ 52
2.2 AS ALDEIAS E AS CASAS............................................................................................................. 58
2.3 A ESTRUTURA SOCIAL................................................................................................................ 61
2.4 SEU DIA-A-DIA, TAL COMO VIVENCIEI NA ALDEIA GUA BRANCA ........................................... 64
2.5 OS RITOS..................................................................................................................................... 69
2.6 OS SONHOS................................................................................................................................. 70
CAPTULO 3: NO LABIRINTO O PENSAMENTO (E SENTIMENTO) HUMANO
................................................................................................................................................. 75
3.1 DA BIBLIOTECA DE DDALO ALGUNS ESTUDOS SOBRE A MENTE HUMANA ......................... 78
3.2 ALGUNS ESBOOS DE LABIRINTOS POSSVEIS UM BREVE OLHAR PARA OS ESTUDOS DE LVY-
BRUHL, PIAGET E VYGOTSKY.......................................................................................................... 83
3.3 O TERRENO SOBRE O QUAL O LABIRINTO CONSTRUDO OS SMBOLOS .............................. 86
3.3.1 Nos caminhos da Semitica................................................................................................ 87
3.3.2 Na trilha de Jung................................................................................................................ 92
3.3.3 E numa das vias da Antropologia....................................................................................... 95
... E NA CIDADE INVISVEL................................................................................................................ 99
3.4 OS CAMINHOS TRILHADOS REFLETINDO SOBRE TEORIAS ESTUDADAS, IDENTIDADES, MITOS
FUNDANTES E RELAES DE PODER. .............................................................................................. 101
CAPTULO 4: MAIS UMA TRILHA A (A)LGICA DO MITO............................ 109
4.1 E A TRILHA SE BIFURCA... O MYTHOS E O LOGOS ................................................................ 112
4.2 UMA TOMADA DE POSIO A LGICA OU AS LGICAS?...................................................... 115
4.3 AS ESCOLHAS APS A BIFURCAO DIFERENTES LGICAS E DIFERENTES RACIONALIDADES
....................................................................................................................................................... 119
4.4 NO LABIRINTO ALGUNS CAMINHOS PARECEM INADEQUADOS O SIMBOLISMO MATEMTICO
....................................................................................................................................................... 122
CAPTULO 5: NA CMARA PRINCIPAL A MATEMTICA SIMBLICA....... 129
5.1 AS COLUNAS DA CMARA AS MATEMTICAS DE SPENGLER.............................................. 131
5.1.1 Coluna Grega A Matemtica Apolnea........................................................................ 134
5.1.2 Coluna ocidental A Matemtica Faustiana.................................................................. 136
5.1.3 Coluna rabe A Matemtica Mgica.......................................................................... 138
5.2 VISO PANORMICA DA CMARA UMA SNTESE................................................................ 141
5.3 UM INSTRUMENTO PARA OLHAR OS RECNDITOS DA CMARA OS MITOS COSMOLGICOS146
5.3.1 O recndito apolneo As cosmologias mticas gregas ................................................. 149
5.3.2 O recndito faustiano A cosmologia mtica ocidental ................................................. 154
5.3.3 O recndito auwe A cosmologia auwe-xavante......................................................... 156
CAPTULO 6: ENCONTRO COM O MINOTAURO ALGUMAS RELAES
ENTRE ETNOMATEMTICAS E MITOS.................................................................... 159
6.1 SOBRE OS PARINAIA NOMEANDO A ETNOMATEMTICA DOS AUWE-XAVANTE .................. 163
6.2 NO DILOGO EMERGEM... ......................................................................................................... 165
6.2.1 Relaes entre mitos, tempo, contagem e nmero............................................................ 166
Ilustrao 1 ............................................................................................................................ 172
Ilustrao 2 ............................................................................................................................ 174
Ilustrao 3 ............................................................................................................................ 174
6.2.2 Relaes entre mitos, teogonia, religiosidade, espao e formas ..................................... 177
6.2.3 Mitos e relaes de poder................................................................................................ 183
6.2.4 Mitos, discursos verdadeiros e discursos sobre si mesmo................................................ 188
6.2.5 Mitos e Valores ................................................................................................................. 192
6.2.6 Mitos, smbolo primordial e ligao com a realidade...................................................... 201
Ilustrao 4 ............................................................................................................................ 206
6.2.7 Mitos, Arte e criao de sentidos..................................................................................... 207
6.2.8 Teseu questiona E um exemplo de Matemtica?......................................................... 208
6.2.9 Um outro olhar ................................................................................................................ 209
6.3 SNTESE ACERCA DAS RELAES APONTADAS......................................................................... 215
CAPTULO 7: NA CMARA DOS ESPELHOS EDUCAO MATEMTICA EM
ESCOLAS INDGENAS .................................................................................................... 225
7.1 O MITO DE ORIGEM DO POVO BRASILEIRO E ALGUNS EMBATES SIMBLICOS NA CONSTRUO DA
CMARA DE ESPELHOS .................................................................................................................. 229
7.2 AINDA O EMBATE ENTRE DUAS MANEIRAS DE EDUCAR ........................................................... 238
CONCLUSO: FORA DO LABIRINTO A EXPERINCIA DE PERCORR-LO247
POR ORA, UM LTIMO OLHAR PARA O LABIRINTO.......................................................................... 249
BIBLIOGRAFIA................................................................................................................. 257
Introduo: Sobre algumas escolhas
Nicolas Poussin. Teseu encontrando as armas de seu pai.
c. 1633-34. leo sobre tela. Galeria de Uffizi, Florena, Itlia
Mulher auwe-xavante fabricando a tinta
de urucum para pinturas rituais.
A voz do cientista pode ser mais do que o
mero registro da vida tal como ela ; o
conhecimento cientfico pode constituir um
pilar que ajude os seres humanos a resistir
e a vingar.
(DAMSIO, 1996)
18 A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
Introduo: Sobre algumas escolhas 19
Wanderleya Nara Gonalves Costa
Do tema e do problema
o atravessar pela primeira vez a divisa entre Gois e Mato Grosso, em 1992,
meu olhar foi imediatamente atrado pelo Rio Araguaia e pela Serra Azul atrs
dele. O rio revelava barcos de pescadores e pessoas nadando. sua margem do lado goiano
estava uma pequena praia. Essa viso durou s um momento, enquanto o nibus atravessava
as pontes, e logo me vi imersa no cotidiano de uma pequena cidade que, no incio, mostrou-se
muito semelhante a tantas outras, mas logo observei uma grande presena de ndios.
Alguns, trafegando mal acomodados em caminhes, como mercadorias, sem assento
ou teto. Outros, andando pelas ruas, sem muita pressa. Os homens frente, seguidos pelas
mulheres. Elas, com a fora de seu pescoo, sustentavam os beros-cesta onde levavam seus
bebs. Geralmente, outras crianas as seguiam. A quem no os conhece, suas diferenas no
se mostram, so vistos como ndios, no como membros da nao be-bororo ou auwe-
xavante, ou ainda outra. S uma convivncia mais atenta permitiria, mais tarde, que eu
percebesse as peculiaridades de cada povo.
Esse tempo de convivncia tambm trouxe a informao de que eles vm de diferentes
aldeias e reservas, por vezes passam o dia entre as cidades limtrofes de Barra do Garas e
Aragaras, retornando s suas moradas ao final da tarde; noutras ocasies, ficam por dias,
hospedam-se na Casa do ndio ou nos poucos hotis que os recebem; alimentam-se nos raros
restaurantes que lhes servem, alguns poucos embebedam-se em um boteco qualquer
praticamente todos os aceitam. Os ndios e os habitantes da cidade andam lado a lado, poucas
vezes andam juntos. Muitos no-ndios (penso mesmo que a maioria) parecem ignor-los e
isso para algum como eu que nunca tivera contatos anteriores com os povos indgenas e
que, de certa forma, habituara-se a prticas discursivas que os situavam num passado colonial
ou nas matas longnquas de incio, pareceu espontneo. Mas essa minha reao inicial,
tanto quanto a de muitos que passam por situao semelhante, no natural, efeito de
discursos que trazem embutidos em si todo um processo de confrontao entre foras opostas
de dominao e resistncia, expropriao e manuteno de terras e epistemocdio e
valorizao de culturas tradicionais. So prticas discursivas e no discursivas
2
que acabam
2
Para Foucault, prtica discursiva no se refere ao concreta e individual de proferir um discurso, mas a
todo um conjunto de enunciados que moldam nossa maneira de compreender o mundo e falar sobre ele. Por sua
vez, as prticas no discursivas dizem respeito a condies sociais, econmicas, histricas e polticas, dentre
outras.
A
Introduo: Sobre algumas escolhas 21
Wanderleya Nara Gonalves Costa
por levar naturalizao de verdades, vises de mundo, prticas sociais e situaes que de
outro modo nos inquietariam. Assim, a percepo da gravidade da situao por mim
observada envolvendo os povos indgenas s viria bem mais tarde, seguida pelo incmodo,
pela indignao e pela vontade de fazer algo para evitar que cenas semelhantes voltassem a
ocorrer.
Em 2002, a Professora Hilda Dutra Magalhes, ex-colega da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT), e eu decidimos levar nossos filhos para assistir ao desfile de Sete de
Setembro na cidade de Barra do Garas. Naquele ano, talvez por causa do trabalho que se
dava nas escolas a partir dos Parmetros Curriculares Nacionais, a questo da pluralidade
cultural estava em voga e foi explorada no desfile. Ento, alunos e alunas de escolas pblicas
no-ndios foram travestidos de ndios, enquanto muitos destes permaneceram
invisveis na platia. Esse fato, pensamos minha colega e eu, negava a presena e a
atualidade da questo indgena, perpetuava prticas discursivas que ouvramos quando ramos
crianas. Decidimos agir contra elas e na Universidade propusemos projetos de pesquisa e de
extenso que tinham como foco a vida e os saberes indgenas.
Para tanto, eu me apoiava principalmente na minha experincia de mestrado, quando
realizei uma pesquisa cujo objetivo era detectar, analisar e compreender maneiras de estimar,
medir, classificar, dar formas geomtricas argila, explicar, criar e recriar algoritmos e
transmitir saberes nos momentos e nos processos de construo, decorao e comercializao
de peas de cermica por artesos do Vale do Jequitinhonha (COSTA, 1998). Assim, entre
2002 e 2004, na pesquisa coordenada pela Professora Hilda, de certa forma, retomei o tema
que tratei na dissertao de mestrado. Procurei acompanhar prticas cotidianas dos Auwe-
xavante e Be-bororo para conhecer as maneiras usadas por esses povos para estimar, medir,
ordenar, contar, classificar, explicar, criar e recriar algoritmos e transmitir esses saberes.
quela pesquisa seguiu-se uma outra, que gerou esta tese. Agora tomo como sujeito
apenas um dos povos: os Auwe-xavante. Mas penso que meu objetivo se tornou mais
ambicioso: procuro aproximar-me do entendimento da forma como sua etnomatemtica se faz
presente no s no cotidiano, mas no pensamento e no sentimento desse povo e, por fazer
parte de sua alma
3
, auxilia a definir sua prpria identidade.
Acreditando que muito das almas indgenas se manifesta em seus mitos e ritos,
busquei inicialmente verificar junto aos Auwe-xavante de que forma aqueles so vivenciados
nos diversos contextos da sua vida social, para, a partir de ento, entender as inter-relaes
3
Entendida tal como definirei mais adiante, sob o subttulo Do ttulo e das epgrafes.
22 A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
existentes entre mitos e ritos xavantes e a sua Etnomatemtica. Volto-me, ento, para seres
que pensam, sentem, sonham, decidem, participam, crem e fazem, focalizando de modo
especial as relaes entre os pensamentos mtico e etnomatemtico dos Auwe-xavante.
Ao longo deste trabalho, os mitos foram tomados como uma linguagem simblica
capaz de tornar o mundo apreensvel. Por sua vez, uma Etnomatemtica, nesse contexto, vem
sendo compreendida por mim como um conjunto de idias, conhecimentos e fazeres
relativos a classificao, inferncia, ordenao, explicao, modelao, contagem, medio e
localizao espacial e temporal que se origina, vive e se renova a partir das necessidades
que as pessoas sentem de sobrevivncia e transcendncia, necessidades estas que ocorrem
num contexto histrico e cultural indissocivel da linguagem utilizada por um determinado
grupo; dos cdigos de comportamento adotados; das prticas sociais; dos valores; dos mitos e
ritos; dos conhecimentos modificados ou apreendidos por meio da dinmica cultural do
encontro; das relaes de poder que se estabelecem entre o grupo e a natureza, entre as
pessoas do prprio grupo e entre o grupo e outros grupos; da arte e da religiosidade do prprio
grupo, bem como de outros conhecimentos e manifestaes culturais compartilhados por
membros seus
4
.
Uso o termo Etnomatemtica, e no Matemticas, por entender que tradicionalmente
a palavra Matemtica se refere a um conjunto de conhecimentos que faz uso, necessariamente
e sempre, de uma linguagem artificial que se afasta da linguagem cotidiana, utilizando-se
principalmente de signos, como discutirei mais adiante. Alm disso, o primeiro termo, ao
contrrio do segundo, no impe a necessidade de provas e demonstraes. Por outro lado,
entendo que a Matemtica pode ser compreendida como uma das Etnomatemticas, um tipo
especfico de Etnomatemtica que se submete, sempre e necessariamente, s caractersticas
especficas acima citadas.
Mesmo conscientes dessas diferenas, alguns estudiosos acerca das Etnomatemticas
tm preferido utilizar-se do termo Matemticas, argumentando que as diversas prticas sociais
que se do no interior de diferentes grupos apresentam tanto similaridades quanto diferenas
com os saberes presentes nas prticas especficas que tradicionalmente chamamos de
Matemtica. A partir da, consideram que o uso da denominao Matemtica tem um carter
simblico e poltico que serve para fazer uma contraposio ao conhecimento do
dominante. Mantendo algumas dvidas a esse respeito, pelo menos por hora, divirjo desse
4
Por outro lado, uso o termo idias matemticas de um modo muito prximo ao de Etnomatemtica. Ressalto,
entretanto, a existncia de vrios conceitos de Etnomatemtica, alguns mais amplos e outros mais restritos do
que o aqui colocado. O mesmo talvez seja vlido tambm para o conceito de mito.
Introduo: Sobre algumas escolhas 23
Wanderleya Nara Gonalves Costa
posicionamento, visto que: a) penso que o uso da palavra Matemticas continua a camuflar as
diferenas, quando importa focar as diversidades sob o pano de fundo das similaridades, e no
o contrrio; b) creio que falar em vrias Etnomatemticas, denominando a cada uma delas,
tambm possui um forte carter simblico e poltico, pois, mais do que relevar ou reconhecer
a diversidade da natureza de um certo conhecimento, individualiza-o, inserindo-o, em toda a
sua especificidade, numa rede de discursos estratgicos.
De qualquer forma, importante ressaltar que, seja usando o termo Etnomatemtica
ou Matemticas, aqueles que voltam suas pesquisas para a compreenso das diferentes
maneiras que os grupos humanos usam para contar, classificar, inferir, ordenar, explicar,
medir e localizar-se, esto sob o abrigo do Programa Etnomatemtica. DAmbrosio (2001)
usa esta denominao para referir-se a um programa de pesquisa que busca o conhecimento e
a compreenso dos modos de gerao, transmisso, institucionalizao e difuso desses
conhecimentos e assim que esse termo dever ser compreendido no bojo deste trabalho.
Enfim, foi a partir dos conceitos de mito e Etnomatemtica que aqui assumo,
conforme acima explicitados que formulei a seguinte questo de pesquisa:
Como a Etnomatemtica dos Auwe-xavante se relaciona
com os mitos e ritos desse povo?
Faz-se necessrio explicar que, ao colocar a questo acima, um objetivo maior estava
presente e ele se refere apenas indiretamente educao escolar indgena. No primeiro
contato que tive com cada aldeia pesquisada (2002), nas conversas com o cacique da aldeia
So Marcos e nas explicaes em frente aos lderes reunidos no centro da aldeia de gua
Branca, procurei deixar claros a eles os meus objetivos. Repito agora, talvez no com as
mesmas palavras, o que lhes disse a esse respeito.
Tenho uma parcela de responsabilidade na formao de cada um dos professores e
professoras de Matemtica licenciados pelo instituto onde trabalho e observo que alguns deles
recebem em suas salas de aula nas cidades da regio de Barra do Garas, General Carneiro,
Canarana, gua Boa e outras, muitos ndios, principalmente os Auwe-xavante, que se
dirigem s cidades para completar sua formao escolar. Alm disso, creio que os professores
podem e devem discutir com seus alunos no ndios as relaes entre a comunidade local e as
comunidades indgenas, pois, afinal, essa relao muito prxima. No entanto, na formao
desses professores no se discute de forma sistemtica o ensino de Matemtica para
populaes diferenciadas e tampouco a discriminao e a violncia por eles sofrida
ou os
24 A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
discursos constitudos acerca deles. Penso que, se isso ocorrer, alguns problemas recorrentes
na relao entre aluno ndio e professor no ndio podem ser evitados
5
.
Expliquei, ento, aos lderes, que minha tentativa a de conhecer sua histria, sua
cultura, seus problemas, sentimentos, mitos, ritos, aspiraes e conhecimentos
etnomatemticos, para poder discutir acerca deles com os meus alunos e alunas alguns
deles talvez futuros professores(as) de seus jovens. Penso que dessa forma poderei contribuir
para que o medo ou o desprezo desses professores(as) possa ser substitudo pelo respeito pela
cultura e pela causa indgenas, para que os adolescentes ndios que se dirigem s cidades para
estudar sejam mais bem acolhidos e compreendidos, at que consigam construir, nas suas
prprias aldeias, a escola que almejam (se a almejarem) e, ainda, para que nas suas visitas s
cidades eles possam ser olhados por alguns de um modo mais respeitoso e, quem sabe, at
com admirao por sua cultura. Sobretudo, creio que a Universidade e a escola podem atuar
junto aos seus educandos de modo a auxiliar na desconstruo de prticas discursivas que
afastam os povos indgenas da atual realidade brasileira e nos fazem alheios sua presena,
levando-nos a uma apatia frente aos graves problemas que eles vivenciam.
Desse modo, de maneira sinttica, pode-se dizer que meu principal objetivo :
conhecer e compreender mais profundamente o pensamento etnomatemtico auwe-xavante
como forma de contribuir para a formao de professores que iro atuar num ambiente plural
onde diferentes povos e culturas se relacionam cotidianamente e onde se torna importante
e necessrio desnaturalizar prticas discursivas que contribuem para a manuteno da situao
marginal em que se encontram muitos povos indgenas brasileiros.
Cabe colocar ainda que, embora este trabalho seja situado junto a um povo num
determinado contexto, ele pode servir de instrumento de reflexo para professores(as),
professores(as) formadores e/ou pesquisadores(as) que atuam em outras regies, junto a
outras populaes de minoria
6
, amparando-os na sua relao com estas. Pode, ainda,
contribuir para manter ativa a indagao desses profissionais, sua crtica e, talvez, sua
indignao face s situaes vivenciadas por tais populaes, tornando-os, quem sabe,
ativadores de um desejo de transformao ou ainda, instrumentos capazes de constituir um
pilar que ajude os seres humanos a resistir e a vingar. Afinal, h que se assumir que resistir
5
Um exemplo contundente ocorre com a relao entre o professor no ndio e o aluno Auwe-xavante em
perodo de recluso. Esse aluno, ritualmente, dever falar o menos possvel um costume que deve ser
respeitado por seus professores e colegas. No entanto, a maioria dos professores no sabe desse costume, tenta
relacionar-se com o adolescente Auwe-xavante da mesma forma que se relaciona com outros adolescentes, o
que pode ocasionar alguns problemas e desconfortos.
6
No necessariamente no sentido numrico, mas sim de representao seja no cenrio poltico, econmico,
acadmico e/ou social, dentre outros.
Introduo: Sobre algumas escolhas 25
Wanderleya Nara Gonalves Costa
a uma ao de poder significa problematizar tal ao, valendo-se, para isso, tambm do
poder! (VEIGA-NETO, 2006, p.22) nesse caso, do poder-saber.
Explicitadas as situaes que levaram escolha do tema e do problema aqui
abordados, penso que tambm importante falar sobre o ttulo escolhido para este trabalho.
Do ttulo e das epgrafes
Um ttulo a porta de entrada para um texto, mas tambm o seu anncio, a sua
promessa, a sua oferta, a sua denominao, [...]. uma direo de leitura. [...] Uma estratgia
discursiva. E um exerccio de poder, diz Urrutia (2000). Isso tudo verdade, mas o ttulo que
escolhi tambm , em parte, uma provocao.
Se no passado colonial o termo alma assumia um significado etnocntrico, de que
deveria haver uma alma humana nica e com caractersticas prximas dos europeus ,
hoje/aqui esse termo deve ser entendido de outra forma. De uma forma que no permite
pensar numa alma humana nica, universal, mas em vrias formas de humanidade, de
racionalidade, de identidade. Essas diferentes almas humanas indgenas ou no no so
dadas a priori: resultam de prticas discursivas e no discursivas, de diferentes relaes com o
ambiente fsico, social, histrico e cultural. No so, portanto, nem nicas, nem fixas e nem
estveis; mas plurais, contingentes e mutveis. A alma ento entendida como uma produo
scio-histrico-cultural que se materializa no corpo, em instituies, em prticas sociais e no
imaginrio. Por essa razo, no h aqui a tentativa de uma discusso ontolgica acerca do que
venha a ser a alma; mas, sim, a busca por visualizar os deslocamentos histricos dos corpos e
das almas indgenas, a partir de prticas discursivas e no discursivas que tenham como foco
seus mitos e seus saberes.
Lembremos, contudo, que, considerando a primeira acepo acima colocada para o
termo alma, no incio da sua atuao nas Amricas, europeus debateram sobre o problema de
os ndios a possurem ou no. John Major, Juan de Quevedo e Juan Gins de Seplveda, entre
outros, argumentavam que os ndios de hbitos to selvagens quanto o nomadismo e a
poligamia no possuam alma. Muitos religiosos acreditavam, entretanto, que a postura
desumana e irracional dos ndios era mais por falta de cultura que de natureza humana;
problema que poderia ser corrigido pela converso e pelo ensino. (PCORA, 1994, p. 427).
A idia mais aceita era a de que, inicialmente, os ndios no possuam uma alma em
toda a sua plenitude, e que esta s se faria presente aps o seu batismo, sua converso, a
substituio de seus mitos pelos mitos cristos, de seus hbitos por outros civilizados. Os
26 A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
jesutas acreditavam que era seu dever ajudar os ndios a obterem uma alma, faz-los evoluir,
de uma condio prxima de um animal, condio humana. Procuravam faz-lo a partir de
seus prprios sacrifcios, julgavam estar sendo amorosos e piedosos, no conseguiam perceber
a violncia psicolgica que praticavam (GAMBINI, 2000).
De certa forma, essa idia de que necessrio fazer com que os ndios nos
imitem, espelhem-se em ns , com algumas variaes, sempre esteve presente na
educao escolar indgena. por essa razo que, passadas centenas de anos, o debate em
torno de outras questes que nos levem a conhecer melhor os povos indgenas, a perceber
melhor as suas almas, as suas identidades e seus conhecimentos ainda se coloca. Este trabalho
constitui um convite e uma possibilidade de reflexo a esse respeito, chamando ateno para
isso j a partir de seu ttulo. Porm, o refletir impe uma busca por uma melhor apreenso do
visto, percebido, vivido, e/ou sentido bem como daquilo que ainda no foi compreendido
e requer um aprofundamento terico. As epgrafes que coloquei, de certa forma, resumem
parte da teoria utilizada neste trabalho. Como se poder observar, a terceira etapa desta
trajetria est colocada numa seqncia que muito se aproxima das epgrafes.
Procurando compreender de forma mais profunda a Etnomatemtica auwe-xavante,
voltei-me para o estudo dos mitos desse povo. Estava presente a hiptese de que mitos e ritos
trazem em seu bojo idias, concepes e posturas que se refletem na gnese dos
conhecimentos etnomatemticos. Ou, de outro modo, a pesquisa iniciou-se a partir da idia de
que os mitos e tambm os ritos influenciam de forma essencial e profunda na produo
do conhecimento, inclusive etnomatemtico, dos vrios povos.
Tal como Campbell, eu vislumbrava nos mitos no um sentido para a vida, mas a
prpria experincia de estar vivo. Ao estud-los, fui informada de que eles constituem
smbolos; percebi, ento, de modo muito prximo ao de Jung, que, quanto mais nos
afastamos dele [do indivduo] para nos aproximarmos de idias abstratas sobre o homo
sapiens, mais probabilidades temos de erro. Desse modo, vi que a verdadeira compreenso
dos mitos indgenas no poderia se dar a partir de um olhar somente direcionado a eles. Foi
ento que, tal como Jaques Monod, procurei refletir acerca da importncia do crebro em sua
ligao com a mente e o ambiente sociocultural em que todo e cada ser humano se
desenvolve, abarcando, inclusive, a discusso acerca das identidades e das diferentes
racionalidades.
Por sua vez, ao citar Castoriadis-Morin, no me refiro particularmente ao
encaminhamento terico dado neste trabalho. Sua fala aproxima-nos dos ndios pesquisados
Introduo: Sobre algumas escolhas 27
Wanderleya Nara Gonalves Costa
para os quais o sonho nunca s sonho , ao mesmo tempo que nos imprime a esperana
de uma prxis emancipadora.
Assim foram escolhidos ttulo e epgrafes.
Mas, tanto nos momentos que antecedem uma pesquisa, quanto no perodo em que ela
efetivamente ocorre, so tomadas vrias decises. Seu relato tambm requer a tomada de
decises, entre as quais est a forma que este assumir escolha esta de que tratarei a seguir.
Da metfora do labirinto
Ao iniciar a redao deste trabalho sentia-me incomodada por o estar construindo
segundo um encadeamento compartimentalizado e linear de introduo, fundamentao
terica, anlise e concluso. Parecia-me que, ao dividi-lo desta forma desconsiderando as
dvidas, as imbricaes, as recorrncias, a complexidade e a simultaneidade dos fenmenos e
das decises , empobrecia-o e mutilava-o.
Pensei em utilizar uma via intermediria, que de certa forma conservasse o carter de
um relato cientfico tradicional, mas que, paralelamente, concedesse-lhe mais flexibilidade,
liberdade e, sobretudo, a idia de que as diferentes partes no esto entrelaadas de maneira
linear, numa relao simples de antes e depois. Para tanto, busquei inspirao na oralidade, o
que me levou a um tipo de relato que valorizasse a memria e a ateno, permitisse o trnsito
entre o tempo passado e o presente, valorizasse a recorrncia do tema, admitisse retorno e
paralelismo e se desdobrasse diante de si. Identifiquei nessas caractersticas as mesmas
existentes nos relatos mticos. Decidi-me, ento, pela utilizao de uma metfora que
associasse o relato de minha pesquisa a um conto mtico num trnsito constante entre o
real e o imaginrio.
Lembrando que a metfora o contato momentneo de duas imagens, no a metdica
assimilao de duas coisas (BORGES, 1998, p, 43), procurei, sempre que possvel, apontar
semelhanas entre as imagens. Parecia-me desejvel, pois, utiliz-la. Estava presente tambm
a idia de que "a metfora com freqncia um modo afetivo e concreto de expresso e
compreenso. [...] Faz navegar o esprito atravs das substncias, atravessando as barreiras
que encerram cada setor da realidade; ultrapassa as fronteiras entre o real e o imaginrio.
(MORIN, 1999, p.173/174)
7
.
7
Como se percebe, neste trabalho, o entendimento do que seja metfora se afasta daquele que se tem observado
em pesquisas que se apiam numa concepo de sociedade vinculada essencialmente ao processamento de
informaes e que na Educao Matemtica tem encontrado lcus especial na PUC-SP.
28 A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
Observei que a utilizao desse expediente poderia diminuir minhas inquietaes
quanto forma do relato; entretanto, uma nova dificuldade se imps, ao considerar as vrias
alternativas de que dispunha: mito de que povo utilizar? Duas possibilidades colocavam-se: a
utilizao de um mito auwe-xavante ou do mito de uma outra cultura. Ao decidir-me pela
segunda opo, pesou sobremaneira o argumento de que dessa forma, antecipada e
silenciosamente, tomaramos contato com os conceitos tanto de smbolo quanto de arqutipo.
Em vista disto, a opo que considerei mais apropriada foi a utilizao de um mito oriundo da
cultura grega cultura que tambm foi utilizada nas anlises efetuadas ao longo deste
trabalho. Dentre os vrios mitos possveis, escolhi o de Ariadne em sua relao com o
smbolo do labirinto e a figura do Minotauro ver o Mito de Ariadne nas pginas iniciais
que j vm sendo utilizados com certa constncia nas pesquisas em Neurocincias,
Computao e Educao.
O labirinto pareceu-me especialmente interessante, pois o ato de pesquisar no pode
ser comparado a um caminhar numa estrada reta rumo a uma verdade. A pesquisa
uma busca constituda de desvios, descobertas, reinvenes ou aberturas de trilhas que podem
se bifurcar, correr em paralelo, transformar-se e levar-nos a novas experincias e encontros.
Assim, a metfora escolhida evoca o fato de que todo caminho para a compreenso
tortuoso, lacunar, incerto; permitindo argumentaes em favor da pluralidade de recursos que
nutrem ou podem nutrir a angustiante necessidade de compreender o mundo, as pessoas, a ns
prprios (GARNICA, 2005, p.6).
verdade, entretanto, que existem vrias formas de labirinto. Alguns possuem centro,
outros no; uns podem ser construdos com encruzilhadas e corredores, outros so unicursais,
planos ou em andares. Alm disso, existem diferentes maneiras de percorrer um labirinto:
buscando um objetivo pr-determinado ou explorando o espao em busca de novas
descobertas; como experincia infinita ou com retorno. Assim, a metfora que associa
pesquisa e labirinto permite perceber a escolha de caminhos, vislumbrar formas de conhecer,
de construir conhecimentos e de atribuir-lhes significados. Ao articular a analogia proposta,
no me interessa fazer comparaes constantes, passo a passo, mas, sim, fazer com que uma
imagem inspire a outra, levando-nos a questionar no s os caminhos tomados na pesquisa,
mas tambm a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, a no-linearidade, o dilogo e o
discurso nela presentes. Essas importantes questes no so o foco deste trabalho, mas sob o
meu ponto de vista, no h como esquec-las.
A multidisciplinaridade, e por vezes a interdisciplinaridade, faz-se presente na
pesquisa que realizei, pois vrias reas de conhecimento foram necessrias para a
Introduo: Sobre algumas escolhas 29
Wanderleya Nara Gonalves Costa
compreenso do objeto de pesquisa explorado. Que dizer ento da no-linearidade, da
presena do impondervel no trabalho emprico, da inexistncia de uma seqncia nica de
coleta de dados, de anlise do material e de apresentao do resultado? E das vrias
possibilidades de realizao do objetivo proposto, bem como da escolha de uma dentre as
mltiplas seqncias possveis para a apresentao escrita do trabalho?
O dilogo, o enriquecimento a partir de opinies, a ampliao de concepes e a busca
de novos aspectos contrapuseram-se viso de um pesquisador como autoridade para falar
do outro. De maneira especial, chamo a ateno para o fato de que o discurso, em particular
o meu discurso ao narrar a pesquisa realizada, no pode sobrepor-se a outras formas de
expresso, utilizao de todos os sentidos para melhor compreender a realidade indgena.
Ainda com relao ao discurso, lembro que o contedo de um texto reinventado na
interao, do mesmo modo como o labirinto reconstrudo a partir de cada percurso
escolhido.
Ressalte-se tambm que diferentes significados podem ser atribudos experincia de
percorrer um labirinto, seja por aquele que se sente perdido ou pelo curioso que explora, ou
ainda por quem tem o labirinto como casa ou como priso (HAVT. A. e outros, 2004).
Particularmente, entendo que um labirinto pode ser visto como um espao propcio para a
explorao e a investigao; no entanto, reconheo que muitos o vem como uma construo
tortuosa que desorienta as pessoas. , pois, extremamente importante que o explorador se
muna de um fio de Ariadne.
Para a realizao da pesquisa a que me dispus, escolhi meu fio de Ariadne no
um mtodo, mas princpios orientadores. Confiante no auxlio desse fio, transpus portas,
caminhei por vrias trilhas, fazendo um caminho s meu, dirigindo-me para meu objetivo,
para uma porta de sada uma resposta para a questo de pesquisa colocada. Falarei, a
seguir, sobre a tessitura desse fio.
Dos princpios orientadores (Do fio de Ariadne)
Por vezes os mtodos de pesquisa so definidos como algo prximo a um algoritmo,
uma ordem que deve ser seguida numa investigao cientfica, uma marcha racional da
inteligncia para se chegar ao conhecimento ou demonstrao de uma verdade
8
. Optei por
no seguir um mtodo (ou algoritmo), mas sim um fio ou, de outra forma, alguns princpios
8
BUENO, F. S. Dicionrio Escolar da Lngua Portuguesa. MEC.1975.
30 A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
orientadores capazes de auxiliar na definio de um caminho. O fio princpios orientadores
malevel, poder metamorfosear-se, adaptar-se melhor natureza do objeto os mitos.
Tal objeto no pode ser dominado por meio de uma estrutura de pesquisa ou de relato, ele se
manifesta a todo e qualquer momento, movimenta-se, livre, no suporta ordenao e
domnio completo, impe retornos. Afinal, como coloca Feyrabend (1989, p.20), "um meio
complexo, onde h elementos surpreendentes e imprevistos, reclama procedimentos
complexos e desafia uma anlise apoiada em regras que foram estabelecidas de antemo e
sem levar em conta as sempre cambiantes condies da Histria".
Entretanto, no estou propondo o mtodo do vale-tudo de Feyrabend (1989). Existem
parmetros para a ao, existe um fio de Ariadne sujeito mutao, aos contornos que um
rgido mtodo no permitiria. A tessitura desse fio coube a Ferreira Santos (2004).
Ele afirma que estamos em um instante de mudanas paradigmticas e assinala que o
momento de abandonar o ensino escolar como forma de transmisso de conhecimentos
acabados, repletos de certezas e verdades incontestes e evidentes. Para tanto, Ferreira Santos
sugere a utilizao daquilo que chama de gradiente holonmico. Para elucidar o significado
do termo utilizado, ele explica que holon significa todo integrado e toma emprestado um
pequeno trecho da obra de Merleau-Ponty para deixar claro o significado da palavra
gradiente nesse contexto:
O gradiente uma rede que se lana ao mar sem saber o que ela recolher.
Ou ainda, o dbil ramo sobre o qual se faro cristalizaes imprevisveis.
Esta liberdade de operao certamente est em situao de superar muitos
dilemas, vos, contanto que, de quando em vez, se faa o ajustamento,
pergunte-se por que o instrumento funciona aqui e fracassa alhures; em
suma, contando que essa cincia fluente se compreenda a si mesma, se veja
como construo sobre a base de um mundo bruto ou existente, e no
reivindique para operaes cegas o valor constituinte que os conceitos da
natureza podiam ter numa filosofia idealista. (MERLEAU-PONTY citado
por FERREIRA SANTOS, 2004, p. 25)
Em seguida, Ferreira Santos (p.25/26) expe os princpios daquilo que chamou de gradiente
holonmico:
- A reconduo dos limites: no se trata de anulao ou desconsiderao da lgica
aristotlica ou do pensamento cartesiano, mas de ampliar as alternativas.
- A complexidade: no sentido de Morin, como forma de utilizao de outras bases lgicas
para a compreenso do processo ordem-desordem-organizao.
- A recursividade: segundo a forma explicada por Morin, que ultrapassa a dialtica da
acomodao, mas que mantm o conflito em nveis de correo de forma espiral, sempre
antagonista e ao mesmo tempo complementar.
Introduo: Sobre algumas escolhas 31
Wanderleya Nara Gonalves Costa
- A autopoiesis: segundo o sentido dado por Humberto Maturana, que permite analisar a
dinmica prpria dos organismos culturais, institucionais, sociais ou biticos , sem
sacrific-la aos determinantes extremos.
- A razo sensvel: a partir de Maffesoli
9
e Bachelard como forma de superar a
dicotomia entre sujeito e objeto, corpo e mente, razo e afetividade; e como uma
alternativa para captar a racionalidade dos processos simblicos.
- A multidisciplinaridade
10
: como forma de trabalho que permite o dilogo entre vrias
reas do conhecimento sem que essas percam suas especificidades.
- A neotenia humana, que
[...] o horizonte de trabalho, pois o inacabamento primordial do ser humano
que explica o alcance das contribuies provisrias da prtica cientfica, da
reflexo filosfica e da prxis educativa, sob pena de reeditarmos prticas
etnocntricas de marginalizao, excluso ou, de sua forma mais explcita,
de extermnio. (FERREIRA SANTOS, 2004, p.26)
Sob o meu ponto de vista, a proposta de Ferreira Santos interessante no s para a
prtica educativa, mas tambm para um estudo que toma como objeto os mitos, pois, como
ele prprio argumenta, essa sugesto, por considerar o homo symbolicus, privilegiando a
diversidade humana, viabiliza uma atitude de insatisfao com a forma como o conhecimento
tratado e incorpora os questionamentos postos pela Antropologia.
Assim, conduzi a pesquisa pelos princpios acima apresentados, utilizando uma
perspectiva mltipla que toma emprestados elementos das Cincias Cognitivas, da Histria,
da Antropologia, da Filosofia e da Sociologia. Nessa perspectiva procurei, sempre que
possvel, ressaltar, em termos epistmicos, as alternativas possveis, os elos que faltavam para
uma melhor compreenso da Etnomatemtica do povo considerado, em suas relaes com os
mitos e ritos.
Em vrias ocasies mantive contatos com os ndios durante suas constantes visitas s
cidades de gua Boa e Barra do Garas, expandindo, dessa forma, minhas relaes com os
Auwe-xavante. Algumas vezes eles estiveram como convidados e palestrantes no Instituto
onde trabalho. Dentre essas ocasies destaco a realizao do I Seminrio ndios do Araguaia:
Mitos e Realidade e as reunies do Grupo Contadores de Histrias. Especialmente
importantes foram as visitas a algumas aldeias. Em So Marcos as visitas foram rpidas, eu
9
Para restabelecer o equilbrio entre o corpo e a alma, entre o pensamento intelectual e o sentimento, segundo
Maffesoli (1998), necessria a razo sensvel, isso , um modo de pensar que no dilacere o ser humano,
mas que trabalhe com a tenso dinmica entre essas duas dimenses das pessoas.
10
O autor fala mesmo em multidisciplinaridade, embora, talvez, o termo interdisciplinaridade seja o mais
adequado para esse caso.
32 A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
regressava da aldeia ao final do dia; mas em gua Branca, alm de visitas rpidas, numa
ocasio, fiquei por sete dias ininterruptos. Em todas as oportunidades realizei vrias
entrevistas, mas creio que os momentos em que mais aprendi sobre os Auwe-xavante foram
aqueles em que eu simplesmente estava junto deles, participando do seu dia-a-dia. Valiosas
eram as ocasies em que eles, por sua prpria vontade, ao anoitecer, procuravam-me para
ensinar sobre a sua cultura. Nesses momentos, entre os quais saliento aqueles proporcionados
pelo Sr. Tibrcio, eles decidiam o que era importante que eu soubesse, deixavam-me perceber
em que consistiam suas paixes, seu orgulho e, durante as participaes no war, as suas
preocupaes.
Os ndios mais jovens permitiam a utilizao de gravadores e mquinas fotogrficas;
os mais velhos, contudo, recusavam tais instrumentos. Mesmo um dos ndios mais jovens, que
compositor e trabalha na escola de gua Branca, recusou-se a permitir a gravao de uma
msica sua. Posteriormente um de seus amigos contou-me que um comerciante de Barra do
Garas havia gravado suas apresentaes e estava comercializando a fita sem a autorizao do
msico e sem compartilhar com ele os lucros obtidos. Compreende-se por que, inicialmente,
ele se mostrou arredio ao contato e sua atitude s se modificou mais tarde, por meio de
brincadeiras e gozaes, quando eu j conhecia um pouco o senso de humor de seu povo.
Aps esses momentos ele procurou-me, presenteando-me com uma gravata auwe-xavante e
um colar. Entre todos os presentes que ganhei dos Auwe-xavante, talvez esses tenham sido os
que mais me marcaram, excetuando aqueles oferecidos por Z Pedro, o mais velho da aldeia
gua Branca, que me enfeitava com pulseiras (cordes de buriti) e depois dizia, na sua lngua,
que eu era amiga dos Auwe-xavante.
Mas ressalto que no houve a tentativa de fazer um trabalho de cunho etnogrfico,
embora na pesquisa anterior realizada junto a eles cujos dados so em parte aqui utilizados
eu tenha utilizado esse mtodo. Tambm no procurei coletar os mitos desse povo; isso foi
realizado de modo intenso e cuidadoso tanto por padres salesianos quanto por antroplogos, o
que levou produo de uma vasta bibliografia da qual fiz uso.
No que diz respeito aos conhecimentos etnomatemticos, os estudos realizados por
mim em pesquisa anterior ofereceram a maior parte dos dados aqui considerados, embora
trabalhos de alguns colegas, dentre os quais destaco Silva (2005), sejam tambm utilizados.
Quanto aos mitos e ritos citados ao longo deste trabalho, para conhec-los recorri
principalmente aos estudos dos padres salesianos em especial Giaccaria e Heide (1972 e
1975) e aos de antroplogos que tm se empenhado nesse tipo de estudo notadamente,
Shaker (2002). Minhas idas s aldeias durante esta pesquisa tinham como objetivo sentir o
Introduo: Sobre algumas escolhas 33
Wanderleya Nara Gonalves Costa
povo mais de perto, observar o ambiente no qual a Etnomatemtica, os mitos e ritos so
vividos e no uma coleta mais sistemtica de dados.
Falarei agora sobre uma nova escolha: a da estrutura do relato da pesquisa.
Do percurso no labirinto A estrutura do trabalho
Antes de entrar num labirinto, o explorador tem uma viso externa da edificao,
contempla-o, tentando vislumbrar seus segredos para, s mais tarde, sentindo-se curioso e
encorajado, atravessar a porta de entrada. Em Vislumbrando o labirinto A caminho de
uma investigao, falo sobre esse olhar curioso, sobre minhas inspiraes para realizar a
pesquisa, para entrar no labirinto. Discuto, ento, brevemente, o mito, tanto como resposta
necessidade humana de transcendncia, quanto como informante para as pesquisas em
Antropologia e do Programa Etnomatemtica.
A entrada na edificao s se far por meio do segundo captulo: A porta do labirinto
Para conhecer os Auwe-xavante. A vida e a histria desse povo, isto , o ambiente em
que conhecimentos etnomatemticos, mitos e ritos foram e so vivenciados, constituem a
porta que atravessei para entrar no labirinto ou, de outra forma, para tentar compreender mais
profundamente o pensamento etnomatemtico indgena a partir do pensamento simblico.
A tentativa de compreender melhor o pensamento humano a explorao mais
profunda do labirinto. Ela se deu a partir do estudo dos smbolos, j que o pensamento
humano essencialmente simblico. As idias de alguns pesquisadores a respeito do
pensamento simblico so as trilhas do labirinto, os caminhos para conhec-lo mais
profundamente. Desse modo, em No labirinto O pensamento (e sentimento) humano, o
captulo 3, descrevo cada uma das trilhas percorridas por mim no interior da edificao.
Entretanto, o labirinto no se resume s trilhas que percorri: bem mais amplo e as
escolhas poderiam ter sido outras. Nem sempre explorei uma trilha em toda a sua extenso; ao
contrrio, ao encontrar algumas bifurcaes ou entrecruzamentos, senti-me vontade para
buscar novos caminhos. Com isso quero dizer que fiz algumas opes tericas entre as muitas
que se apresentaram e que vrias vezes me ative a explorar apenas uma pequena parte da obra
dos autores utilizados. Outras vezes no havia opo. Ocorre que num labirinto, s vezes, um
caminho se sobrepe aos outros, insinuando-se a todo explorador. Foi por meio de um
acontecimento assim que me vi, no quarto captulo, andando em Mais uma trilha A
34 A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
(a)lgica do mito. Essa trilha trata da discusso acerca da consistncia ou inconsistncia
lgica dos mitos e, tambm, do uso de smbolos lgico-matemticos.
Em Na Cmara Principal A Matemtica Simblica, o captulo de nmero 5,
volto-me para a Matemtica, discutindo sua dimenso simblica. Para isto tomo como
referncia, alm da obra do historiador alemo Oswald Spengler tambm professor de
Matemtica e de Fsica , o que aprendi at ento nas trilhas do labirinto: os estudos sobre
smbolos. Este captulo constitui, sob o meu ponto de vista, um lugar especial: mais do que
uma trilha ou um conjunto delas, um ambiente mais amplo, uma verdadeira cmara do
labirinto, em que argumento acerca da necessidade de acrescentar os mitos rede simblica
tomada por Spengler. Ao faz-lo, explico a opo pelos mitos cosmognicos e narro
mitocosmologias gregas, crists e auwe-xavante.
A anlise comparativa entre as narrativas mticas gregas, crists e auwe-xavante ser
relatada no captulo 6, intitulado Encontro com o Minotauro Algumas relaes entre mitos
e Etnomatemticas. Essa comparao d-se tanto a partir das prprias categorias de anlise
tomadas por Spengler quanto por outras, que surgiram no decorrer dos estudos. Por meio de
uma comparao que usa categorias advindas no apenas da fundamentao terica, mas
tambm de diferentes situaes vividas ou percebidas, neste captulo evidencio algumas das
relaes existentes entre as mitocosmologias e os conhecimentos etnomatemticos dos Auwe-
xavante. Ofereo, ento, uma resposta questo colocada e, finalmente, encontro o
Minotauro, o habitante do labirinto, sempre percebido, mas no visto ao longo da explorao.
possvel compreender ento que ele o Outro, o diferente de ns, aquele sobre o qual
ouvimos falar, aquele cujo encontro revela caractersticas diversas e por vezes desconhecidas
mas que geralmente temos dificuldade em apreciar e, at mesmo, em aceitar.
A sada do labirinto dar-se- por meio do captulo 7, Na Cmara dos Espelhos
Educao Matemtica em Escolas Indgenas. Nele, utilizo uma perspectiva histrica e tomo
os resultados encontrados na pesquisa para empreender algumas reflexes que tm como
cenrio o ambiente escolar. Ainda neste captulo apresento as concluses a que cheguei.
Um ponto final ao trabalho colocado a partir de Fora do labirinto Refletindo
sobre a experincia de percorr-lo.
Na iminncia de iniciar o relato da pesquisa realizada, lembro que os exploradores que
se aventuram num labirinto no recebem um mapa, no lhes oferecida uma seqncia
numerada dos caminhos que compem a edificao. Mas neste trabalho os captulos esto
numerados, o que facilitar futuras referncias. Entretanto, essa numerao diz respeito
Introduo: Sobre algumas escolhas 35
Wanderleya Nara Gonalves Costa
seqncia do caminho seguido por mim. Talvez no fosse (seja) necessrio trilhar todo esse
caminho escrever (ler) todos os captulos, pois afinal comum que num labirinto se ande
mais que o necessrio. Saliento, ento, que no existe uma seqncia nica ou completa que
oriente o relato ou a sua leitura. A numerao colocada no indica uma ordem a ser seguida
por aqueles que porventura venham a ler o trabalho; ao contrrio, possvel e desejvel que o
leitor encontre ou (re)construa seus prprios caminhos e significados para essa viagem de
explorao.
No me furto, contudo, a sugerir ao futuro explorador algumas medidas. Adianto que
elas no so de todo inditas: foram inspiradas num guia elaborado por uma outra
exploradora, num outro labirinto (BENEDETTI, 2007, p. 117/118):
Sugesto 1. Alm do fio de Ariadne, muna-se de outros apetrechos: equipamentos de vo, de
alpinismo, de natao. Livre-se de qualquer preconceito para com o Minotauro, no o tema;
ao contrrio, busque-o. Para isso, vire gua, fogo, vento. Deixe-se afetar, indigne-se,
entusiasme-se com a possibilidade de encontrar ou construir novos caminhos, de inventar
outros possveis.
Sugesto 2. Ao perceber multiplicidades, no as reduza s suas preferncias, ao j conhecido
ou ao que est escrito; instale-se entre elas. essa a condio para que voc conhea o
labirinto e o Minotauro; a condio para que possa germinar o novo.
Sugesto 3. Ao percorrer os diferentes caminhos tericos captulos 3 e 4 no
menospreze nenhum deles, pois eles modificaram formas de ser e pensar, insinuaram outras,
desmancharam ns de estrangulamento, precipitaram novos nimos contra a estagnao, o
esgotamento, a reproduo do mesmo. Conhea-os, respeite-os e faa a sua escolha. Essa
escolha e afiliao podem no ser nicas, no levar voc a um nico caminho. No h
qualquer problema nisso, no exija a completude a nenhum deles, reconhea que um caminho
se faz no prprio caminhar e que o espao que se disps a explorar complexo.
Sugesto 4. Indague pelo surgimento do novo na relao com o Outro, em especial com os
povos indgenas. Ao pensar sobre a Educao, pergunte-se sobre o que aconteceu e como isso
afetou o ensino e a aprendizagem da Matemtica. Procure resposta para as questes: Como os
diferentes modos de perceber, ser, sentir, relacionar, crer e pensar provocam variaes e
fazem surgir singularidades na gerao de conhecimentos (etno)matemticos e nas formas de
educar? Como as prticas discursivas me afetam, e aos meus pares? Que tipo de verdade
veiculam? Concordo com elas?
36 A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
Sugesto 5. Perceba as brechas na aparente solidez do institudo e ento questione-se: O que
posso fazer (ou sugerir) no sentido de gerar novas possibilidades, de promover o respeito, de
aceitar a diversidade?
Nota: Procurei seguir o que foi acima colocado, tentei responder as questes formuladas e, ao
final da explorao do labirinto, coloquei as respostas que encontrei. Mas no se preocupe se
as suas respostas forem diferentes das minhas, fique feliz com isso, pois a diversidade que
nos intriga e anima, que corre e irriga, imanta e cataliza nimos, promove o dilogo. So as
vrias possibilidades que mantm o mistrio e a beleza do labirinto ou, ainda, que constituem
os devires da educao, levando-nos a pesquisar, a agir e a ter prazer em aprender e ensinar.
Tsui Pen teria dito uma vez: Retiro-me para escrever um
livro. E outra: Retiro-me para construir um labirinto.
Todos imaginaram duas obras; ningum pensou que livro e
labirinto eram um nico objeto.
BORGES, vol. 1, p. 530
Captulo 1: Vislumbrando o labirinto - A caminho de uma
investigao
O despertar de Ariadne Giorgio de Chirico. 1913.
leo sobre tela. Coleo particular.
Beb a'uwe-xavante em seu bero.
Subindo colinas arenosas, haviam chegado ao
labirinto. Este, de perto, pareceu-lhes uma direita e
quase interminvel parede, de tijolos sem reboco,
pouco mais alta que um homem. Dunraven disse que
tinha a forma de um crculo, mas to extensa era sua
rea que no se percebia a curvatura. Unwin
lembrou-se de Nicolau de Cusa, para quem toda
linha reta um arco de um crculo infinito...
BORGES, Vol. 1, p. 669
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
38
Captulo 1: Vislumbrando o labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
39
ejo uma pesquisa como um processo de criao, recriao e, tal como num
labirinto, de escolha de trajetos. No tipo mais comum de labirinto, os trajetos vo
dobrando e redobrando-se, sem sinais orientados a um final, a um ponto de chegada central,
ou simplesmente a uma estratgia de cruzar o espao de um lado a outro. Qualquer que seja a
forma do labirinto, ao nele aventurar-se, a modernidade (ou eternidade) do tema ento
desvendada: descobrimos que [...] o labirinto o lugar por excelncia onde se define a miopia
dos algoritmos, isto , do clculo feito a par e passo, sem memria [...].(ENCICLOPDIA
Einaudi, 1988, vol. 8, p. 248). Mas o explorador no entra no labirinto sem antes olhar, nem
que seja rapidamente, o exterior do edifcio, pois a percepo do tamanho, da forma e da
altura que ele assume o auxiliaro a orientar-se no seu interior.
Este captulo narra o primeiro olhar curioso do explorador para o seu objeto de
investigao. um captulo pequeno, como se poderia esperar daquele que anseia aventurar-
se no interior da edificao.
Antes de inici-lo, lembremos que, tal como o labirinto, ainda hoje, um desafio
moderno, a questo indgena tambm um assunto atual. Mesmo aps sculos de contato,
enfrentamentos, genocdios, etnocdios e epistemocdios, os povos indgenas continuam a
enfrentar graves problemas, que no podero ser tratados por meio de algoritmos, pois talvez
estes venham a perpetuar uma certa miopia. Penso que um maior entendimento sobre a
realidade indgena histrica e atual necessrio; e que esse conhecimento vir por meio
de um imiscuir-se na realidade, no dia-a-dia que revela, inclusive, situaes de preconceito
para com o Outro e seus saberes. De qualquer modo, esse olhar no pode deixar de abarcar
uma dimenso importante: a necessidade de transcendncia, presente em todas as culturas e
satisfeita de diferentes maneiras.
1.1 Os mitos como resposta necessidade de transcendncia
Um olhar para a histria dos grupos humanos indica-nos que praticamente todos eles
criaram e criam conhecimentos que lhes permitiram e permitem sobreviver, isto , resolver
problemas tais como alimentar-se, cuidar dos filhos, proteger-se das intempries, curar
doenas, entre outros. Estes conhecimentos lhes permitiam e ainda permitem vivenciar o
tempo e o espao nos quais se encontravam e se encontram.
V
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
40
Mas, em suas vidas, tambm estavam e esto presentes grandes questes: Como
viveremos o amanh? Como foram criados Cus e Terra? Seres humanos e animais? O que
ocorre aps a morte? Para onde iremos ento? Tais questes apontam para a necessidade da
transcendncia. Elas delimitam os contornos de uma grande ausncia que mora em ns
(ALVES, 1988, p. 14) e no apenas dizem respeito ao espao e ao tempo efetivamente
vivenciados, mas so reflexes acerca dessas categorias, uma busca pela sua conceituao
(DAMBROSIO, 2006 informao verbal
11
). Desse modo, sobretudo, pode-se dizer que a
transcendncia a gerao de saberes acerca de tempos e espaos desconhecidos.
Mas a idia de transcendncia comporta mais de uma vertente. Numa de suas
conotaes, na qual se observa a predominncia das determinaes factuais, a noo de
transcendncia aproxima-se da idia da descendncia materialista e ocorre por meio das
atividades produtivas. Perpassa a idia de que o grande temor humano diz respeito
impossibilidade de ter pleno domnio da natureza, o que de certa forma leva ao desejo de
poder e enriquecimento, pensados como forma de garantir a presena e a vida de homens,
mulheres e seus descendentes noutro tempo e espao. Desse modo, o domnio e o controle da
natureza, de oportunidades e, no extremo, s vezes, at mesmo de pessoas que no dispem de
bens, tornam-se a via para transcender o momento e o espao vividos. Nesse caso, a
existncia humana pensada de modo dissociado do meio csmico-social que a abriga, e,
entre as criaes associadas necessidade de transcendncia assim compreendida, as cincias
clssicas destacam-se.
A transcendncia pode tambm assumir a conotao de uma ascendncia intencional,
na qual predominam fundamentos platnico-idealistas. Nesse caso est plasmada a idia de
que o ser humano imbudo de uma busca por atingir um ideal de perfeio, muitas vezes, de
uma vida futura que o aproximar de um ser superior completamente distinto dele prprio, o
que far com que em tempos futuros ele possa habitar num local de grande felicidade. Quando
assume essa conotao, a transcendncia leva criao de religies, mitos, ritos, magia.
Mas a transcendncia tambm concebida segundo uma via intermediria que contm
elementos das duas vertentes acima assinaladas: compreendida, ento, como momento de
transformao constante, que gera um saber intencional, refletido, capaz de levar tanto
ascendncia quanto descendncia; isto , pode tanto satisfazer a necessidade humana de
garantir a descendncia, quanto explorar a constituio do humano e do sagrado em
dialtica com a necessidade de sobrevivncia , criando explicaes para fatos que ocorrem
11
Em comentrios no VII CONESUL (guas de Lindia, out/2006), onde coordenava o painel temtico no qual
apresentei parte dos resultados desta pesquisa.
Captulo 1: Vislumbrando o labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
41
ou possam ocorrer num outro tempo e espao. Nesse sentido, DAmbrosio (2001, p.50)
assinala que a pulso de transcender o momento de sobrevivncia deu e d origem a vrios
artefatos e mentefatos, entre os quais cita as idias de alma e de livre-arbtrio, a
comunicao e as lnguas, as religies e as artes, as cincias e as matemticas, a ideologia. Ele
diz ainda que
[...] na busca da transcendncia desenvolveram-se meios de se lidar com o
ambiente mais remoto, passado e futuro, e que dependem do desenvolvimento
da memria, individual e coletiva, e das artes divinatrias, que falam sobre o
futuro. Surgem as artes representativas, inicialmente capturando seres que
estariam interferindo na sobrevivncia e na prpria transcendncia [...] e
posteriormente, como uma forma de se projetar no futuro, uma conveniente
estratgia de transcendncia [...] da memria surgem a Histria e as tradies,
que incluem as religies e os sistemas de valores
[...] das artes divinatrias,
tais como a magia, a astrologia, os orculos, a lgica do I Ching, a
numerologia e em geral as cincias, procura-se o futuro, saber o que ainda
est para acontecer. (DAMBROSIO, 1999, p. 52)
Por sua vez, ao analisar as grandes questes que os seres humanos se colocam, o
psiclogo junguiano James Hillman (2001, p.106) diz que, geralmente, elas giram em torno
das relaes entre o visvel e o invisvel, dicotomizados por ns, que muitas vezes foramos
um abismo entre mente e matria. A psicologia profunda menciona a existncia arquetpica do
sagrado e a sua abordagem por meio do mito. A partir da, numa atitude que, de certo modo,
aproxima-se da compreenso da transcendncia segundo a via acima apontada, Hillman no
separa qualitativamente criaes tais como a Msica, a Matemtica e o mito apontadas por
ele como pontes naturais para a transcendncia, para ligar o visvel e o invisvel. Mas esse
autor assinala que, enquanto as duas primeiras so sempre valorizadas, o mesmo no ocorre
com o mito. De acordo com ele, envergonhamo-nos de nossos mitos porque por meio deles
expomos nossas almas, o incontrolvel, o espontneo, o esprito.
Neste trabalho, a tendncia de desqualificar os mitos modifica-se: eles so amplamente
valorizados a partir do sentido que assumo para a transcendncia a terceira das conotaes
antes citadas. Entendo que a prpria presena de homens e mulheres e seus descendentes num
tempo e espao futuro no depende exclusivamente de recursos fsicos, mas tambm de
valores que levem ao respeito ao Outro, vida e natureza e no sua expropriao ,
que liguem sobrevivncia, descendncia e um certo conforto espiritual proporcionado pelos
mitos. Penso que a contemplao inquietante, o saber indagante, a perplexidade criativa, a
reflexo atuante, pem em questo o prprio mundo, os seres que nele habitam e a relao
entre estes. Assim, na busca pela transcendncia do viver imediato, por meio da atividade
criadora imaginativa, os seres humanos criam tanto as cincias quanto os mitos, entre outros.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
42
Em particular, os mitos conduzem em direo transcendncia, transportando os seres
humanos para um domnio desvelante e primordial, expressando valores, dirimindo dvidas,
orientando vidas
aes, sentimentos, pensamentos , transcendendo o limite fsico e o
entendimento primeiro, levando a dimenses desconhecidas, quase que inatingveis, da
realidade, dando-lhes significado e consistncia.
Os mitos expem temas que colocam em foco a condio humana e a sua
ambivalncia e auxiliam os seres humanos a definir os papis a serem assumidos, bem como a
fornecer uma significao ao mundo e sua existncia, dos astros, vida de homens,
mulheres, animais, rios e plantas, entre outros. Desse modo, revelam os seres humanos a si
mesmos, por meio da revelao do sentido de sua histria e do estar no mundo. Ao tematizar a
luta entre o bem e o mal, a vida e a morte, o amor e o dio, o individualismo e a coletividade,
a narrativa mtica reconfigura o observado e o seu sentido primeiro, revelando um outro
sentido, decifrando a realidade, colocando em jogo as temticas da redeno, da superao do
tempo, da possibilidade de viver uma outra realidade; imprime fora e esperana.
Reconhecendo essa funo do mito e compreendo a sua importncia para todos os
povos, mesmo para aqueles que no o valorizam e procuram dele distanciar-se, tomo como
central a hiptese de que as etnomatemticas e os mitos no esto isolados uns dos outros
(vale lembrar as trs pontes citadas por Hillman), e no me estranha a idia de que:
A grande tarefa de uma cultura que sustente a vida, ento, manter os
invisveis ligados, os deuses sorridentes e satisfeitos. convid-los a ficar
e, para isso, agrad-los com rituais e oferendas. Com cantos e danas,
pinturas corporais e ladainhas. Com celebraes de datas e memrias. Com
grandes doutrinas como a da encarnao e com pequenos gestos intuitivos
como bater na madeira ou desfiar as contas de um tero, tocar num p de
coelho ou num dente de tubaro. Ou colocar uma mezuzah na porta, dados
no painel, ou depositar em silncio uma flor numa lpide
polida.(HILLMAN, 2001, p.124)
1.2 procura de uma cmara Os mitos como informantes
Embora mais adiante a relao entre mitos e cincias e principalmente entre mitos,
lgica e Matemtica venha a ser tratada com mais profundidade, por ora vale lembrar a
crtica que Boaventura de Sousa Santos (2002) faz ao paradigma da modernidade ocidental e
ao fato de que a constituio da cincia moderna implicou um processo de marginalizao,
supresso e subverso de epistemologias, tradies culturais e opes sociais e polticas
alternativas em relao s outras que foram nele includas (SANTOS, 2002, p. 18). Esse
Captulo 1: Vislumbrando o labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
43
processo colocou em destaque os conhecimentos que possibilitavam e possibilitam justificar
e/ou apoiar certos processos sociais e polticos de consolidao de poder. Assim,
O privilgio epistemolgico que a cincia moderna se concede a si prpria ,
pois, o resultado da destruio de todos os conhecimentos alternativos que
poderiam vir a pr em causa esse privilgio. Por outras palavras, o privilgio
epistemolgico da cincia moderna produto de um epistemicdio. A
destruio de conhecimentos no um artefato epistemolgico sem
conseqncias, antes implica a destruio de prticas sociais e a
desqualificao dos agentes sociais que operam de acordo com o
conhecimento em causa. (SANTOS, 2002, p.242).
Realmente, durante sculos, na Histria do Brasil, pde-se observar a destruio, o
silenciamento e a ridicularizao de conhecimentos indgenas. Os principais agentes
responsveis pela disseminao de tais conhecimentos, os ancios e os lderes religiosos
indgenas, muitas vezes, foram desqualificados junto aos seus jovens. Os invasores e seus
descendentes ficaram sendo os novos donos da terra e seu saber foi reconhecido e valorizado;
por outro lado, a populao autctone ficou relegada a alguns guetos, sendo continuamente
despida de seus conhecimentos, de sua identidade.
No entanto, cada vez mais, os povos indgenas reagem situao posta e voltam-se para
a valorizao e a revitalizao de seus conhecimentos tradicionais. Quanto cincia, Santos
sugere que tambm reaja por meio da criao de "um conhecimento emancipatrio que
habilite os seus membros [da sociedade] a resistir ao colonialismo e a construir a
solidariedade pelo exerccio de novas prticas sociais, que conduziro a formas novas e mais
ricas de cidadania individual e coletiva" (SANTOS, 2002, p. 96). Santos salienta que o
"conhecimento-emancipao haver que agir atravs do reencantamento das prticas sociais
locais-globais e imediatas-diferidas que plausivelmente possam conduzir do colonialismo
solidariedade" (SANTOS, 2002, p.116).
Para tanto, esse autor sugere que os pesquisadores realizem uma sociologia das
ausncias. A sociologia das ausncias justifica-se, segundo ele, porque "[...] lidamos com
silenciamentos, epistemocdios e campanhas de demonizao, trivializao, marginalizao,
em suma, campanhas de produo de lixo". Ele continua dizendo que "em termos
epistmicos, as alternativas possveis so os elos que faltam, os registros incompletos, os
buracos negros, os vazios " (SANTOS, 2002, p. 243).
No meu ponto de vista, alguns dos elos que poderiam ser mais destacados nas pesquisas
acerca de conhecimentos etnomatemticos indgenas dizem respeito aos mitos. O mito , "de
algum modo, o modelo matricial de toda a narrativa, estruturado pelos esquemas e
arqutipos fundamentais da psique do sapiens sapiens". (DURAND, 1996, p.246). Assim,
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
44
ele "no se situa no plo contrrio cincia [mas sim] baseia as prticas e os discursos de
maneira fundante..."(FERREIRA SANTOS, 2004, p. 31). , pois, segundo essa concepo,
que os mitos so compreendidos como "pistas para as potencialidades espirituais da vida
humana" (CAMPBELL, 2000, p. 51) e podem constituir importantes fontes de pesquisa
acerca de valores, saberes e prticas de um povo. Por outro lado,
Mesmo o conceito filosfico ou matemtico mais rigorosamente definido,
que sabemos s conter aquilo que nele colocamos, ainda mais do que
pressupomos. um acontecimento psquico e, como tal, parcialmente
desconhecido. Os prprios algarismos usados para contar so mais do que
julgamos ser: so, ao mesmo tempo, elementos mitolgicos (para os adeptos
de Pitgoras chegavam a ser divinos). Mas certamente no tomamos
conhecimento disto quando empregamos os nmeros com objetivos prticos.
(JUNG, 1964, p.40)
Os mitos, como j foi dito anteriormente, so discursos criados pelos seres humanos
sobre assuntos que os incomodam como uma possibilidade de refletir sobre a existncia, o
mundo, as situaes de estar no mundo ou as relaes sociais. Neste sentido reconhece-se
que os acontecimentos e as coisas materiais so bases dos mitos, que o universo mitolgico
no criado somente por princpios e pensamentos abstratos, mas tambm que as relaes
entre os seres humanos e destes com a natureza interferem nesta criao. A maioria dos
autores chama a ateno para a generalidade ou universalidade dos temas mticos, querendo
enfatizar a possibilidade de comparao, ao mesmo tempo que afirmam constiturem eles o
campo propriamente dito da mitologia
12
.
Um mito no encerra o significado em si mesmo, ele sempre remete a outros
significados e est relacionado a um conjunto de fenmenos. Como afirma Gonalves (2004),
antroplogos tais como Robertson Smith e Frazer, em sua teoria do ritual, acentuavam o
paralelismo entre mito e rito no quadro geral da comunicao humana. Durkheim, por sua
vez, em As formas elementares da vida religiosa, entendia que os mitos colocavam em
relao planos distintos natureza e cultura, animalidade e humanidade , propondo fuses
e problematizando as fronteiras e os significados desses domnios. Por esse motivo, diz
Gonalves, Durkheim voltou sua ateno para os mitos de origem.
Gonalves (2004) lembra-nos ainda que Lvi-Strauss ressaltou o fato de que existe um
significado a ser descoberto no material mtico; para ele o mito uma forma que o
pensamento utiliza para conhecer e produzir conhecimento. Assim, no seu ponto de vista, os
mitos servem como vias para chegar s questes mais fundamentais do pensamento humano,
12
Mitologia no o mesmo que mito, mas sim um conjunto de mitos com uma srie de vnculos e uma
distribuio dos motivos entre eles.
Captulo 1: Vislumbrando o labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
45
mas, ao mesmo tempo, eles tambm colocam questes especficas sobre a sociedade que os
produziu. Leach tambm se preocupou com o significado do mito e com o que ele pode
revelar sobre uma determinada sociedade, ou mesmo sobre o pensamento humano, diz
Gonalves. Para Leach, mito e rito so a mesma coisa, porque ambos so modos de fazer
afirmaes sobre relaes estruturais. Discordo desse autor, colocando-me ao lado de Hocart.
Para este ltimo o mito d sentido ao ritual, sendo, ento, uma fonte de "conhecimento
essencial para o bom xito do ritual" (HOCART, 1985, p. 23, citado por GONALVES,
2004).
Gonalves (2004) assegura que, segundo Hocart, o mito deve ser estudado como algo
vivo e real, visto que fonte de conhecimento. Ele afirma que "o mito no um conto para
passar o tempo e nem uma profunda e esquisita especulao sobre os fenmenos da natureza
[...] devemos nos ater ao mito real, ao mito que guarda relao com os assuntos srios da
vida" ( HOCART, 1985, p. 22-23, citado por GONALVES, 2004). Finalmente, Hocart
sustenta que a chave para o entendimento do mito no est nele mesmo, mas fora dele: no
material sobre a sociedade e a cultura que o produziram.
Malinowski, ressalta Gonalves (2004), entende o mito como registro verdadeiro,
servindo, em certos casos, como fonte histrica. Como tal, para ele, os mitos no devem ser
observados fora dos contextos culturais onde vivem, j que mito est "intimamente
relacionado com a natureza da tradio e a continuidade da cultura" (MALINOWSKI, 1988,
p.152, citado por GONALVES, 2004). Desta perspectiva, o mito pode ser recriado, no
esttico, visto que mantm uma relao direta com a sociedade. Alm disso, apresenta valores
culturais e sociais e entrelaa-se a todos os aspectos da vida social, constituindo-se um
informante acerca de uma prtica social (MALINOWSKI, 1986, p.166, citado por
GONALVES, 2004).
Reconhecendo esse entrelaamento, grande parte dos trabalhos antropolgicos
produzidos acerca das sociedades indgenas brasileiras aborda, de algum modo, a mitologia.
Vrios deles utilizam-se dos mitos para explicar ou reforar hipteses formuladas sobre temas
da sociedade indgena. Alguns trabalhos notadamente aqueles que enfocam cultura
material, cosmologia, ritual e contatos intertnicos utilizam-se dos mitos para introduzir os
temas principais.
Segundo Gonalves (2004), dentre os vrios trabalhos com povos indgenas
brasileiros, destacam-se: a) o de Ribeiro
13
(1950), que descreve e interpreta a mitologia
13
RIBEIRO, Darcy. Religio e mitologia Kadiwu. n. 106, Rio de Janeiro: CNPI, 1950.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
46
Kadiwu, explorando o significado e a funo dos mitos na sociedade; b) o ensaio de Egon
Schaden
14
(1959) que, privilegiando os mitos "hericos", procura perceber como eles se ligam
estrutura social dos grupos que os produziram, abordando organizao social, vida religiosa,
dualismo, cosmologia, messianismo e instituio da "casa dos homens".
Na dcada de oitenta do sculo passado, continua Gonalves (2004), destacam-se os
trabalhos de: a) Samain
15
(1980) que coloca questes suscitadas pela mitologia Kamayur
e certos aspectos de sua realidade social; b) Wright
16
(1981) e Hill
17
(1985) que, ao
tratarem da mitologia Baniwa, enfatizam a relao entre o passado e o presente na cosmoviso
deste povo; c) Graham
18
(1983, 1990) que examina os mitos, procurando interpretar os
seus significados sociais e polticos na vida cotidiana dos Xavante.
Gonalves (2004) cita ainda o trabalho de Oliveira Castro (1994), que analisa
etnografias sobre os ndios Paaka-Nova, Yanomami, Arawet, Cinta-Larga e Barasana,
enfocando a relao entre mito e ritual e concluindo que tanto o mito quanto o rito dispem
dos mesmos significantes, mas apresentam distintos significados. A partir da surgiram outros
interessantes trabalhos na rea.
No que se refere aos estudos do Programa Etnomatemtica junto s sociedades
indgenas brasileiras, os mitos e ritos ainda no foram tomados como objeto de investigao
privilegiada. No entanto, sua importncia foi reconhecida por Pedro Paulo Scandiuzzi (1997)
e por Eduardo Sebastiani Ferreira (1997, p. 26) este ltimo por meio da afirmao de que
"a matemtica , de todas as cincias, a que mais se aproxima da abstrao o ser humano
avana em termos de desenvolvimento cognitivo quando consegue fazer abstraes. Os
indgenas se utilizam do mito para fazer abstraes.
Realmente, parece-me e tambm a outros pesquisadores impossvel deixar de
reconhecer que mitos e ritos so extremamente importantes para a cultura indgena. Dessa
forma, nos estudos do Programa Etnomatemtica junto a sociedades indgenas, os mitos
aparecem pelo menos em Bello (1995), Scandiuzzi (1997 e 2000), Amncio (2002), Silva
(2005) e Rodrigues (2005).
14
SCHADEN, Egon. A mitologia herica de tribos indgenas do Brasil. Rio de Janeiro: MEC, 1959.
15
SAMAIM, Etienne, De um caminho para outro. Mitos e aspectos da realidade social dos ndios Kamayur
(alto Xingu), 1980.
16
WRIGHT, Robin Michael., History and religion of the Baniya peoples of the Upper Rio Negro Valley. PhD.
Disertation, Stanford University, 1981.
17
HIIL, Jonathan D. Myth, spirit-naming and art of the microtonal rising: childbirth rituals of the Arawakan
Wajuenai. Latin American Music Rewiew, 6:1-30, 1985.
18
GRAHAM, L. R., The Always Living: discourse and the male lifecycle of the Xavante Indians of Central
Brazil. Doutorado, University of Texas al Austin, 1990.
Captulo 1: Vislumbrando o labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
47
Bello (1995), em Educao Indgena: Um estudo etnomatemtico com os ndios
Guarani-Kaiowa do Mato Grosso do Sul, d a conhecer o mito cosmognico desse povo e
salienta sua relao com a organizao social do grupo; o autor no trata do rito.
Scandiuzzi (2000) avana em termos de investigao dos mitos como informantes
acerca da Etnomatemtica. Ele, em Educao Indgena X Educao Escolar Indgena: uma
relao etnocida em uma pesquisa etnomatemtica, trouxe tona a histria da construo da
seqncia de nmeros a partir de um dilogo entre os deuses Taunguy e Alocum; tambm
nos colocou frente existncia de figuras geomtricas femininas e masculinas, como, por
exemplo, o parelelogramo feminino henhe e o paralelogramo masculino egigo hutoho.
Ao faz-lo, Scandiuzzi mostrou-nos a ntima ligao existente entre a Etnomatemtica
indgena e os mitos da tribo pesquisada e reconheceu que as figuras geomtricas indgenas
"no so simples desenhos, mas tm significado simblico/mitolgico" (SCANDIUZZI, 2000,
p.162). A partir da e tambm de outros mitos presentes na sua tese , na concluso do
trabalho, ele sugere (p. 139) que nas pesquisas do Programa Etnomatemtica se observem
mais atentamente as relaes entre os mitos e a realidade indgena. Diz, ento, que os
mitlogos esto atentos aos aspectos especficos da mitologia, enquanto um matemtico deve
ver as relaes desta mitologia com a construo do raciocnio para dar conta da explicao,
compreenso, interpretao, medio do que se encontra ao redor da sociedade estudada.
Anos mais tarde essa sugesto seria retomada por orientandos seus. De fato, Rodrigues
(2005) analisa as relaes entre os mitos e o sistema de numerao dos Kalapalo, enquanto
Silva (2005), em "A organizao espacial auw-xavante: um olhar qualitativo sobre o
espao", d destaque aos mitos, ao dizer que no h como traar uma linha divisria entre os
mitos desse povo e a sua forma de organizar o espao. De modo especial, ele ressalta a
existncia de um forte relacionamento entre a organizao espacial da aldeia e da casa, o
sistema de contagem auw-xavante e seus mitos.
Por sua vez, Amncio (2002), em Sobre a numerao Kaingang, narra o mito de
origem desse povo.
De todo modo, observo uma explorao ainda tmida dos mitos e ritos pelos trabalhos
de pesquisa do Programa Etnomatemtica, bem como a possibilidade e a necessidade de olhar
com mais cuidado os mitos indgenas como informantes a respeito de conhecimentos
etnomatemticos.
- No se aflija. Na memria
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
48
dos tempos que ainda vm
cada qual de ns ser
duro e audaz como ningum.
BORGES, vol. 2, p. 359
Captulo 2: Abrindo a porta do labirinto Para conhecer os
Auwe-xavante
Baquit - cesto xavante
Moeda de Cnossos
Entre quem quiser!
Lembra-te do essencial: a porta est aberta.
(EPICTETO, citado em BORGES, 1998, p.86).
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
50
Captulo 2: Abrindo a porta do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
51
porta o elemento que se abre, o corte que permite a passagem dos corpos e
estabelece uma ligao; ela pode levar a outras portas, a vrios caminhos e a
diversas cmaras. Mas, como coloca Fuo, a geometria ocidental privilegia a viso e a
regularidade dos espaos, os alinhamentos da cidade reticulada na formao do sentido
moderno, busca a orientao. No entanto, o grande indutor da orientao e desorientao
o conhecimento, reconhecimento e desconhecimento. Reconhecer um determinado lugar, uma
determinada situao, orientar-se, dar um sentido. (FUO, 2004).
Nessa tica, estar num labirinto munido do fio de Ariadne significa a inveno
ininterrupta, o vagar, ou um perder-se de certa forma controlado, e no significa estar
perdido (FUO, 2004). Significa, sim, o reconhecimento de que existem espaos
desconhecidos e interessantes a serem explorados e, desse modo, j no se tratar mais de se
extraviar no sentido de se perder, mas sim no sentido mais positivo, de encontrar caminhos
desconhecidos (FUO, 2004). , pois, nesse sentido que a histria e o cotidiano dos Auwe-
xavante so a porta para entrar no labirinto.
Mas conhecer um povo no me parece algo simples; assim, no tenho a pretenso de
dizer que conheo os Auwe-xavante, porm posso dizer que tentei ao mximo compreend-
los. Para tanto procurei informaes junto aos ndios ouvindo-os, observando-os,
participando (de maneira bastante restrita, verdade) do seu cotidiano e tambm junto a
pessoas com as quais eles mantm ou mantiveram contatos mais duradouros, alm, claro, de
consultar as fontes bibliogrficas. A partir da apresento informaes e
acontecimentos que captam minha ateno por um momento, enquanto
acontecem. Por que, entre mil percepes possveis, so essas que eu tenho?
Reflexes, memrias e associaes esto por trs delas. Pois a conscincia
sempre ativa e seletiva carregada de sentimentos e sentidos exclusivamente
nossos, informando nossas escolhas e refundindo nossas percepes.
(SACKS, 2004, p. 10).
Reconhecendo dessa forma a subjetividade presente nas minhas observaes, lembro
ainda que ns nos enganamos se imaginamos que podemos ser observadores passivos,
imparciais, cada percepo, cada cena, moldada por ns, quer saibamos disso, quer essa seja
nossa inteno, ou no. (idem).
Agora, ao abrir a porta do labirinto, devo, de algum modo, transmitir algo do vi,
aprendi, compreendi, senti e, quem sabe, tambm o que no compreendi. Ao faz-lo, algumas
vezes tive a sensao de descrever demasiadamente cenrios e sujeitos. No entanto,
lembrando-me do que me disseram os ancios Auwe-xavante reunidos no war, decidi
A
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
52
manter-me fiel s minhas lembranas. Eles, apreensivos diante da imensa carncia de que so
vtimas, entendiam que um pesquisador pode ser um porta-voz de suas necessidades. No me
furtei a esse papel. Ao falar sobre os ndios, no fiz um recorte focando apenas as descries
que fossem importantes e/ou interessantes para a pesquisa. Procurei colocar aqui muito de
suas vidas, incluindo suas preocupaes e alguns dos problemas que pontilham seu dia-a-dia,
o que talvez tenha me tornado um tanto prolixa.
2.1 Alguns aspectos scio-ambientais e histrico-geogrficos
O cerrado de Mato Grosso, cortado pelo Rio das Mortes afluente do Araguaia e
pelo Rio Culuene afluente do Xingu , abriga um povo que se autodenomina Auwe
Uptabi, o povo verdadeiro. Juntamente com os Xerente e Xakriab, os Auwe Uptabi
constituem o maior grupo da famlia lingstica j, tronco macro-j. So cerca de quinze mil
pessoas (LACHNITT, 2002) que vivem em pelo menos 126 aldeias divididas entre seis
reservas cercadas por fazendas de criao de gado e de plantao de arroz e soja. Esse povo
mais conhecido como xavante nome que lhes foi imposto no final do sculo XVI.
Atualmente, marcando uma posio poltica de respeito a esse povo, mas sem abandonar o
nome pelo qual so reconhecidos na literatura e no cenrio nacional, tem sido utilizada uma
forma mista Auw-xavante. Ao longo deste trabalho utilizarei, sem uma preocupao
adicional, todas as formas acima citadas, mas, preferencialmente, esta ltima.
Conta-se que at o final do sculo XVIII os Auwe-xavante ocupavam o norte de
Gois, hoje estado do Tocantins. Naquela ocasio enfrentaram sucessivas expedies
militares que tinham como objetivo pacific-los e fix-los em aldeias protegidas por uma
guarnio militar. Tais aldeamentos consistiam em agrupar, "numa zona limitada, um
nmero excessivo de ndios tirando-lhes a maior quantidade possvel de terra" (GIACCARIA
e HEIDE, 1984, p.28). Em 1784, quando ocorreu a grande pacificao dos Auwe-xavante
por obra de Tristo da Cunha , esse povo passou a viver em diferentes aldeias, onde sua
expresso cultural era hostilizada e lutas e epidemias eram uma constante. O fato que,
confinados, os Auwe-xavante enfraqueceram-se e muitos foram dizimados; o povo quase foi
extinto. Contudo, em 1860, um pequeno grupo conseguiu fugir e chegou regio do Mato
Grosso, prxima ao rio das Mortes e Serra do Roncador que, naquela poca, era quase
desabitada. L, recusando-se a manter contato com outras sociedades, esse grupo conseguiu
restabelecer-se, reviver suas prticas culturais e recomear a crescer. Viveram sem ser
Captulo 2: Abrindo a porta do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
53
intensivamente assediados at as dcadas de 40 e 50 do sculo passado, quando foram
forados a aceitar o contato.
Em perodos subseqentes o cerrado mato-grossense atraiu contingentes populacionais
envolvidos com a agricultura e pecuria. A partir de ento a histria dos Auwe-xavante no
Mato Grosso foi marcada por contnuos movimentos humanos e territoriais. A cobia
pelos territrios ocupados por eles fica patente nos documentos do Padre Hiplito Chovelon
que, em 18 de fevereiro de 1938, em carta enviada ao ento presidente Getlio Vargas,
escreve:
Realmente o Rio das Mortes percorre uma zona riqussima de campinas e
matas, prprias para lavoura e criao de gado. O povoamento depende to
s da pacificao dos ndios xavante que at agora fazem o terror dos
moradores das vizinhanas pelas suas correrias e ataques traioeiros.
(CHOVELON e outros, 1996, p.11)
No relatrio enviado anexo, o padre completa: "os caboclos dos sertes adjacentes de
Gois e Mato Grosso olham com inveja estas campinas imensas e s esperam a pacificao da
numerosa e belicosa tribo dos ndios xavante".
19
(CHOVELON e outros, 1996, p.19)
Com o tempo as fazendas vicejavam nas matas que circundavam as cabeceiras e
acompanhavam os rios que adentram as terras auwe-xavante. As relaes entre fazendeiros e
ndios foram marcadas por situaes de extrema violncia. Observou-se ento nova ameaa de
extino dos Auwe-xavante, tanto por causa das lutas sangrentas quanto pela disseminao de
vrias doenas que acabaram por vitimar com maior freqncia os ancios, principais
detentores da cultura desse povo.
Mas, novamente, os Auwe-xavante foram capazes de superar a ameaa de extino.
Porm, no se pode negar que a vida dos ndios nos aldeamentos tenha dificultado a
transmisso dos mitos e a execuo de ritos e que "algumas coisas caram no esquecimento
numa aldeia, outras coisas em outras aldeias, fragmentando assim a lembrana cultural"
(GIACCARIA & HEIDE, 1984, p. 9). Contudo, um mito nunca desaparece: pode desgastar-
se, ocultar-se, retrair-se, mas em algum outro momento ir adquirir intensidade, ressurgir.
(DURAND, 1996, p.97). Desse modo, assinalam Giaccaria e Heide que, a partir dos meados
19
A cobia em torno das terras indgenas no arrefeceu, como informou o jornal eletrnico mantido pela UFMT
por ocasio da reunio da SBPC 56 RA Edio 24, de 23 de julho de 2004: Em Mato Grosso, est entre as
grandes e mais recentes preocupaes o arrendamento de terras para o cultivo da soja. S a reserva Paresi j
arrendou 14 mil hectares para sojicultores e o mesmo processo vem avanando sobre as terras dos Xavantes,
Irantxe e Nambikwuaras. Segundo uma das coordenadoras do Conselho Indgena Missionrio, Maristela Souza
Torres, mesmo sendo um processo absolutamente ilegal, proibido pela Constituio, os produtores de soja esto
conseguindo aliciar lideranas indgenas, agravando o comprometimento ambiental decorrente da expanso
agrcola e at mesmo desestruturando as sociedades, pois a prtica do arrendamento gera conflitos e divises
entre os ndios.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
54
de 1960, observou-se um reflorescimento da cultura auwe-xavante e em 1983 vrios lderes
ancios, em reunio, conseguiram resgatar o mito de criao de seu povo.
digno de nota o fato de que nas reservas de So Marcos e de Sangradouro existem
Misses Salesianas e que os padres missionrios tm procurado catequizar esse povo h mais
de meio sculo. No passado, ao contrrio do que hoje se nota, no havia uma relao de
respeito e aceitao de uma cultura diferente, que possibilitasse aos ndios vivenciar
publicamente seus mitos e ritos.
De fato, embora o contato entre pessoas de diferentes culturas implique modificaes
nas culturas envolvidas, at ento, a dinmica cultural desse encontro era marcada, sobretudo,
por tenses e por imposies por parte da cultura dominante entre elas, a proibio das
manifestaes de uma cosmologia tradicional no-crist. Mas, no contato (e mesmo sem ele,
pois membros de um mesmo grupo cultural podem propor/impor modificaes), nenhuma das
culturas permanece estanque, at mesmo a cultura dominante se transforma e hoje,
felizmente, os salesianos tm procurado auxiliar os ndios a resgatar seus mitos, ritos e
tradies. Talvez nos anos de convivncia tenham percebido que
A viso do mundo supre o indivduo como uma constante ncora que o
mantm seguro a uma determinada realidade social em face a vicissitudes
sobre as quais ele no tem controle: a morte, a doena, o insucesso.
Removida essa viso de mundo, advm a desestruturao individual ou
coletiva. Exemplos dessa desestruturao so abundantes na histria da ao
missionria entre sociedades indgenas. (RAMOS, 1986, p.86)
Em decorrncia dessa mudana de postura, possvel transcrever o mito que o Padre
Giaccaria, juntamente com Heide, ouviu dos Auwe-xavante durante suas pesquisas no ano de
1983.
O Mito do Arco-ris (A Origem do povo Xavante)
Na origem do povo Xavante, dois homens, BUTS-WAWE e
TSAAMRI, foram postos na terra pela fora do alto por meio do arco-ris. Os
nomes foram dados por uma voz do alto, que os chamou de BUTSWAWE e
TSAAMRI.
Eles tiveram compaixo um do outro porque no havia companheira.
Aps isso a mesma voz ordenou ao BUTSWAWE: Tire seis pauzinhos, trs
WERE WAWE e trs WAMARI e coloque trs de cada lado. Risque um de
vermelho e um de preto. Terminado esse trabalho BUTSWAWE chamou
TSAAMRI: Escolha conforme a sua preferncia. E TSAAMRI escolheu o
pauzinho de risco vermelho. O pauzinho de risco preto ficou para
BUTSWAWE. Do pauzinho TSAWRWAWE surgiu uma mulher para
BUTSWAWE, logo depois surgiu uma mulher para o TSAAMRI. Da teve
o primeiro casamento. E os dois entenderam o significado dos pauzinhos da
seguinte maneira: a cor do pauzinho que se tinha transformado em mulher,
Captulo 2: Abrindo a porta do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
55
era, conforme escolha deles, a marca (smbolo) da diviso em cls,
estabelecendo assim a organizao da descendncia. De fato BUTSWAWE
deu a mulher, que saiu do prprio pauzinho preto, como esposa ao
TSAAMRI e TSAAMRI deu a mulher que saiu do pauzinho vermelho, como
esposa ao BUTSWAWE. Depois disso cada um deu nome prpria mulher.
BUTSWAWE chamou sua esposa de TSINHOTSEE WAWE e o
TSAAMRI chamou-a de WAUTOMOWAWE. Aps terem dado os nomes
cada um prpria esposa, perfuraram as orelhas com o osso da ona parda. E
da teve a primeira idia de perfurao das orelhas do TSAAMRI e
BUTSWAWE.
Em seguida os dois faziam orao (splica) todos os dias, virados para
o Oriente, segurando na mo direita (que significa esperana) a flecha sagrada.
Estas flechas tinham sido postas pela voz (saindo do alto, isto , do arco-ris)
logo no incio, juntamente com os dois homens. Esta orao era dirigida ao
DANHIMITE e era repetida trs vezes por dia: He, he, he, we wate dam
dato pibui ho ihe, to tan (Oh, oh, oh, quero ter uma criana e v-la. Assim
mesmo).
E assim tiveram os primeiros filhos, depois, em seguida, tiveram duas
filhas. Passados os anos, BUTSWAWE desposou o seu filho PINIRU com a
filha do TSAAMRI, chamada TSINHOTSE WAIBU. TSAAMRI
desposou seu prprio filho, TSAH BRE, com TSITSI, filha de
BUTSWAWE.
(GIACCARIA & HEIDE, 1984, p.11,12)
A partir do resgate desse mito, jovens xavantes teriam feito a seguinte representao
grfica:
Figura 1: Diagrama do mito de origem,
extrado de Giaccaria e Heide (1984)
Apesar do que nos colocam Giaccaria e Heide (1984), Shaker (2002) assinala que, em
sua pesquisa junto aos Auw da aldeia tiritipa, ao questionar a respeito da sua origem, os
ancios apontaram o leste, dizendo que vieram de l e no remeteram a nenhum mito de
origem. Quando o pesquisador lhes apresentou o Mito do Arco-ris (ou Mito da Origem dos
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
56
Auwe), eles disseram desconhec-lo. Os ancios afirmaram a Shaker que no existe um mito
que fale sobre a sua criao e consideraram que o mito transcrito pelos padres se trata de uma
tentativa forada dos salesianos de dizer que a criao vem do alto, do Deus cristo, criando
uma similitude entre a verso bblica da Gnesis e a mitologia auwe-xavante.
Particularmente, acredito que esse mito foi realmente apresentado aos pesquisadores
salesianos por ancios Auwe e, ainda, que deve ou pode ter havido, por parte dos ndios, no
momento da reconstruo conjunta, uma adaptao do mito de seu povo, no intuito de
aproxim-lo dos mitos cristos. No se pode negar que ao longo dos tempos a cultura auwe
foi se modificando, e a converso ao cristianismo por parte de alguns membros desse povo
muito contribuiu para isso.
No s a cultura auwe, mas todas as culturas modificam-se, devido tanto a processos
internos chamados de dinmica intracultural pois as culturas no so estticas e alteram-se
continuamente , quanto a processos que lhes so externos e compem a dinmica
intercultural. Esta , geralmente, a que provoca maiores modificaes e nela esto presentes
os processos de resistncia, apropriao e inovao das culturas envolvidas (RIBEIRO, 2006).
Se os anos de contato com os religiosos ensinaram aos Auwe-xavante que as relaes seriam
melhores a partir da aceitao de alguns preceitos dos cristos, a prpria desagregao que
esse povo sofreu pode ter, realmente, ocasionado esquecimento de partes do mito, o que fez
com que este, quando apresentado modificado a ancios de uma aldeia que no estiveram
presentes na reunio que lhe permitiu ressurgir, no tenha sido reconhecido por eles.
Minha hiptese de que realmente existia um mito que foi modificado at chegar
verso apresentada aos salesianos apia-se principalmente no fato de que nenhum outro mito
se refere ao brinco xavante. Maybury-Lewis, citado por Medeiros (1991, p.126) chama a
ateno para a importncia desse objeto.
Atravs desses cilindros que os xavante se comunicam com os seus
parentes mortos. Podem dependur-lo junto ao tmulo de um parente
(geralmente o pai ou o irmo uterino do pai), ou junto cabeceira da
esteirinha de dormir de quem os possui. O dono do cilindro, ao sonhar,
visita ou visitado por seus parentes mortos. Esses encontros so sempre
ocasies felizes, embora marcadas por uma ponta de tristeza e de saudade.
Depois de uma experincia como essa, os homens sentem-se fortes e em
melhores condies para encarar a vida.
O prprio Medeiros (1991), em vrias ocasies, ressalta o papel do pauzinho wamari
do qual feito o brinco xavante. Assim, ao ouvir, transcrever e analisar os sonhos do ancio
Captulo 2: Abrindo a porta do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
57
Jernimo Xavante, ele nos faz notar que o pauzinho/brinco se metamorfoseava num ndio que,
no decorrer do tempo, foi substitudo pelo Criador ou por Jesus Cristo (ver mais no item 2.6).
Tudo isso me faz crer que a voz do arco-ris, numa verso anterior apresentada aos
salesianos, pertencia madeira wamari, transformada em ndio. Assim, ela a madeira
wamari seria o prottipo dos seres humanos, pois tal como Shaker (2002) salienta, nos
mitos auwe-xavante, antes que os animais fossem criados, algum ndio criava seu prottipo
ou nele se tornava.
Alm de serem meio de contato com os antepassados, os brincos, isto , os pauzinhos ou
cilindros que os Auwe-xavante trazem nos lbulos das orelhas, servem como proteo contra
serpentes e para afugentar doenas, mas um dos seus usos que corrobora o mito apresentado
se d durante o ato sexual que ocorre no intuito de gerar filhos (GIACCARIA e HEIDE,
1984). Os pauzinhos que servem para conceber filhos homens so confeccionados pelo futuro
pai, que se senta em posio diferente daquela que assume quando o pauzinho se destina
concepo de uma filha. A ornamentao dos pauzinhos tambm diversa, com quatro ou
apenas uma listra vermelha, bem como a sua colocao na orelha dando-se maior
importncia ao pauzinho do lado direito, se o desejo for de um menino, e ao esquerdo, se o
casal deseja uma menina. Observa-se, portanto, que o Mito do Arco-ris vive no cotidiano
auwe, o que me faz acreditar na veracidade da existncia dessa narrativa.
Outros mitos, como os que falam da criao do sol, da lua, e das estrelas corpos
celestes que acreditam ainda inexistentes na poca em que os antepassados foram criados
so reconhecidos como verdadeiros pelos ancios das vrias aldeias. Em especial, o mito
colocado a seguir evidencia a estreita ligao, no pensamento auw, dos seres humanos com
a natureza, pois at mesmo o sol e a lua foram criados a partir da transformao de antigos
membros de seu povo.
O Mito da Criao do Sol e da Lua
Um dia, os wapt (adolescentes) assaram ovos de ema e comearam a
com-los. Chegou um deles, atrasado, e perguntou como conseguiram
quebrar os ovos. Os adolescentes, por brincadeira, disseram que os
quebraram batendo-os fortemente no peito. O outro wapt, acreditando no
seu companheiro, pegou um daqueles ovos e bateu, com fora, contra o
prprio peito. O ovo, porm, estava to quente que o queimou. Gritando de
dor, o wapt correu para o rio, jogou-se na gua e foi at o fundo. Sentiu-se
melhor e saiu da gua escura. Mas quando saiu tinha se transformado na lua,
branca e redonda, como a queimadura do ovo da ema, no seu peito.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
58
Outra vez, quando os wapt estavam brincando de pular na gua da
lagoa, num determinado momento decidiram subir nas rvores, para
mergulhar do alto. Um decidiu subir em um p de uiwede (buriti), mas no
foi fcil. Pelo seu esforo para subir no coqueiro, seu nus comeou a ficar
arredondado e vermelho a ponto de saltar fora e se fixar no cu, assim surgiu
o sol, grande e vermelho, ao amanhecer. L no cu, o sol vermelho e a lua
branca se opem, mas tambm se complementam, iluminando o mundo, de
dia e de noite. (SEREBUR et al., 1998, p.24 e26)
Esse e outros mitos so transmitidos aos mais jovens pelos idosos. Alm disso, de
modo geral, os velhos encarregam-se de reeditar festas antigas e fazer com que os jovens
entendam a importncia de conhecer e participar dos rituais. Um exemplo a preocupao
manifestada pelas lideranas da aldeia de gua Branca em restabelecer o ritual de nominao
das mulheres. As cerimnias que constituem a festa de nominao das mulheres so longas e
complexas, visto que nelas so encenados vrios mitos que tm como protagonistas as
mulheres. Segundo o professor xavante Paulo Csar, o ritual de nominao vem sendo
rejeitado pelos homens mais jovens cujos tabus sexuais tm sido radicalmente modificados
no contato com no-ndios ; por esse motivo, muitas mulheres no tm seu prprio nome,
usam os de suas avs.
De todo modo, observando a constante luta dos Auwe-xavante pela revitalizao da
sua cultura, nota-se tambm que eles convivem com a cultura no indgena e esforam-se para
compreend-la. Eles vivem numa heterocultura, isto , numa "situao em que se encontra
uma sociedade que, ao mesmo tempo, alimenta-se em duas matrizes culturais consideradas
como essenciais (e realmente vitais) e antagonistas: a tradio e a modernidade, ou seja, a
continuidade e a novao" (POIRIER citado por CARVALHO, 1994, p.45). Sentem-se,
assim, divididos entre a necessidade de se auto-afirmar e a imposio cada vez maior de
compreender e fazer-se compreender pelos no-ndios.
2.2 As aldeias e as casas
As aldeias auw-xavante, segundo quase todos os relatos que encontrei, so em forma
de ferradura, voltadas para um curso de gua ( espessa a rede hidrogrfica constituda pelas
bacias dos afluentes do Culuene-Xingu e do Rio das Mortes-Araguaia). No centro da aldeia
fica o war, a praa onde se executam ritos, cantos, danas e onde os homens tomam as
decises importantes. Numa das extremidades da ferradura fica o H, a casa dos adolescentes.
L, separados da comunidade, os meninos sero chamados de wapt, permanecero virgens e
Captulo 2: Abrindo a porta do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
59
recebero a instruo necessria para manterem a tradio aprendida do povo Sarewai
20
.
Desse modo, submetidos aos poderes disciplinadores de seu prprio povo, os meninos tornar-
se-o verdadeiros Auw Uptabi.
As minhas observaes em visitas s aldeias de So Marcos e gua Branca
mostraram-me que a forma das aldeias auwe-xavante no se modificou, mas, por outro lado,
levaram-me a discordar dos relatos que li de que elas tm a forma de uma ferradura.
No meu ponto de vista, as aldeias auwe-xavante so circulares, e as casas dos
adolescentes permanecem ligeiramente fora dos crculos. Segundo a minha avaliao, o
espao que, nas narrativas, considerado vazio est preenchido por algo muito importante.
Ali est a porta que leva ao rio, ali se inicia um caminho ou uma estrada bastante larga.
Assim, os pontos representados pelas malocas seriam complementados pelo ponto que leva ao
rio.
O nmero de habitantes em cada aldeia bastante varivel, pois eles costumam fazer
longas visitas a parentes de outras aldeias (as visitas podem chegar at uns seis meses) e
comum o surgimento de novas aldeias. Essa reordenao espacial gerada pela rede de
alianas e oposies historicamente estabelecidas no interior do grupo, bem como pelas
diferentes maneiras de compreender e vivenciar o contato com a sociedade no indgena e
com as diversas agncias intermediadoras. Muitas vezes, as divises das aldeias so marcadas
por conflitos internos e disputas de poder que ocasionalmente geram mortes e se refletem,
inclusive, na obteno de permisso para a realizao de pesquisas acadmicas
21
. Desse
modo, o sistema poltico do grupo muito dinmico e marcado por disputas e alianas entre
as faces que, por vezes, visam obteno de benefcios materiais por parte das lideranas.
Se questiono a forma como a aldeia auwe-xavante vem sendo descrita, o mesmo no
ocorre com relao a suas casas. Segundo os relatos, as casas de palha, tambm chamadas de
malocas, eram circulares, de aproximadamente seis metros de dimetro; uma estrutura de paus
e bambus sustentava o teto feito com folhas de indai. Essas casas tinham uma nica entrada
voltada para a praa central da aldeia. Nesses moldes, a casa auwe-xavante original
"representa o universo em miniatura, pela sua forma e estrutura, por isso fica carregada de
simbolismo. A arquitetura arqueada da casa refere-se ao arco-ris do mito da criao xavante
que est na base da estrutura familiar e social" (GIACCARIA, 1990, p.22).
20
O povo que no se deixa ver, seres invisveis donos de caas, da mata, dos rios, do cerrado...
21
Quando a professora Hilda, os professores/alunos do curso de extenso que oferecemos e eu iniciamos nossas
visitas s aldeias, uma nova aldeia tinha surgido na reserva de So Marcos. Na aldeia velha insistiram para que
no fssemos visitar a nova aldeia sem que antes eles prprios fossem avisados. Por outro lado, habitantes da
nova aldeia destacavam a existncia de pessoas sbias e hbeis artesos entre eles, instando-nos a visit-los.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
60
Nas aldeias de So Marcos e gua Branca o que encontrei difere do que foi descrito
no pargrafo anterior. As malocas agora no so circulares, mas aparentemente retangulares
22
,
tendo apenas uma entrada, localizada no ponto mdio da parede frontal. O professor ndio
Leonardo, de gua Branca, revelou-me que a modificao na forma da casa foi uma questo
de economia (COSTA, 2003). Observa-se que, apesar da preocupao em manter antigas
tradies, existem problemas prticos, tais como o fato de que hoje em dia a palha de indai
est relativamente rara e, assim, a forma tradicional de construo das casas vem-se
modificando. Mas tambm essa nova casa, que imita a palhoa do caboclo, no est
satisfazendo as necessidades do povo auw-xavante. Segundo as explicaes do professor
Paulo Csar, da aldeia gua Branca, a casa antiga tinha que ser reconstruda a cada cinco
anos, enquanto que a atual deve ser refeita aps trs anos. Se, por um lado, ela diminui a
quantidade de palha utilizada no momento da construo, por outro exige uma quantidade
maior de madeira. Segundo compreendi, o problema com a madeira no tem sido encontr-la
na quantidade necessria, como no caso da palha, mas relaciona-se ao combustvel necessrio
para a manuteno do trator utilizado no transporte da madeira.
Devido ao problema acima exposto, os Auwe-xavante de gua Branca, agora,
discutem a necessidade de encontrar uma nova forma para construir suas casas. Uma opo
que apresentam a de construir as paredes de alvenaria e manter apenas o telhado de folhas
de indai. Dessa forma, acreditam os ancios da aldeia, o problema econmico estaria mais
bem resolvido, visto que a necessidade de buscar material para a construo das casas seria
espordica e, por outro lado, a manuteno do telhado de palha lhes garantiria um maior
contato com a natureza e com as suas tradies.
Acerca das casas auw-xavante, Giaccaria, B. (1990) afirmava que o emprego da
palha permitia a circulao do ar e o isolamento trmico perfeito, alm de no ser, ao
contrrio do barro, ambiente favorvel aos insetos nocivos. Esse autor tambm nos chamava a
ateno para o fato de que a casa auwe-xavante carregava em si todo o simbolismo do Mito
do Arco-ris.
A modificao da forma da casa, por questes econmicas, traz profundas
conseqncias para a vida e para a cultura tribal, de tal modo que a concepo simblica do
semi-arco, que se encontra presente no mito da origem dos Auw-xavante, na disposio das
danas religiosas e no formato da aldeia, est atualmente ausente do arco da casa. Observa-
22
Silva (2005), que acompanhou a construo de duas casas, esclarece que o formato das casas dos Auw no
exatamente retangular, embora d essa impresso pelo fato de a cobertura possuir quatro lados, mas a base, diz
ele, um polgono no regular de mais de quatro lados.
Captulo 2: Abrindo a porta do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
61
se, pois, que atualmente o lar xavante deixa de conter em si o simbolismo da semi-esfera a
representao do mundo , quebrando a unidade significativa entre suas prticas e um dos
seus mais importantes mitos.
Figura 2: Igreja da Aldeia gua Branca. Em primeiro plano, a
Igreja - de alvenaria e base circular, com cobertura de folhas de
indai. Em segundo plano est a casa dos adolescentes, de base
retangular e toda recoberta com folhas de indai.
2.3 A estrutura social
Os Auwe-xavante percebem o mundo, a natureza e a sociedade como
permanentemente divididos em metades opostas e complementares. O Mito do Arco-ris, que
narra a origem do povo xavante, evidencia a diviso da sua sociedade em duas metades
exogmicas: os Danhimire (indivduos da direita) e os Danhimie (indivduos da esquerda).
Giaccaria, B. (1990) revela que as tenses entre as metades so contnuas e permeiam toda a
estrutura social, todas as manifestaes sociais e culturais. Elas representam a eterna tenso
entre conflito/unio e destruio/fraternidade. Essa tenso no significa oposio, mas
complementaridade. Isso fica mais claro quando se sabe que uma pessoa de uma metade s
pode casar-se com uma pessoa da outra metade. Os filhos do casal pertencero metade a que
pertencer seu pai. Na verdade, a metade direita completa-se com a metade esquerda, o mesmo
ocorrendo com o conflito e a fraternidade, a destruio e a unio: um ciclo (ou crculo) que
se completa.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
62
A dualidade e a complementaridade da organizao social auwe-xavante tambm
ficam patentes nas danas circulares, nas quais os homens se posicionam de um lado e as
mulheres de outro. Nesse crculo um homem nunca estar ao lado de seu filho j que este
pertence sua metade clnica , mas estar preferencialmente ao lado de seu cunhado
que da outra metade. Isso me foi explicado numa noite em que os Auwe-xavante de gua
Branca me convidaram a danar com eles. Aquela noite, no grande crculo, os Auwe-xavante
disseram que eu poderia escolher qualquer lugar entre as mulheres, mas que as mulheres de
seu prprio povo no poderiam fazer isso. Elas deveriam cumprir a tradio da
complementaridade das metades clnicas alternando-se mulheres da metade direita com
mulheres da metade esquerda. A esse respeito, Lachnitt (2002) relata que, nos crculos para o
canto e a dana na aldeia, os Auwe-xavante sempre obedecem alternncia entre pessoas da
direita e pessoas da esquerda. Silva (2006) diz que o mesmo se d quando as pessoas se
acomodam nos veculos ou nas filas.
Alm da diviso entre indivduos da direita e indivduos da esquerda, os Auwe-
xavante dividem-se tambm segundo grupos etrios. O Sr.Tibrcio, ex-cacique da aldeia
gua Branca, pacientemente, explicou-me a respeito dos grupos de idade. Para que eu
pudesse memorizar os nomes e a ordem dos grupos ele criou a brincadeira do grupo do que
se come revelando uma de suas tcnicas de ensino, a faceta brincalhona dos Auwe-
xavante, quase nunca reconhecida pelos no-ndios e, tambm, a constante preocupao da
aldeia com a alimentao.
Segundo o Sr. Tibrcio, as crianas Auwe-xavante das duas metades so agrupadas
segundo a poca em que nasceram, considerando um intervalo mdio de cinco anos. Cada
grupo recebe um dos nomes antigos que so repetidos ciclicamente: Etpa (pedra), Tirwa
(carrapato), Nodzou (milho), Abareu (pequi), Tsadar (sol), Aarwa (esterco), Htr
(um tipo de peixe de cheiro considerado desagradvel) e Airere (palha de um determinado
arbusto do cerrado)
.
O H (isto , a casa dos adolescentes de um grupo etrio) dos Etpa,
Nodzou, Tsadar e Htr construdo do lado direito da abertura do crculo da aldeia; em
contraposio, o H dos Abareu, Aarwa, Airere e Tirwa fica do lado esquerdo.
Aps dizer por vrias vezes os nomes dos grupos, verificando que eu era capaz de
pronunci-los, o Sr. Tibrcio encarregou-se de verificar tambm se eu era capaz de lembrar-
me da sua traduo. Para tanto perguntou: Etpa, a gente come? Eu respondi que no, pedra
no se come. Ele, rindo, explicou: Come. A pedra bate no coco, ele quebra e ento come!".
Nozou? perguntou ele. Come! respondi-lhe. Abare? Come! Htr? Come!
Captulo 2: Abrindo a porta do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
63
Finalmente, inquiriu-me "E Tsadar?". Ele ficou feliz quando lhe respondi que sol tambm
se come, visto que ele faz as plantas crescerem e ao final ns as comemos.
O Sr. Tibrcio explicou-me ainda que os meninos de um mesmo grupo entraro
juntos no H, ficaro l em mdia cinco anos perodo em que estabelecero entre si um
vnculo muito forte e juntos passaro pela cerimnia da furao de orelhas.
Por sua vez, Dionor, um jovem da tribo de gua Branca, chefe do seu grupo de idade,
fez-me ver que existem vnculos e obrigaes entre os diversos grupos etrios. Por exemplo: o
grupo que saiu da casa dos adolescentes no perodo imediatamente anterior agir como uma
polcia com relao aos atuais wapt, verificando sua conduta e denunciando qualquer
problema aos padrinhos, que fazem parte do grupo anterior ao seu. Desse modo, o H
equivale cerca da qual Foucault (1994, p.130) nos fala. Segundo esse autor, a disciplina
procede em primeiro lugar distribuio dos indivduos no espao, exige um lugar
heterogneo a todos os outros e fechado em si mesmo, que sirva para controlar o
comportamento dos indivduos. De fato, nesse local os jovens, rigidamente controlados,
apreendem os significados mais profundos dos mitos e ritos e so levados a compreender
melhor o que significa ser um Auw Uptabi.
Foi tambm Dionor que permitiu perceber o cuidado com que os familiares e toda a
tribo observam a atuao dos jovens durante a sua formao tradicional. A sua atuao no H
e a escolha como chefe do grupo podem indicar o surgimento de uma futura liderana na
aldeia. Um bom lder deve ser um hbil orador, saber executar da melhor maneira possvel as
decises do grupo e cuidar para que as tradies sejam cumpridas. No caso do cacique, pelo
que pude observar, alm das atribuies acima colocadas, ele deve ser capaz de identificar as
qualidades das outras lideranas, permitindo que cada um deles atue na situao em que a
qualidade de que dotado requerida. Desse modo, acompanhando algumas reunies entre os
lderes da aldeia gua Branca e representantes de instituies pblicas e ONGs, vi como o
cacique determina que um outro lder assuma as negociaes, representando-o.
Os grupos de idade auxiliam os Auwe-xavante a marcar o tempo. Muitas vezes,
quando indagados a respeito da poca de algum acontecimento passado h alguns anos, eles
dizem, por exemplo, foi na poca do Tsadar, ou seja, na poca em que o grupo daquele
nome se encontrava recluso. Para um fato ocorrido h quinze anos, por exemplo, uma forma
de dizer seria lembrar que aps tal acontecimento ocorreu a furao das orelhas de trs
grupos.
Como cada grupo compreende em mdia cinco anos, os oito grupos de idade
correspondem, em mdia, a um perodo de quarenta anos. Para se referirem a um perodo
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
64
superior a quarenta anos, os Auw-xavante dizem, por exemplo, foi na poca do Tsadar
velho, remetendo-se, assim, ao grupo Tsadar imediatamente anterior ao ltimo grupo
Tsadar atual. Antigamente, disse-me o Sr. Tibrcio, as crianas e adolescentes de sexo
masculino permaneciam um tempo bem maior em recluso. Desse modo, houve uma
modificao no critrio para contagem tradicional de tempo xavante, pois antigamente os
intervalos considerados eram maiores.
Esse modo de marcar o tempo lembra aquele identificado por Evans-Pritchard (1978)
entre os Nuers. Tal como o povo xavante, os Nuers, dentre outros fatores, utilizam-se de sua
prpria estrutura social, dos sistemas de conjunto de idade para marcar o tempo,
percebendo-o como movimento das pessoas, ou melhor, do grupo, atravs da estrutura social.
Esse movimento, no caso dos Auwe-xavante percebe-se tambm quando os grupos etrios
passam pelas classes de idade, determinadas tanto pelo amadurecimento biolgico quanto
pelas responsabilidades assumidas. Por exemplo, aps a passagem pelo H os rapazes, ento
com idade aproximada entre 18-23 anos, sero considerados Ritiwa aptos para
participarem dos rituais, das competies e, tambm, para o casamento. Aps essa classe de
idade eles podero ser padrinhos de um grupo de idade, sero chamados Daohuiwa com
idade entre 23-27 anos. Em seguida passaro para a classe dos adultos com participao
em todas as cerimnias e aes polticas; chamados de Iprdu, eles tm entre 28 e 60 anos.
Aps essa idade so considerados velhos hire sbios, capazes de coordenar cerimnias
e rituais.
Assim, a estrutura social dos Auwe-xavante possui trs dimenses: a clnica (duas
metades e trs cls), a etria (grupos etrios e classes de idade) e a inicitica (de acordo com a
sabedoria quanto aos mitos e ritos).
2.4 Seu dia-a-dia, tal como vivenciei na aldeia gua Branca
Muito cedo, antes mesmo de os primeiros raios do sol se apresentarem, os Auwe-
xavante iniciam suas atividades. a hora em que, acompanhados at das crianas bem
pequenas, eles se dirigem ao rio para o primeiro banho do dia. J sob o sol da manh os
homens se renem no ptio central da aldeia, o war, e, sentados em pequenos bancos ou em
latas de dezoito litros, discutem os problemas da tribo e decidem o que deve ser feito, como,
por exemplo, a distribuio dos recursos, as caadas, as festas, medidas de sade coletiva,
entre outros. Como somente os homens maduros participam da reunio no war, enquanto
Captulo 2: Abrindo a porta do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
65
isso, os jovens vo para a escola e as mulheres, sempre acompanhadas de crianas, buscam
gua ou vo para o roado, produzem cestos, lavam roupas, fazem a sua parte na construo
de novas casas. Aps o war, muitos velhos dedicam-se fabricao de arcos, flechas e
bordunas, adornos como colares e pulseiras; ao fabrico das esteiras com broto de buriti; e
mesmo ao roado. As roas so prximas das aldeias e, sem orientao ou ferramentas
bsicas, a produo muito pequena, insuficiente para suprir a necessidade de alimentao
das famlias. Um grave problema que cada vez mais as atividades relativas agricultura tm
sido deixadas somente a cargo dos velhos.
23
Como expus acima, um dos afazeres dos velhos a fabricao de enfeites; no entanto,
homens mais jovens e mulheres tambm o fazem. Enquanto os velhos se ocupam dos cordes
de buriti, as mulheres fazem colares com a mianga xavante e/ou com miangas
industrializadas, com as quais fazem tambm pulseiras; estas, alm de brincos e gravatas, so
feitas tambm pelos homens. Reconhecidamente, uma das preocupaes desse povo fazer-se
belo. Essa preocupao estende-se tambm aos seus visitantes, aps algum tempo. Uma
enfermeira que trabalhava na Aldeia gua Branca chamou minha ateno para o fato ao
mostrar-me vrias pulseiras que havia ganhado. Ela disse: "Acho que eles nos acham feios,
assim, sem enfeites, por isso me do tantas pulseiras".
Nas minhas visitas, o homem mais velho da aldeia gua Branca, Z Pedro, mandava
nos chamar (a mim e a uma aluna que me acompanhava) sua casa para colocar no nosso
pulso um cordo de seda de buriti. Ele no falava portugus, mas nos entendamos.
Apontando uma de ns com o indicador e um banco a sua frente, fazia com que nos
sentssemos. Buscava ento um grosso rolo de cordo. Tomando sua coxa como instrumento
de medida, contornava-a com o cordo, em seguida, comeava a passar o pedao de cordo
recortado do rolo em volta do meu pulso (ou do de minha aluna). Ao faz-lo, Z Pedro
tomava o cuidado de deixar uma pequena folga ele sabia que isso necessrio, pois
quando a fibra se molha h uma contrao e o cordo torna-se mais apertado. A folga deixada
por Z Pedro era medida quando ele colocava a tesoura com a qual havia cortado o cordo
rente ao meu pulso, envolvendo-a tambm com o cordo. Dava quantas voltas no cordo
quanto o seu comprimento permitisse e, ento, arrematava com um n especial e aparava as
23
A preocupao dos velhos em cuidar do roado, para garantir, de alguma forma, alimentao para os seus
netos chega a ser comovente. Quando no o conseguem dessa maneira, procuram alimentar as crianas pela
adoo de outras estratgias. Em gua Branca conheci uma anci que estava ficando cada vez mais doente por
causa da desnutrio, visto que toda a comida que lhe era doada pela enfermeira ela entregava aos netos. Quando
a enfermeira percebeu esse fato, passou a cham-la no posto mdico para lhe dar a comida. Alm dessa anci,
vrias outras, bem como ancios, bebs e gestantes compareciam ao posto mdico duas vezes ao dia para
receberem um leite engrossado com multimistura.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
66
pontas, mas no muito junto do n. Ao fazer as aparas, Z Pedro tomava o cuidado de
compar-las, de modo que os pequenos pedaos de cordo que pendiam esquerda e direita
do n fossem simtricos. Desfiava, ento, essas sobras e a seguir, apontava-nos falando
xavante (fazendo-nos entender que estvamos agora parecidas com os Auwe-xavante),
brindava-nos com um abrao e a afirmao tsawiwa (amigo). A partir de ento, estvamos
prontas para passear pela aldeia.
Cumprindo suas ocupaes dirias, os Auwe-xavante fazem uma pausa para tomar
banho no incio da tarde. Esse banho, bem como o outro do final da tarde, representam no s
um momento em que se cuida da higiene, mas um momento de socializao. No rio as
brincadeiras so uma constante, tornando-se comum observar, alm de outras diverses,
crianas levando outras do mesmo grupo de idade s costas para depois lan-los na gua, e
mulheres jovens tentando fazer que com outras mergulhem. Essas brincadeiras os auxiliam a
tornarem-se fortes e geis. Por sua vez, os rapazes se divertem jogando futebol.
No incio da noite, novamente, acontece a reunio no war. E os velhos, agora, em sua
maioria portando esteiras, deitam-se ou sentam-se em crculo para, novamente, discutir os
problemas da tribo. Muitos desses velhos portam os smbolos de sua cultura, do contato e do
respeito natureza, que so arco e flechas. As flechas apresentam caractersticas diferentes,
visto que existe um modelo prprio para matar passarinhos, outro para matar anta, um outro
para assustar os abundantes e bravos cachorros, entre outros. A reunio que ocorre no incio
da noite, geralmente, conta com um nmero de pessoas maior que o da manh e, s vezes,
principalmente se houver dana, a reunio acompanhada pelos homens mais jovens, pelas
mulheres e pelas crianas, que ficam em silncio, visto que no tm direito a voz nessa
assemblia. Sob a luz do luar e das estrelas, os conselhos e as decises dos homens mais
velhos so transmitidos e ouvidos com muita ateno e respeito. Caso haja dana, ela segue a
ordem social dos Auwe-xavante, e no crculo em que os homens se posicionam de um lado e
as mulheres de outro, alguns bebs ficam no interior sentados em esteiras em frente s suas
mes.
Em algumas noites os resultados de algumas negociaes podem ser observados.
Interessados em assistir a algum programa de televiso, principalmente jogos de futebol, os
rapazes so liberados em troca de realizar alguma dana ou cantar alguma msica ritual.
Outras noites so marcadas por um marasmo aparente; mas das malocas pode-se ouvir o som
de conversas ou de radiogravadores. Desses, o principal som que se ouve o de msicas
gravadas na lngua materna.
Captulo 2: Abrindo a porta do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
67
Um acontecimento diariamente observado na aldeia gua Branca a partida, prxima
das sete horas da manh, de um caminho, repleto de pessoas e de objetos, que se dirige a
alguma cidade ou aldeia prxima. Essa locomoo ocorre tanto para que os Auwe-xavante
possam ir ao banco, FUNAI, quanto para vender artesanatos, coletar frutas ou participar de
festas e disputas esportivas com ndios vizinhos. Entre os objetos transportados, a bicicleta
chama a ateno. Sua aquisio, alm de outros bens como rdios, gravadores, entre outros,
possvel por meio do uso de recursos financeiros advindos principalmente de trabalho
remunerado (na escola, na FUNAI, no posto de sade, entre outros), da aposentadoria dos
idosos e deficientes fsicos. Esses bens materiais so smbolos do desequilbrio no estado
bsico de igualdade, um ponto importante na cultura auwe-xavante. Com o contato cada vez
maior com o no ndio, o dinheiro passou a fazer parte do cotidiano das aldeias e no raro
orienta as tomadas de decises do grupo.
Uma outra funo muito importante do caminho transportar para a escola os jovens
que j cursaram as sries oferecidas na escola da aldeia e esto completando seus estudos na
cidade mais prxima.
Figura 3: Sada do caminho da Aldeia gua Branca para o
povoado de Serra Dourada.
No se pode deixar de mencionar que esse transporte extremamente perigoso, tanto
pelo nmero de pessoas que viajam na carroceria sem qualquer tipo de proteo, quanto pelas
condies em que, geralmente, o veculo se encontra muitas vezes sem freio, com leo
vazando, velocmetro parado e outros pequenos defeitos. Alm disso, as estradas encontram-
se em ms condies, notadamente na poca das chuvas.
O retorno do caminho marcado para as 11:30 h, horrio em que se encerram as
aulas da manh. No entanto, no raro, o caminho se atrasa por horas (em um dia tivemos que
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
68
esperar at as 16:00 h). Assim, observa-se um grande nmero de jovens famintos e mal
acomodados a esperar por horas seguidas at poderem retornar aldeia.
Em paralelo, muitas so as crianas que freqentam a escola na prpria aldeia. L,
onde todos os professores so ndios, recebem uma educao bilnge e diferenciada.
Percebemos que desejo dos Auw-xavante, expresso tanto na fala de Paulo Csar,
professor ndio da escola de gua Branca, quanto nas palestras das lideranas no war, que a
escola os auxilie no resgate de suas tradies, na revitalizao de suas festas, na reafirmao
de seus valores.
s vezes, vemos a escola da aldeia fechada, mas professores e alunos reunidos fora
dela para competies, ensaios de msicas e danas ou alguma outra atividade inerente
cultura auwe-xavante. No ponto de vista dos ndios essas atividades so importantes para a
sua reafirmao cultural muito mais importantes do que a discusso de contedos escolares
das escolas dos no-ndios. Nesses momentos, o zelador da escola ganha um destaque
especial. Mrcio, contratado para esse fim, cantor e compositor. Como tal, muitas vezes
assume a autoridade do professor e ensaia as crianas ainda no iniciadas para apresentaes
no rituais nas quais entoam canes compostas pelo prprio Mrcio.
Quando professores e alunos esto em sala de aula, impressiona a pacincia com que
os professores tratam seus alunos, bem como a autonomia destes ltimos, tanto no que se
refere a entrar e sair da sala de aula seja pela porta ou saltando a janela quanto na
soluo dos problemas que porventura ocorram entre eles.
Cheios de esperana com relao escola da aldeia, as lideranas de gua Branca
mostraram-se insatisfeitas com relao ao aprendizado do portugus. Para eles, no caso dessa
disciplina, o mais interessante seria que o professor, ou professora, no fosse um deles.
Alm da educao escolar, os Auwe-xavante tm sua educao tradicional, o
aprendizado dos mitos, dos rituais, dos cantos, das lutas, dos artesanatos e outros. A educao
da menina ocorre em casa, no contato com as outras mulheres; a do menino segue outro estilo.
Segundo os relatos, a luta oi pode ser considerada o marco inicial na educao do menino
xavante e lhe ensinar alguns dos grandes valores de sua cultura: a resistncia dor e a
superao do cansao e do medo. No oi dois adversrios de cls opostos confrontam-se,
armados com duas razes de uma planta do brejo, a oi, que deu origem ao nome da luta das
crianas e adolescentes.
Ainda segundo os relatos, os meninos comeam a lutar a partir dos dois anos de idade,
continuando at os treze ou quatorze anos e seu desempenho acompanhado com interesse
pela tribo, j que a luta capaz de mostrar aqueles que provavelmente sero bons guerreiros e
Captulo 2: Abrindo a porta do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
69
caadores. O ensinamento das regras do oi ao pequeno Auwe-xavante cabe ao pai da
criana; contudo, no ltimo combate do menino, o av e os tios auxiliam o pai, reafirmando
os ensinamentos para que a criana no cometa nenhum ato ilegal, pois isso seria uma grande
vergonha para toda a famlia. Essa ltima luta o marco de ele no dever mais ser
considerado um menino, mas sim um wapt (adolescente) e que dever ser encaminhado
casa dos adolescentes H , onde se dar a prxima etapa da sua educao.
Nesse momento em que o Auwe-xavante chega adolescncia, ele recebe o grande
colar de algodo, smbolo do seu novo status, e levado publicamente Casa dos
Adolescentes. L conviver com outros da sua idade e formar um grupo no qual estar
integrado por toda a vida. Nas cerimnias, ele participar de danas cerimoniais circulares
onde sempre haver parceiros de cl oposto ao seu. Dessa forma, na casa dos adolescentes se
reafirmar o valor simblico do semicrculo e da complementaridade entre os cls, levando ao
crculo. Os wapt que freqentam a escola na cidade so orientados a somente conversar com
os no ndios em caso de necessidade, permanecendo, em parte, a idia da recluso.
2.5 Os ritos
Os mitos e ritos fazem parte da educao dos Auwe-xavante e so fundamentais para
a sua sobrevivncia e seu equilbrio, visto que no conhecimento dos mitos e na observncia
dos ritos que os jovens se tornam verdadeiros guerreiros de seu povo. Assim, para
compreender o povo Auwe-xavante, essencial conhecer seus mitos e ritos, que dizem
respeito a valores, a maneiras de ser e de conviver entre si, com a natureza e os fenmenos
naturais ou sobrenaturais.
Alm do mito de criao do povo Auwe-xavante e do povo que no se v, existem
muitos outros, como por exemplo, A luta entre os tsimohopari e A morte da coruja, que falam
sobre o surgimento das doenas e das mortes entre os xavantes; o Waradzu Tomadzaro
sobre o surgimento dos cantos; O rapaz, a ona e o fogo que narra o momento em que a
tribo aprendeu a usar o fogo. Outros mitos falam sobre origem e uso de alimentos, lutas,
amores, vinganas, castigos infligidos queles que desprezaram os valores da tribo, protees
contra onas, curas de doenas e vrios outros assuntos. O fato que os mitos esto sempre
presentes, sendo vivenciados quotidianamente por esse povo.
Os rituais auw- xavante acompanham o ciclo do cerrado. Dessa forma, na poca de
chuva realizam-se as lutas de oi e as corridas de toras de buriti. Por sua vez, a poca da seca
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
70
traz consigo o wai e a furao de orelha, entre outros. A cerimnia da furao de orelha
acontece a cada cinco anos; quando os jovens do sexo masculino deixam de ser
considerados wapt (adolescente) e tornam-se riteiwa (rapaz), estando, ento, liberados para
participar da vida adulta na aldeia. Sem isso, eles so considerados crianas e no podem
iniciar sua vida sexual. Os brincos que recebem representam, inclusive, a origem do povo
Auwe Uptabi, bem como a possibilidade de contato com os antepassados.
2.6 Os sonhos
Ao se falar sobre os mitos e ritos xavantes essencial que se d a conhecer, ainda que
superficialmente, a importncia que esse povo atribui aos sonhos, j que estes tm contribudo
de forma efetiva para a manuteno dos ritos e para o surgimento de novos mitos. Egon
Schaden, ao prefaciar a obra de GIACCARIA e HEIDE (1975, p.8), reconhece a importncia
dos sonhos para os povos indgenas, dizendo que:
o antroplogo e o psiclogo encontraro no relato dos sonhos uma fonte, por
assim dizer, inesgotvel de sugestes para ver e compreender melhor os
desejos, as aspiraes e as angstias sentidas pelo ndio. Assim como os
mitos, os sonhos so sempre verdadeiros, na mais genuna acepo da
palavra. No h como adulterar a mensagem de vivncias que por meio deles
brota do inconsciente humano. A tarefa comea pela descoberta do cdigo
de smbolos neles contido.
De modo especial, os autores da obra citada afirmam que
para os Xavante os sonhos so realidades; tanto assim que, se um moo
dormindo escuta um canto, no consegue dormir mais no restante da noite
porque vai repetindo o que ouviu, para depois pod-lo ensinar aos outros;
se um adulto ou um velho sonha algo, convoca imediatamente, seja qual for
a hora da noite, a assemblia no ptio e transmite a todos a mensagem que
recebeu. (GIACCARIA e HEIDE, 1975, p.9)
24
Lopes da Silva (1983, p.39) diz que, por meio do sonho, os Auwe-xavante captam novas
idias, novas melodias, nomes pessoais inditos e choros rituais, o que, em parte, causa uma
dinmica intracultural que modifica a tradio auwe. Os sonhos ainda lhes permitem prever
doenas, guerras e resultados de caadas bem como conhecer outros mundos, outros
domnios cosmolgicos.
24
PASSOS (2007, p. 21) afirma que Binswanger, um dos autores que foram referncia para Foucault, dizia que
o sonho tal como o mito e a poesia manifesta, claramente, a estrutura ontolgica do homem e recoloca a
unicidade entre interior e exterior, corpo e mente, objetivo e subjetivo, que os neoplatnicos, cristos e
romnticos tomaram, equivocadamente, como polaridades antitticas.
Captulo 2: Abrindo a porta do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
71
Particularmente, creio que os sonhos tm se constitudo tambm numa forma de
resistncia desse povo. Ao mesmo tempo que seus sonhos expem algumas das modificaes
impostas cultura xavante a partir do contato mais ntimo com os missionrios, eles revelam
o nascimento de novos mitos e lhes do fora para reafirmar ritos tradicionais, para
reequilibrar-se. Desse modo, tambm os sonhos, tais como as modificaes nos mitos, ritos e
costumes, permitem-nos perceber a fora da dinmica do encontro intercultural, a ao do
processo de inovao cultural e a resistncia que marca o este povo.
Para falar sobre os sonhos dos Auwe-xavante utilizo uma parte muito pequena do
material coletado junto ao velho Jernimo Xavante pelos pesquisadores Giaccaria e Heide
(1975) e, tambm, algumas anlises de Medeiros (1991). Os primeiros esclarecem que
Jernimo, na poca da pesquisa, alm de ser o Auwe-xavante mais idoso, era reconhecido
pelos seus como um wamari tedewa, isto , um sonhador, um pacificador. Segundo Jung
(1964, p.90),
A origem dos mitos remonta ao primitivo contador de histrias, aos seus
sonhos e s emoes que a sua imaginao provocava nos ouvintes. Estes
contadores no foram gente muito diferente daquelas a quem geraes
posteriores chamaram poetas ou filsofos. No os preocupava a origem das
suas fantasias; s muito mais tarde que as pessoas passaram a interrogar de
onde vinha uma determinada histria.
Mas, para os Auwe, um sonhador profundo que consegue sonhar com os cus (hiwa)
deve ser portador de algumas qualidades: ele no fala mal dos outros, trata bem as pessoas,
evita ser nervoso, pensa coisas boas. Entretanto, a aceitao de algum como um grande
sonhador est submetida a rivalidades polticas, no sendo surpreendente o fato de que sonhos
e narrativas de Jernimo tenham sido questionadas por ancios de uma outra aldeia ouvidos
por Shaker (2002).
De todo modo, tendo sido por dcadas um sonhador respeitado de sua aldeia, nos anos
70 do sculo XX Jernimo teve suas narrativas organizadas por Giaccaria e Heide em dois
volumes, intitulados Jernimo xavante conta e Jernimo xavante sonha. O primeiro volume
contm vrios mitos, enquanto o segundo contempla os contos e sonhos; no entanto, como j
foi dito no pargrafo anterior, para os Auwe-xavante, tanto os sonhos e contos quanto os
mitos so reais. Giaccaria e Heide assinalam que para esse povo a nica distino entre mitos,
sonhos e contos relacionada ao tempo, visto que os primeiros foram vividos antigamente,
por seus antepassados, enquanto os sonhos e contos ocorreram recentemente, com os prprios
narradores. Foi principalmente inspirado nesses livros que, no final da dcada de 80, incio
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
72
dos anos 90 do sculo XX, Medeiros realizou junto a Jernimo uma pesquisa que deu origem
ao livro O Dono dos Sonhos.
O primeiro sonho aqui parcialmente transcrito refere-se ao canto do waia e
GIACCARIA e HEIDE (1975, p.237) o resumiram da seguinte forma:
O Senhor desceu novamente para lhes falar. Trazia numa mo o chocalho e
na outra, urucu. Ele veio para animar os Xavante para continuar a fazer a
festa do waia e tambm lhes ensinou o canto. Mostrou como estava
enfeitado. Insistiu com eles para continuarem as festas, para que todos
cresam nele.
Nas palavras de Jernimo, destacando um pequeno trecho da sua narrativa, observamos o
seguinte dilogo entre ele e o Senhor:
- Vocs devem modificar logo as festas.
- De quem so estas?
- Essas festas so de vocs mesmos. As festas foram dadas para vocs.
Fui eu quem marcou o que vocs devem fazer em suas tribos. Vocs so
Xavante autnticos. De vocs o waia.
(GIACCARIA e HEIDE, 1975, p.238).
O segundo sonho aqui colocado em destaque foi sintetizado pelos pesquisadores da seguinte
forma:
O Senhor apareceu outra vez em sonho. Mandou fazer a corrida do buriti.
Insistiu para os Xavante continuarem fazendo suas prprias festas, no
deixassem de as fazer nunca. Ensinou-lhes tambm o canto que deveriam
cantar nessa ocasio. Jernimo, quando acordou, mandara fazer a festa do
buriti. (GIACCARIA e HEIDE, 1975, p.227/228).
No sonho, ao argumentar com Jernimo acerca da necessidade de fazer a corrida do buriti, o
Senhor teria pronunciado as seguintes palavras:
Em que lugar ficaro em silncio (sem fazer nada)? As suas festas no
podem parar, so de vocs; no podem largar as suas festas. Tem que ser
sempre constantes. S os waradzu que no brincam. Fazem um outro
recreio. E vocs fazem a corrida de buriti. muito bonito ver vocs
correndo. Quando se pintam, pem dois pauzinhos na orelha, muito lindo
ver vocs. (idem)
Como se pode perceber, a manuteno dos ritos (festas, como ele se refere) e a revitalizao
de sua cultura so motivos recorrentes de seus sonhos. O fato de que neles sempre est
presente o Deus que os salesianos a eles apresentou, como uma autoridade maior, pintado
como Auwe-xavante, trazendo seus smbolos e encorajando-os, ressaltando o senso esttico
desse povo, apelando para a beleza uma busca constante dos Auwe-xavante tambm
um indcio importante. O sonho de Jernimo, ento, traz a aprovao do Deus cristo aos
costumes desse povo. Vale lembrar que os Auwe no possuem a figura do xam ou do paj
Captulo 2: Abrindo a porta do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
73
a princpio todos os iniciados so portadores de segredos e poderes que o sonho traz ,
mas o Sonhador possui um papel especial. A ele cabe, alm de prever o futuro por meio dos
sonhos, pacificar litgios que ocorram no interior da sua comunidade ou desta com outras com
que tenha contato, vigiar para que no surjam rivalidades e, ainda, quando morre algum,
afastar o perigo de que se verifiquem vinganas (GIACCARIA e HEIDE, 1984, p.123).
Medeiros (1991) faz uma anlise especial sobre a presena de personagens e smbolos
cristos nas narrativas de Jernimo. A partir da o pesquisador identifica trs momentos. No
primeiro deles, em seus sonhos, Jernimo tinha como interlocutor a madeira wamari que o
sonhador trazia pendurada junto esteira de dormir ou ainda nos lobos das orelhas. Nos seus
sonhos ela adquiria vida, transformando-se num ser humano, num ndio xavante. Era com
esse interlocutor que Jernimo conversava em seus sonhos, at o seu contato com os
missionrios. A partir da, salienta Medeiros, o esprito onrico com o qual Jernimo mantinha
contato assumiu uma nova identidade.
De fato, num segundo momento, com Jernimo catequizado por missionrios
protestantes, confinado geograficamente s reservas de seu povo, submetido proteo do
governo e assistncia dos missionrios, a madeira wamari foi substituda pelo Deus cristo e
por seu filho Jesus. A poca das grandes excurses para a guerra e a caada havia acabado;
assim, diz Medeiros (1991, p. 118), no havia mais possibilidade de seguir os conselhos de
wamari, que incitavam principalmente ao, mas restava o consolo de ter acesso ao
Criador. Seus novos interlocutores no aprovavam aes guerreiras, mas evocavam outros
tipos de aes como as relativas manuteno dos rituais tradicionais e noutras
ocasies sua comunicao era no sentido de punir os membros da tribo por seus pecados, seja
fazendo cair o cu, seja transformando os Auwe em peixes.
Posteriormente, num terceiro momento, a convivncia com missionrios catlicos
traria uma outra modificao, pois nos sonhos de Jernimo fizeram-se presentes Nossa
Senhora e Anjos. Entretanto, Deus, Jesus Cristo e os Anjos aparecem no sonho com
caractersticas diferentes daquelas que povoam o imaginrio da religio catlica tradicional.
As narrativas dos sonhos de Jernimo, notadamente nas transformaes de seus
personagens, so instrumentos importantes para observarmos as modificaes ocorridas na
cultura de seu povo, mas fazem-nos notar ainda que essa cultura se fortalece tanto pelos
sonhos quanto por outros meios; que a cultura auwe, modificada, faz-se viva no algo
do passado. essa cultura, em todas as suas transformaes, que marca a fora do povo
Auwe-xavante.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
74
Fomos chamados de cortadores de cabea e de seres sem alma. Hoje
escrevemos a histria do nosso povo.
Esse conhecimento a nossa conquista.
Misael Amncio Kab Munduruku (www.seduc.pa.gov.br/destaques)
Captulo 3: No labirinto O pensamento (e sentimento) humano
Ren Magritte. Inveno Coletiva. 1934.
leo sobre tela. 73.5 x 97.5 cm. Alemanha
Dana coletiva dos homens Auwe-xavante
Trata-se de evidenciar o caminho das pedras e sugerir que
uma estrutura de certa forma organizada pode surgir
(surge) de processos que se iniciam e percorrem um
intrincado caminho, uma alameda plena de desvios e
outros atalhos. Reconhecer a possibilidade de perder-se
nesses liames como significativa, essencial, produtiva a
essncia do que chamamos de abordagem qualitativa de
pesquisa.
(GARNICA, 2005)
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
76
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
77
metfora do labirinto s permanece, ao longo de uma pesquisa, quando o(a)
explorador(a)/pesquisador(a) se permite estar em estranhamento constante.
Ento, essa estranheza pode tornar-se um impulso propulsor para o aventurar-se em busca de
trilhas e caminhos que podero lev-lo(a) a uma construo prpria. Nessa perspectiva
importante embrenhar-se por algumas reas de estudo como forma de escolher as trilhas a
serem percorridas para a melhor compreenso do labirinto. No meu caso, foi necessria uma
pesquisa bibliogrfica inicial que permitisse conhecer diferentes estudos que tm tratado do
pensamento e do sentimento humanos, bem como dos mitos.
Naquele momento, ao dar os primeiros passos no labirinto, percebi que
Pensar no sair da caverna nem substituir a incerteza das sombras pelos
contornos ntidos das prprias coisas, a claridade vacilante de uma chama
pela luz do verdadeiro Sol. entrar no Labirinto, mais exatamente fazer ser
e aparecer um Labirinto ao passo que se poderia ter ficado estendido entre
as flores, voltado para o cu. perder-se em galerias que s existem porque
as cavamos incansavelmente, girar no fundo de um beco cujo acesso se
fechou atrs de nossos passos - at que essa rotao, inexplicavelmente, abra
na parede fendas por onde se pode passar. (CASTORIADIS, 1987, p. 7/8)
Observei ainda que muitas pessoas, saindo de entre as flores, buscaram um espao
onde fosse possvel a explorao algumas delas, mais que cavar, abrir trilhas ou fazerem
surgir fendas, construram estradas e as pavimentaram. Ao entrar no labirinto, vislumbrei
algumas dessas estradas, percebi que l "no h um acima e um abaixo, no h hierarquias,
no h algo que seja mais fundamental do que qualquer outra coisa" (CAPRA, 1991, p.124).
No h, enfim, reas de conhecimento melhores que outras; existem sim, escolhas, entre as
vrias formas de explorao, entre as vrias teorias disponveis.
Confiante no meu fio de Ariadne, procurei compreender algumas dentre as vertentes
tericas de que dispunha, no em sua totalidade. O gradiente holonmico, por meio dos seus
princpios a reconduo dos limites, a complexidade, a recursividade, a autopoiesis, a
razo sensvel, a multidisciplinaridade
25
e a neotonia humana , permite tal explorao. Esse
fio indispensvel para quem "no tem mapa nem bssola e nada lhe permite prever a
geometria dos lugares. Nem sequer pode aperceber duma ponta do corredor a outra ponta: de
uma encruzilhada no se podem ver outras encruzilhadas (Enciclopdia Einaudi, 1988, v. 8,
p. 252).
Nessa procura, nesse passar por encruzilhadas, refletia:
25
E penso que tambm a interdisciplinaridade.
A
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
78
A Grande Disjuno que reina na cultura ocidental desde o sculo XVII
ventilou o crebro no reino da Cincia, submetendo-se s leis deterministas e
mecanicistas da matria, enquanto o esprito, refugiado no reino da Filosofia
e das Humanidades, vive na imaterialidade, na criatividade e na liberdade.
Quando os dois reinos se encontram, entregam-se Guerra metafsica do
Esprito livre contra a Matria determinista, e ser no terreno da relao
esprito-crebro que se disputar a principal batalha. (MORIN 1999, p. 86)
Para esse terreno encaminhei-me, buscando compreender a presena da etnomatemtica
na alma e no cotidiano indgena e, por meio deste, cheguei ao pensamento simblico. Ento,
optei por um tipo de estudo que explora mltiplas compreenses, o contraponto de idias, e
no uma teoria ou a obra de um autor.
Assim, os estudos tericos centrais deram-se em torno dos vrios significados de
smbolo e compreenses de mitos, e nessa explorao empreendi uma viagem que se desdobra
nos encontros e nos dilogos entre algumas reas e autores. Aventurei-me por entre
corredores e encruzilhadas da Semitica, da Psicologia e da Antropologia, permitindo
cruzamentos e ramificaes, pois os labirintos nos atraem a mltiplos percursos. No entanto,
lembro que em um labirinto o(a) explorador(a), longe de se entregar ao acaso, planeja seus
movimentos em cada encruzilhada, no caminha ingenuamente. Ele(a) constri sua prpria
trilha, nunca se sente obrigado(a) a andar num caminho at o seu final, anda impulsionado(a)
sempre pelo desejo de penetrar o labirinto, de conhecer seus caminhos, cmaras e recantos
escondidos. E assim o fiz mas no sem antes aproveitar uma oportunidade que me foi
dada, observar os estudos de Ddalo (o mestre arteso Mito de Ariadne).
3.1 Da biblioteca de Ddalo Alguns estudos sobre a mente humana
As tentativas de compreender a mente humana e suas operaes no so recentes, elas
nos remetem Grcia antiga, quando Plato e Aristteles tentaram explicar a natureza do
conhecimento humano ambos numa perspectiva idealista que tinha uma verdade como a
priori. Para Plato o conhecimento era independente da experincia e dos sentidos e ocorria
apenas por meio do pensamento e do raciocnio. Posteriormente deu-se o nome de
Racionalismo a essa tal forma de conceber a mente humana. Por sua vez, j numa
perspectiva de categorizar os processos de construo do conhecimento, o empirista
Aristteles acreditava que o conhecimento nascia da experincia.
Para Aristteles, o crebro era um refrigerador que mantinha o corpo frio e
evitava que o corao o esquentasse. Ele pensava que o corao era
responsvel por nossas sensaes e percepes. Outros gregos descobriram o
sistema nervoso, um avano gigantesco, mas ningum associava o crebro
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
79
ao que chamamos de mente. Muitos pensavam que ele era apenas uma
bomba que expulsava espritos do corpo. Na Idade Mdia, a Igreja combinou
as idias gregas com teologia crist. Aprovou-se a viso de que o corpo
servia de casa para trs almas: a alma vegetativa do fgado, responsvel
pelos desejos; a alma vital do corao, produtora de calor e coragem; e a
alma racional da cabea. (ZIMMER, 2004, p.96)
Assim, para Aristteles, razo e emoo constituam aspectos distintos, alocados em
diferentes partes do corpo humano e essa certeza perdurou por sculos, pois s a partir dos
estudos das neurocincias no sculo XX que se ouvem brados mais contundentes contra essa
certeza. De todo modo, o movimento geral contra o feudalismo traria novos questionamentos
acerca do pensamento humano.
Se at ento o ser humano era criado por Deus para seguir um destino, o Humanismo
renascentista do sculo XVI levou ao questionamento e, de alguma maneira, ao rompimento
com essa idia. A nova concepo de ser humano libertou-o da predestinao, colocou-o no
centro do universo e levou-o a intensificar o interesse acerca das capacidades de pensamento.
Atingido pela dvida que se seguiu ao deslocamento de Deus do centro do universo, o
racionalista Ren Descartes (1596-1650) ofereceu uma nova explicao para a relao entre
crebro e mente.
26
Postulando a existncia da substncia espacial (matria) e a substncia pensante
(mente), no centro da mente ele colocou o sujeito individual, constitudo da capacidade de
pensar. Para Descartes essas duas substncias, o mundo fsico e o mundo mental, estavam
essencialmente separadas, interagindo apenas de forma superficial numa parte do crebro.
Essa separao entre o mundo fsico e mental ficou conhecida como dualismo cartesiano.
Ainda hoje a importncia das idias de Descartes amplamente reconhecida para as
discusses acerca da integrao entre mente e crebro, tornando clssica a abordagem
retratada por ele em forma de diagramas, bem como seu cogito, ergo sum. (POSNER &
RAICHLE, 2001, p.12). Por outro lado, tambm no lhe faltam crticas:
esse o erro de Descartes: a separao abissal ente o corpo e a mente, entre
a substncia corporal, infinitamente divisvel, com volume, com dimenses e
com um funcionamento mecnico, de um lado, e a substncia mental,
indivisvel, sem volume, sem dimenses e intangvel, de outro; a sugesto
de que o raciocnio, o juzo moral e o sofrimento adveniente da dor fsica ou
agitao emocional poderiam existir independentemente do corpo.
Especificamente: a separao das operaes mais refinadas da mente, para
um lado, e da estrutura e funcionamento do organismo biolgico, para o
outro.
(DAMSIO, 1996, p.280)
26
Zimmer aponta tambm, no sculo 17, a atuao do Crculo de Oxford, grupo liderado por Thomas Willis.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
80
Na poca de Descartes geralmente os estudiosos utilizavam esquemas ou diagramas
para representar as relaes entre o crebro e a mente; mais tarde passou-se construo de
modelos estes ltimos diferem dos primeiros por se apoiar em uma base cientfica, ao
invs de filosfica ; surgiram, ento, vrios deles. Atualmente era da informao e da
automao o modelo mais utilizado encontra sua base na ciberntica; e a hiptese central
da cincia cognitiva aquela de que "o pensamento o resultado de representaes mentais e
processos computacionais que operam nessas representaes" (THARGARD, 1998, p.21).
Baseado nessa premissa, Thargard apresentou um modelo de representao mental
chamado CRUM (Computational-Representational Understanding of Mind). O CRUM tem
como bsica a idia que o funcionamento do crebro e o do computador so semelhantes em
muitos aspectos: o crebro recebe dados de informao dos meios interno e externo, analisa-
os, processa-os, sintetiza-os e os incorpora sua memria. Quando necessrios, tais dados
podem ser recuperados.
Damsio faz crticas contundentes ao modelo computacional do crebro e compara-o
ao esquema de Descartes. Ele diz que
A preocupao dirigida tanto noo dualista com a qual Descartes separa
a mente do crebro e do corpo quanto s variantes modernas dessa noo:
por exemplo, a idia de que a mente e o crebro esto relacionados, mas
apenas no sentido de a mente ser o programa de software que corre numa
parte do hardware chamado crebro; ou que o crebro e o corpo esto
relacionados, mas apenas no sentido de o primeiro no conseguir sobreviver
sem a manuteno que o segundo lhe oferece. (DAMSIO 1996, p.278)
O prprio Thargard salienta que o modelo computacional, embora multifatorial, no
consegue fazer justia ao pensamento humano, visto que nem todos os aspectos da
inteligncia e pensamento humano podem ser respondidos puramente em termos
computacionais e representacionais (THARGARD, 1998, p.29). Realmente, embora o
modelo defendido por esse autor consiga representar lgica, regras, conceitos, analogias,
imagens e conexes neurais, ele prprio observa que o CRUM incompleto, pois ele no
congrega os aspectos sociais do pensamento e do conhecimento humano (idem, 136). Ainda a
respeito desse modelo, Damsio (1996, p.281) diz que "pode ter sido a idia cartesiana de
uma mente separada do corpo que esteve na origem, na metade do sculo XX, da metfora da
mente como programa de software".
Apesar de a cincia cognitiva, em geral, reconhecer que o pensamento humano
trabalha em diferentes ambientes culturais e que tal fato gera diferentes formas de
pensamento, seu esforo terico est em investigar a universalidade dos processos cognitivos
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
81
(THAGARD,1998). Desse modo, nessa rea de estudos, variveis tais como fatores
histricos, sociais, contextuais e afetivos ou emocionais so ignorados, j que sua incluso
nos estudos dos processos cognitivos "complicaria desnecessariamente" as investigaes
(GARDNER, 1995).
Por sua vez, como estudioso da neurobiologia, Damsio assinala que cada vez mais se
reconhece a inexistncia de fronteiras claras entre os conhecimentos biolgico, mental e social
e prope o estudo do ser humano em toda a sua complexidade. Assim, em O erro de
Descartes (1996), ele postula a existncia de uma ntima relao entre a razo e as emoes,
defendendo que essa relao constitui um elo essencial entre o crebro e a mente. Damsio
prope ento que a famosa frase Penso, logo existo seja substituda por Existo e sinto, logo
penso.
Alm dos estudos de Damsio, outras pesquisas das neurocincias permitem-nos
conhecer a configurao dos neurnios, seu nmero aproximado e a distribuio de suas
sinapses. Tais pesquisas vm reconhecendo que a configurao dos neurnios influenciada
por fatores adquiridos, especialmente os de natureza sociocultural. Isso significa a aceitao,
nessa rea de conhecimentos, do fato de que a maneira pela qual um organismo interage com
o mundo e aprende a perceb-lo que orienta a anatomia funcional do crebro. Significa
ainda que as funes superiores do crebro entre as quais a memria, a inteligncia, o
raciocnio matemtico, a linguagem so atividades que emergem da configurao dos
grupos neuronais em interao com o ambiente (DAMSIO, 1996 e 2000). Assim, os estudos
das neurocincias apontam para o fato de que a compreenso da mente humana requer a
adoo de uma perspectiva que assuma o organismo humano como tendo crebro e corpo,
razo e emoo, integrados e relacionando-se interativamente com um meio ambiente fsico,
social e cultural. Cada vez mais, estudiosos da relao entre crebro e mente enfatizam a
"necessidade de compreender processos psicolgicos bsicos, que estariam subjacentes
enorme variedade de modos de vida, crenas, teorias sobre o mundo, artefatos culturais e
criaes artsticas presentes nos diferentes grupos humanos". (OLIVEIRA, M. K, 1997, p.51).
Investigaes nesse sentido levaram Cole e Scribner citados por Oliveira a
concluir que todo ser humano capaz de abstrair, categorizar, utilizar-se de formas de
representao verbal e fazer inferncias, entre outros processos cognitivos bsicos, todos eles
"mobilizados em diferentes combinaes, dependendo das demandas situacionais enfrentadas
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
82
por membros de diferentes culturas" (OLIVEIRA, M.K, 1997, p.52).
27
Segundo Oliveira, tais
argumentaes possuem suas razes na teoria histrico-cultural de Vygotsky pesquisador
que realizou estudos sobre leses cerebrais, perturbaes de linguagem e organizao das
funes psicolgicas, tanto em situaes normais quanto patolgicas. Seus estudos o levaram
"noo do crebro como um sistema aberto de grande plasticidade, cuja estrutura e modos
de funcionamento so moldados ao longo da histria da espcie e do desenvolvimento
individual" (OLIVEIRA, M. K. 1992, p. 24); levaram-no, enfim, a concluir que a
possibilidade de o ser humano constituir-se como sujeito e apropriar-se do legado cultural da
humanidade depende no s do seu desenvolvimento biolgico, mas, sobretudo, das suas
interaes com o meio fsico e social em que vive.
Contrariamente, para Piaget, os fatores socioculturais ocupam lugar secundrio. Esse
pesquisador buscava conhecer a mudana de estado dos processos cognitivos no processo de
assimilao e de acomodao do organismo e, para tanto, concebia um "isomorfismo
estrutural entre as organizaes biolgicas e cognitivas" (PIAGET citado por MORIN, 1999,
p. 49). Segundo Edgar Morin, Piaget teria se cristalizado em demasia, encontrando auto-
regulao e no uma auto-eco-organizao. Dasen (1972) tambm critica a nfase na auto-
regulao pela teoria piagetiana, por considerar, por exemplo, uma tal universalidade na
mudana do estgio pr-operacional para o das operaes concretas. Mas a partir da sua
crtica que Morin busca complementar a Epistemologia Gentica de Piaget, salientando a
importncia da cultura na constituio dos processos cognitivos. Ele explica que "as
neurocincias do novos saltos para a frente. Descobre-se que no h atividade intelectual,
movimento de alma, delicadeza de sentimento, o menor sopro de esprito, que no
corresponda a interaes moleculares e no dependa de uma qumica cerebral." (MORIN,
1999, p. 90).
Morin diz ainda que
No se pode isolar o esprito do crebro nem o crebro do esprito.
Alm disso, no se pode isolar o esprito/crebro da cultura.
O esprito, que depende do crebro, depende de outra maneira, mas
no menos necessariamente, da cultura. preciso que os cdigos lingsticos
e simblicos sejam gravados e transmitidos numa cultura que d a
emergncia do esprito. A cultura indispensvel para a emergncia do
esprito e para o desenvolvimento total do crebro, os quais so
27
Esta autora esclarece ainda que a Psicologia Antropolgica, ao postular a cultura como constitutiva do
psiquismo, no a toma como uma fora que molda sujeitos passivos de acordo com padres preestabelecidos; ao
contrrio, salienta a ao individual com base na singularidade dos processos de desenvolvimento de cada
sujeito. Afinal, diz ela, se no houvesse uma constante negociao interpessoal, no haveria recriao da cultura
e teramos, ento, culturas sem histria e gerao de sujeitos idnticos em cada grupo cultural.
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
83
indispensveis cultura e sociedade humana, as quais s existem e ganham
consistncia na e pelas interaes entre os espritos/crebros dos indivduos.
Enfim, a esfera das coisas do esprito e continua inseparvel da
esfera da cultura: mitos, religies, crenas, teorias, idias. Essa esfera
submete o esprito, desde a infncia, atravs da famlia, da escola, da
universidade, etc., a um imprinting cultural; influncia sem volta que criar
na geografia do crebro ligaes e circuitos intersinpticos, isto , seus
caminhos, vias, limites. Assim, a cultura deve fazer parte da unidualidade
esprito/crebro, transformando-a em trindade. Ela , no um estranho, mas
um terceiro includo na identidade do esprito/crebro. (idem, p.94)
Desse modo, tanto vygotskianos quanto piagetianos ressaltam a importncia da cultura na
configurao do crebro e da mente.
Apesar da grande importncia que as teorias de Vygotsky e Piaget assumem para o
tratamento dessa questo, elas no sero tratadas em profundidade neste estudo. Penso que a
compreenso das idias de ambos na medida necessria para o que ser tratado aqui
pode dar-se a partir de um olhar para o dilogo travado entre a Psicologia e a Antropologia;
afinal, os trabalhos de ambos tomaram como referncia estudos antropolgicos, notadamente
o de Lvy-Bruhl.
3.2 Alguns esboos de labirintos possveis Um breve olhar para os
estudos de Lvy-Bruhl, Piaget e Vygotsky
Lvy-Bruhl acreditava que para compreender a alma humana era necessrio
considerar o carter sociolgico das funes mentais superiores e, ento, viu-se frente
questo de construir uma Psicologia que levasse em considerao tanto as representaes e os
sentimentos, quanto o meio social em que os indivduos viviam. Tomou, ento, como objeto
de anlise os fenmenos ocorridos naquilo que chamava de sociedades primitivas. Sua
proposta era determinar as leis mais gerais a que obedecem as representaes coletivas nessas
sociedades, isto , estabelecer os princpios diretores da mentalidade primitiva, para a partir
da explicar, por comparao e contraposio, o funcionamento das categorias e dos
princpios lgicos de apreenso da realidade pelos indivduos civilizados.
Lvy-Bruhl postulou a existncia de uma diferena bsica entre o pensamento
primitivo e o civilizado e para explic-la formulou os conceitos de misticismo,
prelogismo e participao. Disse que a mentalidade dos seres humanos primitivos era
essencialmente mstica e, portanto, pr-lgica. Com isso deixava claro que, sob o seu ponto de
vista, as sociedades primitivas, preocupadas, sobretudo, com as propriedades e foras
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
84
msticas de objetos, seres, fenmenos..., concebiam a relao entre eles sob a lei de
participao, sem inquietar-se com contradies que um pensamento lgico no aceitaria.
Desse modo, o pensamento pr-lgico no seria algico ou antilgico, mas sim um tipo de
pensamento que no procurava evitar contradies.
Estava implcito no conceito de prelogismo a idia de que os povos primitivos no
pensavam de acordo com os princpios da lgica ocidental. Entretanto, Lvy-Bruhl sustentava
que o pensamento primitivo s era pr-lgico no sentido de que ele no teria sofrido o
tratamento dado pelo indivduo. Isso, no seu ponto de vista, ocorria devido ao fato de que, nas
sociedades primitivas, a ordem coletiva impe-se ao indivduo, sem oferecer a ele
condies de reflexividade. Assim, explicitava sua crena de que, nas sociedades
primitivas, as representaes coletivas seriam concretas, emocionais, vividas, sentidas,
sintticas, presas s imagens. Em contraposio, nas sociedades ocidentais, haveria um
predomnio da ordem do indivduo, e desse modo, as representaes coletivas ganhariam
outros contornos, superariam seu carter concreto e emocional, tornando-se abstratas,
racionais, analticas e conceituais.
Lvy-Bruhl considerou o esprito humano fundamentalmente ativo e passvel de
modificaes ocorridas a partir da influncia dos estmulos provenientes do mundo exterior.
Assim, tanto nas sociedades primitivas quanto nas sociedades tradicionais, as
representaes coletivas funcionariam como mediadoras entre as sensaes captadas pelos
sentidos e as percepes. Filtrando, selecionando e organizando as sensaes, elas seriam as
responsveis pela integrao mental desses estmulos. A idia de mediao presente em sua
obra claramente ilustrada pelo trecho em que diz:
Os primitivos no percebem nada como ns. Do mesmo modo que o meio
social em que vivem diferente do nosso, e precisamente porque diferente,
o mundo exterior que percebem difere tambm daquele que percebemos.
Sem dvida possuem os mesmos sentidos que ns [...] e a mesma estrutura
do aparelho cerebral. Mas preciso levar em conta aquilo que as
representaes coletivas fazem entrar em cada uma de suas percepes
[...]
Os objetos familiares so reconhecidos de acordo com as experincias
anteriores, em suma, todos os processos fisio-psicolgicos da percepo
funcionam neles como em ns. Mas seu produto logo envolvido em um
estado de conscincia complexo, no qual dominam as representaes
coletivas. Os primitivos vem com os mesmos olhos que ns: no percebem
com o mesmo esprito. (LVY-BRUHL, 1957/1910, p. 37/38 citado por
GERKEN E GOUVA, 2000, p.26)
importante ressaltar que nos seus ltimos escritos Lvy-Bruhl reformulou suas
idias, renunciou idia da diferena e afirmou que a estrutura lgica do pensamento humano
a mesma em todas as sociedades humanas. Ele concluiu que
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
85
Do ponto de vista estritamente lgico, nenhuma diferena essencial
constatada entre a mentalidade primitiva e a nossa. Em tudo o que diz
respeito experincia corrente ordinria, transaes de todas as sortes, vida
poltica, econmica, uso da numerao, etc, eles se comportam de uma
maneira que implica o mesmo uso de suas faculdades que ns fazemos da
nossa. (LVY-BRUHL, citado por GERKEN E GOUVA, 2000, p. 29).
Piaget, em suas pesquisas, manteve um dilogo constante com a obra de Lvy-Bruhl,
mas distanciou-se dela nos momentos em que o antroplogo francs negou a generalidade das
estruturas. Piaget recorreu ao conceito de pensamento pr-lgico para compar-lo ao
pensamento infantil, dizendo, ento, que os povos primitivos tinham uma estrutura
cognitiva prxima de uma criana de doze anos. Entretanto, ele apontava a existncia de
certo exagero na oposio entre mentalidade primitiva pr-lgica e civilizada, contida na obra
de Lvy-Bruhl. Por exemplo, para ele, seja na mentalidade primitiva ou na civilizada, no
existem estados afetivos, sentimentos, sem elementos cognitivos, assim como no existem
comportamentos puramente cognitivos.
Vygotsky tambm utilizou a idia da heterogeneidade entre o primitivo e o
civilizado exposta por Lvy-Bruhl no incio de seus estudos. Ao explorar a idia de
prelogismo preconizada por Lvy-Bruhl, Vygotsky e Luria (1996) salientaram que uma
caracterstica bsica do pensamento pr-lgico a lei da participao (heterogeneidade),
segundo a qual um s e mesmo objeto pode manter relaes completamente diferentes,
rejeitando, ento, a lei do terceiro excludo.
Em contraposio teoria evolutiva de Piaget, a teoria scio-histrica de Vygotsky
no aceitava a generalidade das estruturas cognitivas e dava um papel de destaque aos fatores
socioculturais. Ele acreditava que " a sociedade e no a natureza que deve figurar em
primeiro lugar como fator determinante do comportamento do ser humano. Nisso consiste
toda a idia de desenvolvimento cultural (VYGOTSKY, 1995, p.89). Assim, Vygotsky
concebeu o psiquismo humano como uma construo especialmente social, resultado da
apropriao, por parte dos indivduos, das produes culturais da sociedade.
A obra de Lvy-Bruhl, mais especificamente a sua idia da mediao das
representaes coletivas, serviu de referncia para que Vygotsky pensasse sobre as funes
psquicas superiores. Segundo a teoria vygotskyana, a apropriao das produes culturais por
parte dos indivduos no ocorre de forma direta, mas sim mediada. Essa via mediada faz-se
por meio do signo, da a afirmao de que nos seres humanos a dimenso social
necessariamente semitica. Ao tematizar o desenvolvimento humano, Vygotsky
Propunha a anlise da cultura e da histria como integrantes do processo;
defendendo e enfocando o desenvolvimento cultural, ressaltava a
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
86
importncia das condies concretas de vida, da linguagem, das relaes de
ensino; problematizando a cognio e o conhecimento humano, enfocava e
discutia a imaginao e a emoo. Nesse esforo terico, trazia a semitica
para dentro da psicologia. A questo da significao adquiria, ento, lugar
de destaque nas suas indagaes e investigaes. E o signo passava a ocupar
um lugar central nas suas elaboraes tericas.
(SMOLKA, 2004, p.40).
Vygotsky tambm questionou as relaes entre afeto e cognio, concluindo que as emoes
esto integradas ao funcionamento mental e tm participao ativa na sua configurao.
Do que foi dito at o momento, percebe-se que
O percurso seguido ao longo da reflexo sobre pensamento/conhecimento
racionais conduziu-nos ao Homem, Vida, Conscincia e Significao.
Podemos dizer que o aprofundamento da racionalidade desgua hoje numa
categoria mais vasta que integra transdisciplinar e holisticamente a
intencionalidade, ou o sentido do pensar/agir humanos: a categoria do
pensamento/conhecimento simblicos. (VERGANI, 2003, p.55).
Podemos dizer, enfim, que:
O que nos distingue de outros animais menos inteligentes nossa
capacidade de produzir e manipular smbolos. Este o real carter distintivo
da inteligncia humana: a produo e manipulao de smbolos que do
origem s atividades cognitivas superiores, como a Matemtica e a
linguagem. (TEIXEIRA, 1998, p.44).
Podemos tambm, enfim, dizer que somos seres que pensam, sentem, falam e criam
formas de contar, classificar, explicar... e que para isso usamos smbolos.
3.3 O terreno sobre o qual o labirinto construdo Os Smbolos
A palavra smbolo deriva do grego symballo, cujo sentido reunir, entrelaar, compor,
fazer a unidade. Originalmente, smbolo era uma forma de reconhecimento na qual um objeto
uma moeda, um pequeno prato de argila, um anel, ou ainda a metade de uma concha de
madreprola era dividido em duas partes e o ajuste e o confronto entre elas permitiam aos
portadores de cada uma das partes reconhecerem-se. No entanto, existem muitas formas de
definir os smbolos, visto que eles no so entendidos ou explicados nos mesmos termos pela
Semitica, pela Filosofia, pela Psicologia, pela Histria das Religies ou pela Antropologia.
Muitas vezes encontramos maneiras no apenas diferentes de tratar os smbolos, mas opostas
e at contraditrias inclusive no interior de uma mesma rea de estudos.
Observa-se, pois, que
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
87
O trajeto de nossa compreenso da mente no consiste numa marcha
decidida em direo a um ponto mega em que tudo enfim se encaixa
alegremente; consiste na exposio repetida de investigaes distintas, de tal
modo que, vez por outra, de maneira aparentemente interminvel, elas
imponham reconsideraes profundas umas das outras.
(GEERTZ, 2001, p.176).
Partindo desta constatao, discutirei algumas das diferentes maneiras de tratar o tema
do pensamento simblico, trilharei alguns dos caminhos que o labirinto oferece.
3.3.1 Nos caminhos da Semitica
A preocupao com o estudo dos significados j estava presente nos estudos da
Antigidade. Santo Agostinho, no sculo III, escreveu uma definio clssica e abrangente de
signo a partir das reflexes de Plato, de Aristteles e, tambm, dos esticos
28
. A esse
respeito, diz Smolka, "as indagaes e as argumentaes de Santo Agostinho evoluem e se
adensam at chegar, como em Aristteles, [...] idia de Deus como VERBUM, fonte
primeira de sentido" (SMOLKA, 2000, p.37). Ela afirma tambm que esta perspectiva greco-
romana-crist perdurou por toda a Idade Mdia e o Renascimento, perodo no qual se observa
a "persistente idia de uma ordem preestabelecida, (im)posta por Deus ou pela Natureza,
cujos sentidos podem ser revelados e expressos pela linguagem, que permite ao homem
descobri-los. [...]" (idem).
Nas pocas acima citadas o signo era compreendido como uma idia que representa
uma coisa, ou uma coisa que representa outra coisa. A noo de representao "envolvia a
percepo e a formao de imagens, trazendo implicadas, por sua vez, uma relao de
semelhana, uma idia de imitao e uma funo de substituio estar no lugar de"
(SMOLKA, 2004, p.38).
Nos sculos XVI a XVIII, o empirismo e o racionalismo
29
adquiriram configuraes
diferentes das originais: a linguagem passou a ser compreendida como um meio transparente
de expresso e comunicao de pensamentos; estes, por sua vez, eram vistos como derivados
diretos de uma impresso sensorial e criados sem qualquer participao da linguagem. Por
28
O grego Zeno de Citium (334-262 a.C) fundou uma escola que se chamou estica, devido ao local onde ele
costumava ensinar, prximo a um prtico adornado com quadros de vrias cores. Os esticos afirmavam que o
universo pode ser reduzido a uma explicao racional e que ele prprio uma estrutura racionalmente
organizada. Acreditavam ainda que a capacidade do ser humano de pensar, projetar e falar estaria plenamente
incorporada no universo. Segundo SMOLKA (2004, p.37), "os esticos apresentavam um modelo tridico de
relao [entre conhecimento, linguagem e mundo], mas concebiam coisas e sons como corpos que, com seus
estados, qualidades e quantidades, interatuavam entre si, provocando efeitos ou acontecimentos".
29
O racionalismo fundou-se sobre a crena na capacidade do intelecto humano para compreender corretamente a
realidade. J o empirismo apregoava que nenhuma certeza possvel, nenhuma verdade absoluta, pois no
existem idias inatas e o pensamento s existe a partir da experincia sensvel.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
88
outro lado, a linguagem era concebida como um sistema de signos ligados a princpios
universais de raciocnio de natureza arbitrria. Tambm nesse perodo acreditava-se que as
palavras impediam o conhecimento da verdade esta isomorfa ao pensamento e natureza,
enquanto que a linguagem revelaria sua estrutura e possibilitaria desvendar seus segredos.
(FOUCAULT, 1987), (SMOLKA, 2004).
Ainda no sculo XVII a Lgica de Port Royal
30
contribuiu para consolidar a viso
dualista do signo, conduzindo sua representao por meio de dois elementos. Contudo,
nessa poca, o signo passou a ser concebido de uma outra forma: era necessrio, alm da
representao, uma re-flexo. Na verdade, analisa SMOLKA (2004, p.39), o signo era
caracterizado por um desdobramento, uma reversibilidade e implicava a presena virtual de
um sujeito. Por outro lado, a significao era tida como fundamental, natural e comum, o
sentido era compreendido como uma outra significao (sentido figurado, sentido objetivo,
sentido desviado, sentido prprio). Enfim, nessa poca, o sentido era psicolgico, enquanto a
significao era lingstica.
J em meados do sculo posterior, fundando-se no empirismo de Locke, Condillac
elaborou o sensualismo radical
31
, que requeria uma teoria dos signos para dar conta tanto da
comunicao quanto da origem das idias e do funcionamento dos processos mentais. Para
Condillac, os processos mentais requeriam a manipulao de signos convencionais, e o uso da
razo levava a linguagens cada vez mais perfeitas. Ele acreditava tambm que o uso cada vez
maior dos signos aperfeioava a capacidade mental. Entretanto, Condillac recusava-se a
acreditar na capacidade inata de conhecimentos; ele postulava que, a partir das sensaes,
ocorria a emergncia de sistemas semiticos cujo funcionamento era essencial para a
cognio. (FOUCAULT, 1987), (SMOLKA, 2004).
A partir desse momento histrico, lembra Smolka (2004), possvel identificar
diversos movimentos na busca pelo sentido, todos eles com fortes marcas do naturalismo, do
espontanesmo e do universalismo
32
, at chegarem idia de que a produo de sentido se d
nas prticas coletivamente vivenciadas, (con)sentidas e pensadas num contexto histrico.
30
Antoine Arnaud e Pierre Nicole foram os autores de La Logique: ou lart de penser (1662), que foi traduzido
para o ingls como The Port-Royal Logic (1851). Essa obra, que apresenta uma introduo lgica aristotlica,
foi considerada a mais importante publicao sobre lgica at o incio do sculo XX. Em seu livro eles insistiam
que, em qualquer investigao cientfica, termos obscuros ou desconhecidos deveriam ser definidos e que
somente termos perfeitamente conhecidos poderiam ser utilizados nas definies.
31
Tese de que todos os estados mentais so derivados, por associao, de sensaes recebidas passivamente.
32
O Naturalismo defende que todos os fenmenos podem ser explicados mecanicamente em termos de causas e
leis naturais; v o universo como uma mquina ou organismo desprovido de propsito geral. O espontanesmo,
por outro lado, cr que os fenmenos ocorrem de modo espontneo. O universalismo enfatiza a multiplicidade e
a pluralidade dos fenmenos, procurando compreend-los de forma holstica.
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
89
essa herana, diz ela, que permitir a emergncia de uma perspectiva histrico-cultural do
desenvolvimento humano, marcada, sobretudo, pelas contribuies de Vygotsky. Este
pesquisador, ao transitar confortavelmente por reas tais como Estudos da Linguagem, da
Psicologia, da Medicina, da Neurologia, da Crtica Literria e da Educao, produziu uma
teoria (j comentada anteriormente) que determinou um deslocamento conceitual e viabilizou
novos modos de compreender a significao como prtica social. Entretanto, no h como
desconsiderar a grande contribuio de dois contemporneos seus Saussure e Peirce
para os estudos dos signos; afinal, o lingista Ferdinand de Saussure definiu pela primeira vez
alguns dos conceitos-chave daquilo que chamou de semiologia, enquanto Peirce filsofo e
lgico deu maior impulso rea.
O termo semitica liga-se mais a Peirce, enquanto o termo semiologia
33
se liga mais a
Saussure; os dois termos so oriundos da mesma palavra grega semeion. O primeiro
mais utilizado pelos anglo-saxnicos e o segundo, pelos europeus, sobretudo pela escola
francesa. Lopes (1995, p.15) diz que semitica ou semiologia "a cincia que estuda os
sistemas de signos, quaisquer que eles sejam e quaisquer que sejam as suas esferas de
utilizao.
Vrios autores, como Lopes, no distinguem as duas palavras, enquanto outros, como
Fidalgo (2004), dizem que a grande diferena entre semiologia e semitica est na tradio
sobre as quais elas se assentam: a tradio lingstica e a tradio filosfica. Para ele
Enquanto os trabalhos semiolgicos que se inserem na tradio de
Saussure consistem numa aplicao analgica dos processos e princpios da
Lingstica a outros domnios da cultura, a semitica filosfica praticada
pelos anglo-saxnicos, ao estudar o papel da linguagem no conhecimento
e, em conseqncia, ao abordar o problema de uma linguagem das cincias,
visa sobretudo elaborar uma teoria geral da linguagem enquanto parte
integrante de uma teoria do conhecimento. (FIDALGO, 2004)
Apesar disso, diz Fidalgo,
No existe uma semiologia a par de uma semitica. Com contributos
importantes e decisivos, nomeadamente os provenientes da filosofia de
Wittgenstein e da teoria dos atos de fala, a semitica filosfica influenciou
determinantemente a lingstica e tem vindo a afirmar-se como o paradigma
semitico. generalizao efetiva do termo semitica corresponde tambm
a absoro da semiologia lingstica pela semitica filosfica. De qualquer
33
O prprio Saussure falou sobre o nascimento de "uma cincia que estude a vida dos signos no seio da vida
social; ela constituir uma parte da psicologia social e, por conseguinte, da psicologia geral; cham-la-emos de
Semiologia. Ela nos ensinar em que consistem os signos, que leis os regem" (Curso de Lingstica Geral, s/d.
p. 24).
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
90
modo, necessrio que a semitica contempornea tenha sempre presente a
sua dupla origem: a lgico-filosfica e a lingstica.
34
(FIDALGO, 2004).
Embora tanto Saussure quanto Peirce concordassem que o pensamento e a
comunicao se do por meio dos signos, cada um deles tinha uma conceituao diferente.
Saussure concebia o signo como combinao de um significante (uma expresso, som) e um
significado (um conceito). Peirce, por sua vez, admitia trs componentes, dois dos quais
comparveis aos colocados por Saussure e o terceiro, que ele chamou de intrprete. Para ele
"um signo, ou representmen aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para
algum, mas o signo representa esse objeto no em todos os seus aspectos, mas com
referncia a um tipo de idia chamada de fundamento ou representmen." (PEIRCE, 1990, p.
46)
O fragmento colocado a seguir torna mais claro seu argumento:
A palavra signo ser usada para denotar um objeto perceptvel, ou apenas
imaginvel, ou mesmo inimaginvel num certo sentido pois a palavra
estrela, que um signo, no imaginvel, dado que no esta palavra em
si mesma que pode ser transposta para o papel ou pronunciada, mas apenas
um de seus aspectos, e uma vez que a mesma palavra quando escrita e
quando pronunciada. Sendo no entanto uma palavra que significa astro com
luz prpria. E outra totalmente distinta quando significa artista clebre e
uma terceira quando se refere a sorte. (PEIRCE, 1990, p.46-47)
Para Saussure o signo o "total resultante da associao entre o significante e o
significado", o significante parte perceptvel do signo e o significado, sua parte inteligvel,
(SAUSSURE, 1995, p. 81). Saussure enunciou o princpio da arbitrariedade do signo, isto ,
para ele, a associao entre signo e significante arbitrria, puramente psquica. Peirce
tambm acreditava no carter arbitrrio dos signos; no entanto, segundo ele, existia a
necessidade de o signo no ser estranho ao seu objeto, mas estabelecer uma certa
familiaridade(p. 47-48). Essa familiaridade foi colocada por Peirce como uma conexo
dinmica (PEIRCE, 1990, p.74).
Ele salientou o fato de que muitas vezes a origem de cada signo, seja pelo tempo ou
pelo costume de us-lo, passa-nos despercebida. Peirce afirmou que "um Signo se constitui
em signo simplesmente ou principalmente pelo fato de ser usado e compreendido como tal,
quer seja o hbito natural ou convencional, e sem se levar em considerao os motivos que
originariamente orientam sua seleo" (PEIRCE, 1990, p.76). Alm do signo, Peirce definiu
cone, ndice e smbolo.
34
Para Lvi-Strauss, a Semitica est mais voltada para os signos da natureza, enquanto a Semiologia se ocupa
dos signos da cultura.
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
91
- O cone no tem conexo dinmica alguma com o objeto que representa;
simplesmente acontece que suas qualidades se assemelham s do objeto e
excitam sensaes anlogas na mente para a qual uma semelhana.
Mas, na verdade, no mantm conexo com elas.
- O ndice est fisicamente conectado com seu objeto: formam ambos um
par orgnico, porm a mente interpretante nada tem a ver com essa
conexo, exceto o fato de registr-la, depois de ser estabelecida.
- O smbolo est conectado a seu objeto por fora da idia da mente-que-
usa-o-smbolo, sem a qual essa conexo no existiria.
(PEIRCE, 1990, p.73)
Por exemplo: um desenho pode ser um cone e a fumaa, um ndice do fogo.
Acima de tudo, Peirce afirmou o carter representativo do smbolo, ao dizer que ele
est no lugar de algo ou algum, que "um smbolo um representmen cujo carter
representativo consiste exatamente em ser uma regra que determinar seu interpretante. Todas
as palavras, frases, livros e outros signos convencionais so smbolos" (idem, p.71). Ele
explicou tambm que um constituinte de um smbolo pode ser um ndice ou um cone.
Lachnitt (2001, p.52) alerta para o fato de que Peirce "rejeita a concepo de que os
smbolos sejam seres estticos, acabados e completos para sempre. Pelo contrrio, esto
envolvidos num permanente processo de criao e recriao". Realmente, Peirce (1990, p. 74)
afirma que "um smbolo, uma vez existindo, espalha-se entre as pessoas. No uso e na prtica,
seu significado cresce. Palavras como fora, lei, riqueza, casamento veiculam-nos
significados to distintos dos vinculados para nossos antepassados brbaros".
Dessa forma, inequivocadamente, Peirce diz que o ambiente cultural onde os smbolos
so usados pode modific-los, ampli-los e/ou atualiz-los dinamicamente. No entanto,
parece-me, uma componente importante no foi considerada. Se, para Saussure, a associao
entre signo e significante arbitrria, puramente psquica e se, para Peirce, que tambm
acredita no carter arbitrrio dos signos, necessrio estabelecer uma certa familiaridade
entre eles, para Jung existe a necessidade de uma experincia emocional. Jung afirma que
"no se pode compreender fenmeno algum exclusivamente pelo intelecto, porque aquele
composto no apenas de sentido, mas tambm de valor e este se baseia na intensidade das
tonalidades sentimentais que o acompanham". Afinal, acredita ele, "pela emoo o sujeito est
sendo includo e, dessa forma, chega a sentir todo o peso da realidade" (JUNG, citado
JACOBI,1990, p.23).
Parece-me interessante considerar as afirmaes de Jung, pois, como assinala Durand
(1996, p.235), a psicologia estava escravizada por modelos quantitativos, at que Freud,
Adler e Jung colocaram no s os sentimentos, mas tambm o imaginrio e seus
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
92
condicionamentos diversos ou mesmo divergentes no prprio cerne da organizao
psquica. Desse modo, o processo de individuao de Jung e a cura psicanaltica de Freud
permitiram a constituio de uma espcie de anatomia e fisiologia metafrica do imaginrio.
3.3.2 Na trilha de Jung
Segundo Jung, para compreender a personalidade humana como um todo,
necessrio, antes, admitir a impossibilidade de uma descrio completa dela; visto que "em
toda personalidade existe inevitavelmente algo de indelvel e de indefinvel, [...]. Estes fatores
desconhecidos constituem aquilo que designamos como o lado inconsciente da
personalidade". (JUNG, Psicologia e Religio, p. 46).
O conceito de inconsciente importante na obra de Jung e, para ele, preciso explicar
sua apario e recorrncia. Em suas pesquisas Freud usava apenas o termo inconsciente,
enquanto Jung separou esse termo em dois: inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Para
Freud, no inconsciente est o contedo constitudo do material oriundo de comportamentos
repelidos e reprimidos de vivncias emocionais dos primeiros anos de vida; material este que
pode ser doentio. Jung definiu o inconsciente coletivo e disse que "o que provm do
inconsciente coletivo jamais material doente, doentio s pode ser o que vem do
inconsciente pessoal e nele sofre a transformao e recebe colorao especfica, resultante da
incluso numa esfera de conflito individual" (JUNG, citado por J. JACOBI, 1990, p. 32).
Jung entende que o inconsciente coletivo constitudo de formas tpicas de vivncias
da espcie humana herdadas de um fundamento psquico. Pode-se dizer, ento, que para esse
autor o inconsciente coletivo "pertence matriz eterna de cada psique humana" (JACOBI,
1990, p.31), no sendo, portanto, fruto de experincias individuais, mas sim inato. Apesar
disso, essas imagens universais so suscetveis de variaes entre as sociedades, os tempos
e os indivduos, embora essas variaes mantenham em si a mesma significao. Como
definido por Jung, o inconsciente pessoal ou coletivo no apenas aquilo de que no
temos conscincia, um no-saber, mas sim um outro tipo de saber, de origem diferente do
saber consciente.
Outro conceito importante na obra de Jung o complexo, ao qual se une o conceito
fundamental de arqutipo. Verena Kast (1997, p. 41) explica que os complexos "so
contedos do inconsciente, atados pela mesma emoo e pelo mesmo ncleo comum de
significado (arqutipo), e que at certo ponto, podem representar-se reciprocamente".
Freud j havia descrito os complexos oriundos do inconsciente e nesse ponto Jung
concorda com ele, constatando que existem complexos provenientes do inconsciente pessoal,
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
93
sendo eles doentios e negativos, uma vez que esto relacionados a problemas vividos na
experincia pessoal de cada indivduo. Mas Jung discordou do seu mestre no que se refere
inexistncia de complexos de carter positivo no inconsciente coletivo. Em sntese, para Jung,
as pessoas possuem dois tipos de complexos: os residentes no inconsciente coletivo e aqueles
residentes no inconsciente pessoal. Os primeiros so como que instintos ou intuies
humanas, tm carter positivo e so patrimnio de toda a humanidade; por outro lado, os
complexos residentes no inconsciente pessoal so adquiridos e podem irromper em conflitos,
da seu carter negativo.
Jacobi (1990, p. 18) explica os complexos da seguinte maneira:
- Cada complexo constitudo, [...] primeiro de um elemento nuclear ou
portador de significado, estando fora do alcance da vontade consciente, ele
inconsciente e no-dirigvel.
- Em segundo lugar, o complexo constitudo de uma srie de associaes
ligadas ao primeiro e oriundas, em parte, da disposio original da pessoa, e,
em parte, das vivncias ambientalmente condicionadas do indivduo.
Jacobi ilustra suas afirmaes a respeito do complexo coletivo falando da existncia,
em cada um de ns, de uma imagem paterna que pode ser personificada, por exemplo, no
deus grego Zeus. Diz ainda que s se pode falar em um complexo paternal se houver um
choque entre a realidade do indivduo e essa imagem.
Por sua vez, arqutipo, do grego "arkhtypos", etimologicamente significa modelo
primitivo, idias inatas. Podem-se entender os arqutipos como respostas tpicas a situaes
tpicas ou, de outra forma, so possibilidades que existem no inconsciente coletivo,
potencialidades. Fazem parte de um universo pouco definvel, mas imprescindvel para a
compreenso do indivduo em seu todo. Para eles inexistem definies finais, existem apenas
formas de tentar compreend-los, da mesma forma que aos seres humanos, acreditam os
psiclogos junguianos. Entretanto, Jung explica que os arqutipos so, sobretudo, estruturas
fundamentais da psique humana, herdadas desde tempos remotos, mas sem contedo
especfico tal contedo s apareceria na vida individual a partir das experincias pessoais.
Jacobi (1990, p.53) completa dizendo que
os arqutipos nada mais so do que formas tpicas de conceber e contemplar,
de vivenciar e reagir, da maneira de se comportar e de sofrer, retratos da
prpria vida que se compraz em produzir formas, em dissolv-las e em
reproduzi-las de novo com o velho cunho, no apenas no material como no
psquico e tambm no espiritual .
importante que se reafirme a crena de Jung no carter dinmico e enrgico dos
arqutipos, visto que, segundo a sua concepo, ao mesmo tempo que estes se ligam histria
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
94
da humanidade, tambm esto relacionados a cada indivduo por meio de uma ponte de
emoes. "Por isso impossvel dar a qualquer arqutipo uma interpretao arbitrria (ou
universal); ele precisa ser explicado de acordo com as condies totais de vida daquele
determinado indivduo a quem se relaciona" (JUNG, 1964, p.96). Desta forma, os arqutipos
no devem ser compreendidos apenas como impregnaes de experincias tpicas
incessantemente repetidas, embora exista uma tendncia repetio das mesmas experincias.
Nas palavras de Jung:
O arqutipo , na realidade, uma tendncia instintiva, to marcada como o
impulso das aves para fazer seu ninho ou o das formigas para se
organizarem em colnias. [...] Chamamos de instinto aos impulsos
fisiolgicos percebidos pelos sentidos. Mas, ao mesmo tempo, estes
instintos podem tambm manifestar-se como fantasias e revelar, muitas
vezes, a sua presena apenas atravs de imagens simblicas. So a estas
manifestaes que chamo de arqutipo. A sua origem no conhecida; e
eles se repetem em qualquer poca e em qualquer lugar do mundo
mesmo onde no possvel explicar a sua transmisso por descendncia
direta ou por fecundaes cruzadas resultantes da migrao.
(JUNG, 1964, p.69)
Finalmente, diz Jung, os arqutipos "criam mitos, religies e filosofias que influenciam e
caracterizam naes e pocas inteiras" (JUNG, 1964, p.79). Por sua vez, os arqutipos so
expressos por meio dos smbolos ou, de outra forma, o smbolo extrado da vida e aponta
para o arqutipo; isto , os smbolos so a chave para o inconsciente, para o fundamento da
nossa psique, que so os arqutipos.
Assim, todo fenmeno psicolgico um smbolo, no sentido de que ele enuncia ou
significa algo mais e algo diferente, algo que escapa ao nosso conhecimento atual. O que se
percebe no smbolo uma conscincia em busca de outras possibilidades de sentido. Jung via
no smbolo a possibilidade de uma ao mediadora, uma tentativa de encontro entre opostos,
movida pela tendncia inconsciente totalizao. No processo de individuao, a
interpretao dos smbolos exerce um papel prtico de muita importncia, pois estes
representam tentativas naturais para a reconciliao e a unio dos elementos antagnicos da
psique. Uma vez interpretado o smbolo, encontrado um sentido especfico, ele passa a ser um
sinal, uma coisa conhecida. "O sinal sempre menos do que o conceito que ele representa,
enquanto o smbolo significa sempre mais do que o seu significado imediato e bvio".
(JUNG, 1964, p.55)
Os smbolos acompanham as etapas do processo de individuao como se fossem
marcos de um caminho, eles se baseiam em determinados arqutipos que se apresentam no
inconsciente atravs dos mitos, dos sonhos, das fantasias, das imagens e que chamam o
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
95
indivduo para uma discusso e/ou ao. Assim, nosso inconsciente manifesta-se como uma
imagem simblica.
Na psicologia analtica, uma forma de conhecer os arqutipos o estudo dos mitos,
visto que estes fazem parte da humanidade e representam manifestaes arquetpicas do
indivduo. Por esta razo, se pode compreender o mito dentro do conceito de Carl Jung
como a externalizao de arqutipos do inconsciente coletivo, um elo entre o consciente e o
inconsciente coletivo, uma forma de expressar preocupaes e valores comuns aos homens e
mulheres de todas as pocas e de todos os lugares. Como no caso dos smbolos, no existe
uma compreenso total dos mitos, mas sim verses e modos de entendimento da vida e com
temas definidos.
Segundo Jung, alm dos mitos, os arqutipos apresentam-se por meio de outra forma:
por meio dos sonhos, como uma imagem simblica, como aspecto inconsciente de um
acontecimento que se revela. Para Jung, os smbolos que aparecem nos sonhos so
compreendidos por um tipo de material subliminar que, por sua vez, pode consistir de
todo tipo de urgncias, impulsos e intenes, de percepes e intuies, de
pensamentos racionais ou irracionais, de concluses, indues , dedues e
premissas, e de toda uma gama de emoes. Qualquer um destes elementos
capaz de tornar-se parcial, temporria ou definitivamente inconsciente.
(JUNG, 1964, p.37).
Jung ilustra suas afirmaes ao lembrar a chamada experincia mstica do filsofo
francs Descartes, considerada por este ltimo como uma revelao repentina, na qual ele
teria visto a ordem de todas as cincias. Por outro lado, podemos lembrar tambm os sonhos
dos Auwe-xavante a respeito do Deus cristo e de seus rituais.
De fato, as pesquisas de Jung muito auxiliaram na compreenso da mente humana e,
mais especificamente, no mbito deste trabalho, ofereceram uma viso importante dos
smbolos e dos mitos. Entretanto, ao olhar para estes, Jung salienta as suas caractersticas
universais, deixando para a Antropologia um olhar mais atento para as caractersticas no
universais, particulares, das diferentes culturas.
3.3.3 E numa das vias da Antropologia...
verdade que a procura por conhecer as relaes entre mente, crebro e mundo
constituiu-se uma longa jornada que ainda hoje prossegue. Lopes da Silva (1995, p.320/321),
analisando especificamente a Histria da Antropologia, diz que uma questo maior perpassa
todo o debate dessa rea de estudos: "as pessoas e os povos cujo pensamento produz mitos so
to racionais quanto os que produzem (e consomem) cincia?". Mas o olhar da Antropologia
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
96
sobre os mitos tem adquirido, ao longo dos tempos, vrios aspectos, o que poderia levar-nos a
diferentes e interessantes vias. Escolhi uma delas e, para compreendermos mais as discusses
da Antropologia, empreenderei uma breve digresso pela sua histria e problematizarei o
conceito de cultura utilizado por mim at o momento sem mais comentrios. Afinal, como
afirma Cuche (1999, p.111/12), "o uso da noo de cultura leva diretamente ordem
simblica, ao que se refere ao sentido".
Cuche (1999) lembra que o antroplogo britnico Edward Burnett Tylor (1832-1917)
ofereceu a primeira definio etnolgica de cultura, visto que at ento o termo utilizado pelos
etnlogos era civilizao. Entretanto, Tylor pensava que era necessrio definir um termo
neutro, que permitisse pensar toda a humanidade e romper com uma certa abordagem que
transformasse os primitivos em seres parte. Definiu, ento, que "da mesma forma que o
catlogo de todas as espcies de plantas e animais de uma regio representam sua flora e sua
fauna, assim uma lista de todos os itens da vida em geral de um povo representa aquele todo
que denominamos cultura" (TYLOR, citado por THOMPSON, p. 172). Percebe-se que,
segundo sua concepo, a cultura era expresso da totalidade da vida social dos seres
humanos, caracterizando-se por sua dimenso coletiva. Desse modo, a cultura era adquirida,
em grande parte, inconscientemente.
Tylor compartilhava os postulados evolucionistas comuns naquela poca, acreditava
na unidade psquica da humanidade, capaz de explicar as similaridades observadas entre as
diferentes sociedades. Ele era herdeiro, enfim, da concepo universalista presente nos
estudos dos filsofos do sculo XVIII e dizia que as diferentes culturas eram estgios de um
desenvolvimento ou evoluo. Partindo dessa premissa, Tylor estabeleceu um mtodo
comparativo entre as culturas, tendo como objetivo estabelecer uma escala dos estgios de
evoluo cultural que permitisse classificar os povos em menos ou mais civilizados.
Analisando sua obra, Cuche (1999, p.38) afirma que "Taylor combateu com ardor a teoria da
degenerescncia dos primitivos, inspirada por telogos que no podiam imaginar que Deus
tivesse criado seres to selvagens, teoria que permitia no reconhecer nos primitivos seres
humanos como os outros"
35
; para ele todo ser humano possua cultura o que de certa forma
constitua uma posio inovadora.
A obra de Franz Boas tambm constituiu um marco na Antropologia, visto que ele foi
o primeiro antroplogo a realizar observaes diretas e prolongadas das culturas primitivas.
Ao contrrio de Tylor, que se voltava para a universalidade, Boas pensava sobre a diferena e
35
Lembro, neste momento, o j citado debate dos europeus a respeito de os ndios brasileiros possurem ou no
uma alma.
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
97
adotou, ento, um conceito de cultura que lhe pareceu mais apropriado para dar conta da
diversidade humana. "Para ele, havia pouca esperana de descobrir leis universais de
funcionamento das sociedades e das culturas humanas e ainda menos chance de encontrar leis
gerais da evoluo das culturas (CUCHE, 1999, p.42). Franz Boas acreditava que cada
cultura era nica, especfica, representava uma totalidade singular que se expressava por meio
da lngua, das crenas, dos costumes, da arte, entre outros. Ele insistia em reconhecer a
dignidade de cada cultura, exaltando a necessidade do respeito e da tolerncia na relao com
culturas diferentes.
Alm dos antroplogos citados, outro nome destacou-se: Lvy-Bruhl (1857-1939).
Considerado por muitos um dos fundadores da disciplina etnolgica em seu pas, seu trabalho
influenciou duas grandes teorias: a de Piaget e a de Vygotsky, como vimos anteriormente.
De maneira sinttica, o conceito de cultura presente nos trabalhos de Tylor, Boas e
Lvy-Bruhl, dentre outros, chamado por Thompson (1995, p.173) de descritivo, visto que
esses autores tomam a cultura de um grupo ou sociedade como "o conjunto de crenas,
costumes, idias e valores, bem como os artefatos, objetos e instrumentos materiais, que so
adquiridos pelos indivduos enquanto membros de um grupo ou sociedade. Segundo
Thompson, no contexto da Antropologia, somente na dcada de 1940 que surgiu uma outra
concepo de cultura, denominada por ele de simblica. Ela foi proposta por L. A. White,
cujos trabalhos, no seu ponto de vista, prepararam o caminho para o surgimento de uma
concepo de cultura que enfatizasse o carter simblico da vida humana. Thompson afirma
que, nos anos que se seguiram, a obra de Geertz constituiu o marco do conceito simblico de
cultura, oferecendo a mais importante formulao do conceito de cultura que emerge da
Antropologia contempornea. O conceito proposto por Geertz, diz Thompson (1995, p.177),
reorientou a anlise da cultura para o estudo do significado e do simbolismo e destacou a
centralidade da interpretao como uma abordagem metodolgica.
A partir do momento em que definiu a cultura utilizando-se de um conceito advindo da
Semitica, Geertz observou que os significados culturais se expressam por meio dos
smbolos, que so a linguagem com a qual os conhecimentos culturais so transmitidos. Para
ele, os smbolos e as formas simblicas esto a servio da comunicao e garantem a
realizao e a viabilidade da vida.
Geertz afirmou que "o homem um animal amarrado a teias de significados que ele
mesmo teceu e, ento, a cultura compreendida por ele "como sendo essas teias e a sua
anlise; portanto, no como uma cincia experimental em busca de leis, mas como uma
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
98
cincia interpretativa, procura do significado (GEERTZ,1989, p.15). Explicitando ainda
mais a sua compreenso acerca desse termo, Geertz disse que a cultura
denota um padro de significados transmitidos historicamente, incorporado
em smbolos, um sistema de concepes herdadas expressas em formas
simblicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e
desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relao vida
(GEERTZ,1989, p.103).
Geertz percebia os sistemas de parentesco, os mitos, os formatos das aldeias, os
Estados tradicionais, os calendrios, as leis, entre outros objetos culturais, como afirmaes
materializadas de maneiras especficas de estar no mundo que podem ser lidas, interpretadas.
Para ele, nos escritos etnogrficos, o que chamamos de nossos dados so realmente nossa
prpria construo sobre as construes de outras pessoas (GEERTZ, 1989, p.19).
Desse modo, Geertz afirmou que tambm a Antropologia percebe que o pensamento
humano singularmente simblico, da seu reconhecimento da grande importncia de
compreender como ocorrem as anlises advindas de diferentes campos de estudo que se
referem ao campo simblico ou s estruturas significantes. Da a sua fala de que:
A reviravolta lingstica, a reviravolta hermenutica, a revoluo cognitiva,
os abalos secundrios dos terremotos Wittgenstein e Heidegger, o
construtivismo de Thomas Kuhn e Nelson Goodmam, Benjamim, Foucault,
Goffmam, Lvi-Strauss, Susane Langer, Kenneth Burke, os
desenvolvimentos da gramtica, na semntica e na teoria da narrativa e,
recentemente, no mapeamento neural e na somatizao da emoo, de
repente tudo isso tornou aceitvel para um acadmico a preocupao com a
produo de sentido. Esses vrios desvios e novidades no se harmonizaram
inteiramente, claro, para dizer o mnimo, nem revelaram igual utilidade.
Mas criaram o ambiente e, de novo, forneceram os instrumentos
especulativos para tornar bem mais fcil a existncia de algum que via os
seres humanos (citando a mim mesmo parafraseando Max Weber)
amarrados a teias de significados que eles mesmos teceram.
(GEERTZ, 2001, p.26/27)
Realmente, o estudo dos significados parece-me complexo e abrangente, a tal ponto de
percebermos, em cada corrente e/ou autor, um complemento ou uma contraposio para o que
j foi tratado. Em que pese a importncia do conceito semitico de cultura elaborado por
Geertz, procedente a crtica feita por Thompson de que esse autor deu uma ateno
insuficiente s relaes sociais nas quais os smbolos e as aes esto sempre inseridas,
deixando de explorar conflitos sociais e de poder (THOMPSON, 1995, p.166 e 179).
Thompson no se limita a criticar a obra de Geertz; para modificar e complementar
a concepo semitica de cultura desse ltimo, ele prope uma concepo estrutural
36
de
36
Thompson alerta que sua concepo estrutural de cultura no deve ser, apressada e inadvertidamente,
relacionada corrente estruturalista da Antropologia. De fato, em sua obra ele discorre longamente sobre sua
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
99
cultura. Segundo a sua proposta, os fenmenos culturais so compreendidos como expresses
de relaes de poder, que podem ser interpretadas de mltiplas e conflitantes maneiras pelos
indivduos que os recebem e os percebem no decorrer de suas vidas cotidianas, indivduos
esses situados em diferentes circunstncias e possuidores de diferentes recursos. Assim,
acredita esse autor, as formas simblicas servem, em circunstncias especficas, para manter
ou romper relaes de poder.
Ao sugerir a existncia de diferentes interpretaes das formas simblicas por parte
dos indivduos que as vivenciam, Thompson admite uma variedade de significados muito
maior do que aquela sugerida por Geertz. Essa idia dita por Thompson num trecho que
acredito ser interessante reproduzir:
Enquanto formas simblicas, os fenmenos culturais so significativos assim
para os atores como para os analistas. So fenmenos rotineiramente
interpretados pelos atores no curso de suas vidas dirias e que requerem a
interpretao pelos analistas que buscam compreender as caractersticas
significativas da vida social. Mas estas formas simblicas esto tambm
inseridas em contextos e processos scio-histricos especficos dentro dos
quais, e por meio dos quais, so produzidas, transmitidas e recebidas. Estes
contextos e processos esto estruturados de vrias maneiras. Podem estar
caracterizados, por exemplo, por relaes assimtricas de poder, por acesso
diferenciado a recursos e oportunidades e por mecanismos
institucionalizados de produo, transmisso e recepo de formas
simblicas. A anlise dos fenmenos culturais implica a elucidao desses
contextos e de processos socialmente estruturados, bem como a interpretao
das formas simblicas [...] (THOMPSON, 1995, p.181)
A partir dessa concepo, Thompson prope que o estudo das formas simblicas
sempre leve em considerao os contextos sociais nos quais elas vivem.
... E na cidade invisvel
Aps percorrer algumas vias que tratam do pensamento simblico, vejo que outras
tantas se insinuam a Filosofia e a Histria das Religies so algumas delas; porm a
proposta no percorrer todo o labirinto e no trilharei esses caminhos. De todo modo, uma
surpresa interessante revela-se: no interior do prprio labirinto chegamos a uma das cidades
invisveis de talo Calvino.
Segundo esse instigante autor, em seu livro As cidades invisveis (CALVINO, 1990)
ele concentrou em um nico smbolo a cidade todas as suas reflexes, experincias e
conjecturas sobre a existncia humana. Em particular, um dos textos dessa obra explora de
opo de utilizar o termo estrutural, bem como sobre a diferena do uso desse termo na corrente estruturalista e
na sua proposta.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
100
modo interessante o conceito de smbolo. E talvez agora, depois de andar por tantas vias,
estejamos mesmo cansados e, nessa circunstncia, estar na cidade de Tamara poder ser uma
experincia reconfortante e elucidativa:
As cidades e os smbolos 1
Caminha-se por vrios dias entre rvores e pedras. Raramente o olhar
se fixa numa coisa, e, quando isso acontece, ela reconhecida pelo smbolo
de alguma coisa: a pegada na areia indica a passagem de um tigre; o pntano
anuncia um veio de gua; a flor do hibisco, o fim do inverno. O resto mudo
e intercambivel - rvores e pedras so apenas aquilo que so.
Finalmente, a viagem conduz cidade de Tamara. Penetra-se por ruas
cheias de placas que pendem das paredes. Os olhos no vem coisas, mas
figuras de coisas que significam outras coisas: o torqus indica a casa do
tira-dentes; o jarro, a taberna; as albardas, o corpo de guarda; a balana, a
quitanda. Esttuas e escudos reproduzem imagens de lees delfins torres
estrelas: smbolo de alguma coisa - sabe-se l o qu - tem como smbolo um
leo ou delfim ou torre ou estrela. Outros smbolos advertem aquilo que
proibido em algum lugar - entrar na viela com carroas, urinar atrs do
quiosque, pescar com vara na ponte - e aquilo que permitido - dar de beber
s zebras, jogar bocha, incinerar o cadver dos parentes. Na porta dos
templos, vem-se as esttuas dos deuses, cada qual representado com seus
atributos: a cornucpia, a ampulheta, a medusa, pelos quais os fiis podem
reconhec-los e dirigir-lhes a orao adequada. Se um edifcio no contm
nenhuma insgnia ou figura, a sua forma e o lugar que ocupa na organizao
da cidade bastam para indicar a sua funo: o palcio real, a priso, a casa da
moeda, a escola pitagrica, o bordel. Mesmo as mercadorias que os
vendedores expem em suas bancas valem no por si prprias, mas como
smbolos de outras coisas: a tira bordada para a testa significa elegncia; a
liteira dourada, poder; os volumes de Averris, sabedoria; a pulseira no
tornozelo, voluptuosidade. O olhar percorre as ruas como se fossem pginas
escritas: a cidade diz tudo o que voc deve pensar, faz voc repetir o
discurso, e, enquanto voc acredita estar visitando Tamara, no faz nada
alm de registrar os nomes com os quais ela define a si prpria e todas as
suas partes.
Como realmente a cidade sob esse carregado invlucro de smbolos,
o que contm e o que esconde, ao se sair de Tamara impossvel saber. Do
lado de fora, a terra estende-se vazia at o horizonte, abre-se o cu onde
correm as nuvens. Nas formas que o acaso e o vento do s nuvens, o
homem se prope a reconhecer figuras: veleiro, mo, elefante...
(CALVINO, 1990, p. 17/18)
Entretanto, no nos compete ficar descansando em Tamara, necessrio continuarmos a
explorar o labirinto. Mas, por um breve momento, recordaremos o caminho percorrido, as
teorias aprendidas, os saberes incorporados ao andar nesse espao.
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
101
3.4 Os caminhos trilhados refletindo sobre teorias estudadas,
identidades, mitos fundantes
37
e relaes de poder.
Os estudos sobre o crebro, a mente e a cultura levam-nos a concluir que esses
elementos esto essencialmente entrelaados e que todos os objetos de conhecimento so
simultaneamente cognitivos e afetivos, e as pessoas, ao mesmo tempo que so objeto de
conhecimento, so tambm de afeto. (ARANTES, 2003). Leva-nos a observar tambm que
a cultura social e historicamente construda e que, por sua vez, a individualidade se d a
partir da nossa vivncia e convivncia com outras pessoas e com o ambiente. No agimos
diretamente sobre o mundo, nossos pensamentos so mediados, de modo que nossa ao
ocorre sobre as crenas que alimentamos a respeito de ns, dos outros e do mundo. Somos,
pois, desde o nascimento, simblicos, criadores de sentido; de fato afirma-se, em vrias
reas do estudo, que o conhecimento humano simblico, nascido a partir da interao do
crebro, da mente e da cultura. Assim,
No estando mais num universo meramente fsico, o homem vive em um
universo simblico. A linguagem, o mito, a arte e a religio so partes desse
universo. So os variados fios que tecem a rede simblica, o emaranhado da
experincia humana. Todo o progresso humano em pensamento e
experincia refinado por essa rede, e a fortalece.(CASSIRER, 2001, p. 48).
Por esse motivo o estudo do conceito de smbolo faz-se central para a compreenso do
pensamento humano e, notadamente, para a discusso a respeito dos mitos.
Vrias reas de estudo ocupam-se desse conceito.
A Semitica submeteu o smbolo s categorias do signo e com isso, em seu mbito, o
mito visto como um conto ou um discurso narrativo. Dessa forma, a Semitica no
acompanha toda a riqueza dos mitos.
Contrariamente, para Carl Gustav Jung, os mitos so vistos de forma especial, por
serem considerados por ele como uma forma de expresso dos arqutipos, por falarem sobre o
que comum aos homens e mulheres de todas as pocas, a situaes com que todo ser
humano se depara ao longo de sua vida, decorrentes de sua condio humana. Assim, em seus
estudos, o mito pode ser definido como a conscientizao de arqutipos do inconsciente
coletivo, quer dizer, um elo entre o consciente e o inconsciente coletivo, bem como as formas
atravs das quais o inconsciente se manifesta. No entanto, Jung e seus seguidores no
questionam a unicidade na universalidade, no reconhecem que, embora alguns temas mticos
37
Geralmente encontramos o termo mitos fundadores. DAmbrosio usa o termo mito fundante no mesmo
sentido. Usarei aqui um ou outro termo, mas preferencialmente o segundo.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
102
sejam recorrentes em praticamente todas as culturas, eles possuem significados diversos
atribudos pelos vrios povos. Os junguianos afirmam apenas que algumas imagens universais
so suscetveis de variaes entre as sociedades, mas que estas so portadoras da mesma
significao de base.
Por outro lado, as particularidades culturais so objeto de estudo dos antroplogos,
para alguns dos quais
As palavras, imagens, gestos, marcas corporais e terminologias, assim como
as histrias, ritos, costumes, sermes, melodias e conversas, no so meros
veculos de sentimentos alojados noutro lugar, como um punhado de
reflexos, sintomas e transpiraes. So o lcus e a maquinaria da coisa em si.
(GEERTZ , 2001, p.183).
Desse modo, nessa rea de estudos, importam as unicidades na universalidade, os
diferentes significados. Em especial, Geertz focaliza os smbolos, colocando-os no centro de
seu conceito de cultura. No seu trabalho os smbolos so assumidos como articuladores de
todo o conjunto cultural. Ao faz-lo, Geertz ressalta o conceito de smbolo em detrimento do
conceito de signo, assumindo, ento, um caminho diverso daqueles trilhados por Saussure e
Peirce, precursores dos estudos dos conceitos ressaltados por Geertz na sua teoria
antropolgica.
Lembro, contudo, as crticas de Thompson obra de Geertz, com as quais concordo.
Assumindo que "todas as prticas de significao que produzem significados envolvem
relaes de poder, incluindo o poder para definir quem includo e quem excludo"
(WOODWARD, 2000, p.18), no h como desconsiderar as relaes de poder que perpassam
as sociedades onde os smbolos vivem. Entretanto, no contexto deste trabalho, as relaes
de poder no sero consideradas da maneira proposta por Thompson, pois me interessa
explorar conjuntamente a questo da identidade.
De fato, o estudo do papel-chave da cultura na produo de significados que permeiam
as relaes sociais leva a uma preocupao com a identificao
38
(SOARES, 2002) e (NIXON
1997, citado por WOODWARD, 2000). Mas, neste estudo, a questo da identidade torna-se
extremante importante porque lidar com diferentes povos, diferentes linguagens e diferentes
sistemas simblicos. Afinal, as "identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos
sistemas simblicos pelos quais elas so representadas" (WOODWARD, 2000, p.8). Assim,
de incio, importante assumir que a construo da identidade tanto simblica quanto
38
Esse conceito, de identificao, relaciona-se intimamente ao conceito de identidade, mas enfatiza o processo
de subjetivao, em vez das prticas discursivas. Entretanto, no me preocuparei muito com essa nuana e
utilizarei um ou outro.
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
103
social. Em especial, Woodward (2000, p.14) afirma que o social e o simblico se referem a
dois processos diferentes e necessrios para a construo e a manuteno das identidades.
No processo simblico de produo da identidade de um grupo, os mitos fundadores
so considerados essenciais. Silva (2000, p.84) explica que o processo de produo de
identidade constitudo por dois movimentos: um que tende a estabilizar e fixar a identidade
e outro que tende a subvert-la, a desestabiliz-la. Os mitos fundadores ou fundantes, como
a eles tem se referido DAmbrsio fazem parte do primeiro movimento, pois inauguram as
bases de uma suposta identidade (SILVA, 2000, p.85).
Um mito fundante vai desdobrando o seu sentido sob a forma de conhecimentos, de
leis, de valores, de ritos, transferindo parte do seu padro de significado para o que acontece
com um determinado povo tal como as casas tradicionais auw-xavante nos remetem ao
Mito do Arco-ris. Esse fato explicado por Eliade (1998, p. 305), pois ele diz que os mitos
fundantes que contam as origens do cosmos e dos processos de constituio da sociedade de
um povo se tornam modelo de todas as suas construes; desse modo, por exemplo, ao
construir uma cidade, uma nova casa, imita-se mais uma vez, em certo sentido, a criao do
mundo, colocando-as no centro do universo.
Um mito considerado fundador por uma questo de sentido, de dar coerncia interna
a um sistema de ligaes. Sua importncia reveste-se do fato de que ele pode ser considerado
modelo e justificao de todas as aes humanas (ELIADE, 2000). Baseado na atitude
fundadora do mito que Ladrire afirma:
Assim, enquanto fonte, enquanto discurso primeiro, enquanto origem do
sentido, o mito est presente no interior de todo pensamento terico, como
um ncleo que este pensamento necessariamente em si mesmo retoma, como
uma operao primeira que este pensamento necessariamente reassume no
seu prprio movimento. (LADRIRE, 1977, p. 212).
Desse modo, os mitos fundantes tornam-se padres de autocompreenso imaginativa
de um grupo ou nao, estando, portanto, no fundo de toda a compreenso desse grupo sobre
si mesmo, bem como sobre todas as suas possibilidades de ao. Nesse sentido, novamente,
vale lembrar as metades clnicas e os grupos de idade dos Auw-xavante, com as posies
sociais, os direitos e as obrigaes a eles relacionados. Pode-se dizer que a forma de
organizao da sociedade tem como modelo principal seus mitos fundantes. Sendo base do
processo simblico de produo de identidades, os mitos fundantes imprimem uma
organizao de uma sociedade; em outras palavras, os princpios fundantes das organizaes
sociais so baseados em mitos, que so reguladores de aes humanas em diversos contextos
sociais (ELIADE, 1998) e (WOODWARD, 2000).
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
104
Mas, salienta Woodward (2000), se o processo simblico o meio pelo qual damos
sentido a prticas e a relaes sociais (definindo, por exemplo, quem excludo e quem
includo), por meio da diferenciao social que essas classificaes da diferena so
vividas nas relaes sociais. Desse modo, neste trabalho, ambos os processos so
importantes, pois, se os processos simblicos, em especial os mitos fundantes, do sentido e
determinam aes e pensamentos dos Auw-xavante, dentre outros, o processo social
interno sua sociedade ou externo a ela, na relao com as outras, que revela as relaes de
poder. por meio do processo social que o conceito de identidade passa a envolver tambm o
exame de sistemas classificatrios e, de certa forma, o levantamento de questes sobre como e
por que alguns significados so mais valorizados com relao a outros as relaes de poder
que incluem ou excluem. Assim, o conceito de identidade envolve tambm a questo da
diferena.
Tericos sociais (SILVA, 2000; HALL, 2000 e WOODWARD, 2000) tm dito que as
identidades so relacionais, isto , elas so construdas a partir de outras identidades: por
exemplo, a afirmao Somos brasileiros distingue-se pelo fato de no sermos bolivianos,
ingleses, tailandeses.... Entretanto, tal como no caso em que, no passado, examinavam-se as
relaes entre corpo e mente, razo e emoo, impondo-lhes uma dualidade, muitas vezes o
exame das diferentes identidades colocado em termos dualistas (homem/mulher,
adulto/criana, heterossexual/homossexual, entre outras dualidades). Em particular, num
trecho esclarecedor, Woodward (2000, p.39/40) pontua que:
As identidades so fabricadas por meio da marcao da diferena. Essa
marcao da diferena ocorre tanto por meio de sistemas simblicos de
representao quanto por meio de formas de excluso social. A identidade,
pois, no o oposto da diferena: a identidade depende da diferena, nas
relaes sociais, essas formas de diferena - a simblica e a social - so
estabelecidas, ao menos em parte, por meio de sistemas classificatrios. Um
sistema classificatrio aplica um princpio de diferena a uma populao de
uma forma tal que seja capaz de dividi-la (e a todas as suas caractersticas)
em ao menos dois grupos opostos - ns/eles; eu/outro. Na argumentao do
socilogo francs mile Durkheim, por meio da organizao e ordenao
das coisas de acordo com sistemas classificatrios que o significado
produzido. Os sistemas de classificao do ordem vida social, sendo
afirmados nas falas e nos rituais.
Woodward (2000) conta-nos ainda que, para Durkheim, a compreenso dos
significados compartilhados que caracterizam os diferentes aspectos da vida social deveria se
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
105
dar a partir do exame de como eles so classificados simbolicamente
39
. Desenvolvendo o
argumento de Durkheim, os antroplogos sociais Mary Douglas e Claude Lvi-Strauss,
citados por Woodward (2000), analisaram sistemas classificatrios em termos binrios e
opositivos.
A oposio binria, que era um elemento essencial na teoria lingstica de Saussure
40
,
foi adotada pelo estruturalismo de Lvi-Strauss (cru/cozido). Seus estudos, bem como os
estudos de Douglas e outros, levaram percepo de que em geral procuramos imprimir aos
sistemas classificatrios dualismos por meio dos quais a diferena se expressa em termos de
oposies cristalinas por exemplo, entre corpo e mente, entre o tradicional e o moderno.
Entretanto, esse dualismo tem sido seriamente criticado no sentido de que uma oposio
binria envolve um desequilbrio de poder entre os termos considerados; um deles passa a ser
considerado norma, enquanto o outro visto como desviante. Por essa razo,
o questionamento que Derrida faz das oposies binrias sugere que a
prpria dicotomia um dos meios pelos quais o significado fixado. por
meio dessas dicotomias que o pensamento, especialmente o pensamento
europeu, tem garantido a permanncia das relaes de poder
existentes.(WOODWARD, 2000, p. 53).
Tomando para si a incumbncia de verificar mais de perto essa crtica, Stuart Hall
analisa o conceito de identidade cultural, a partir do exemplo das identidades que emergem e
se fortalecem com a dispora negra.
Hall argumenta em favor do reconhecimento da identidade, mas no de uma
identidade que esteja fixada na rigidez da oposio binria, tal como as
dicotomias ns/eles [...]. Ele sugere que, embora seja construdo por meio da
diferena, o significado no fixo, e utiliza, para explicar isso, o conceito de
diffrence de Jacques Derrida. Segundo esse autor; o significado sempre
diferido ou adiado; ele no completamente fixo ou completo, de forma que
sempre existe algum deslizamento. A posio de Hall enfatiza a fluidez da
identidade. Ao ver a identidade como uma questo de tornar-se, aqueles
que reivindicam a identidade no se limitariam a ser posicionados pela
identidade: eles seriam capazes de posicionar a si prprios e de reconstruir e
transformar as identidades histricas, herdadas de um suposto passado
comum. (WOODWARD, 2000, p.28)
De fato, como afirma Hall (2000, p.103), est havendo uma completa desconstruo
das perspectivas identitrias em muitas reas disciplinares, todas as quais criticam a idia de
uma identidade integral, originria e unificada. Quando compreendida da forma que esse autor
39
Para tornar mais claro o que diz, ele d como exemplo os diferentes significados que o po adquire - quando
ele consumido em casa no caf da manh e quando ele compartilhado na mesa de comunho de uma
celebrao catlica, como Corpo de Cristo.
40
Para Saussure, as oposies binrias esto ligadas lgica subjacente de toda linguagem e de todo
pensamento. Assim, ele adotava, em sua teoria lingstica, o princpio do terceiro excludo da lgica clssica,
do qual tratarei brevemente mais adiante.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
106
sugere, a identidade passa a ser mltipla, fragmentada, contingente, cambiante, produto da
conjuno de diferentes componentes, tais como discursos polticos e culturais, prticas,
posies e histrias que podem, inclusive, ser antagnicas entre si.
Esse modo de conceber as identidades parece-me muito interessante no caso dos povos
indgenas, visto que muitos deles em especial os Auw-xavante possuem identidades
marcadas tanto pelas suas culturas tradicionais quanto pela necessidade de adaptao s novas
condies advindas pelo contato com pessoas de outras culturas. Realmente, para Hall, a
identidade nunca fixa, mas construda a cada momento:
As identidades parecem invocar uma origem que residia em um passado
histrico com o qual elas continuariam a manter uma certa correspondncia.
Elas tm a ver, entretanto, com a questo da utilizao dos recursos da
histria, da linguagem e da cultura para a produo no daquilo que ns
somos, mas daquilo no qual nos tornamos. (HALL, 2000, p.109).
Do que foi dito a respeito da identidade, chamo a ateno tambm para o fato de que
sua constituio envolve um trabalho discursivo, a produo, a marcao e o fechamento de
fronteiras simblicas que definem quem (ou o que) deixado de dentro e de fora (quem
somos ns/quem o outro; conhecimento matemtico aceitvel/conhecimento matemtico
no aceitvel). nesse contexto que trabalhos como o de Michel Foucault se mostram
interessantes, por focalizar os modos como se do as produes de discursos de verdade e por
discutir a produo scio-histrico-cultural do sujeito uma produo que se d,
principalmente, por meio do desenvolvimento de uma srie de discursos e saberes
materializados no corpo, nas instituies e em prticas sociais.
A partir de uma crtica ao humanismo e filosofia da conscincia, bem como de uma
leitura negativa da Psicanlise, Foucault faz uma radical historicizao da categoria do sujeito.
Por meio da reconstruo arqueolgica que aparece nas obras: A histria da loucura, O
nascimento da clnica, As palavras e as coisas, A arqueologia do saber , ele articula os
saberes e os discursos de outras pocas com os discursos atuais, levando-nos a refletir acerca
de nossas prticas e concepes e mostrando que corpo e alma so interpenetrados de histria
e articulados atravs de diferentes contextos discursivos (os elementos co-construtores de
focos de subjetivao), de forma que se torna imprescindvel associ-los ao processo de
edificao da identidade histrica do indivduo.
Hall (2000, p.120) assinala que nesses trabalhos Foucault d uma descrio formal da
construo de posies-de-sujeito no interior do discurso, mas pouco revela sobre as razes
pelas quais os indivduos ocupam certas posies-de-sujeito e no outras. Desse modo, as
posies-de-sujeito discursivas, nos primeiros trabalhos de Foucault, tornam-se categorias
Captulo 3: No labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
107
existentes a priori, posies as quais os indivduos parecem ocupar de forma no
problemtica.
A adoo da perspectiva genealgica veio modificar esse posicionamento. A
abordagem que Foucault chamou de genealgica compreende "uma forma de histria que d
conta da constituio dos saberes, dos discursos, dos domnios de objeto, etc." (FOUCAULT,
1995, p.7). Assim, existe a busca por narrar uma histria crtica, uma viso perspectiva,
interessada e, definitivamente, no neutra, mas que privilegia um olhar que adota o ponto de
vista daqueles que sofrem os efeitos de poderes e saberes especficos, mostrando as questes
de poder que tornam alguns discursos verdadeiros e outros no (ANDRADE, COSTA e
DOMINGUES, 2006). tambm a partir dessa perspectiva que Foucault (1995) afirma que
aos pesquisadores no basta interpretar os significados dos fatos, sem dar a devida
importncia s relaes de poder existentes nas relaes humanas; anlises desse tipo
reduzem a realidade de forma apaziguadora, deixando de expor o fato de que a realidade por
ns vivenciada que nos domina e nos determina belicosa. Desse modo, ele destaca
que a constituio de um campo de saber constitui, ao mesmo tempo, relaes de poder.
A partir da valorizao do vnculo existente entre saber e poder, Foucault buscou
analisar o alcance dos discursos sobre os corpos dos indivduos compreendidos como
mecanismos gerais de dominao, de controle, de submisso, de docilidade, de utilidade e de
normalizao de condutas dispersos anonimamente em toda a rede social. Apesar dessa
guinada, o trabalho de Foucault enfrentou, e ainda enfrenta, outras crticas. Hall (2000, p.122)
diz que sua crtica mais sria
tem a ver como o problema que Foucault encontra ao teorizar a resistncia
na teoria do poder desenvolvida em Vigiar e Punir e em A histria da
sexualidade. Tem a ver tambm com a concepo do sujeito inteiramente
autopoliciado que emerge das modalidades disciplinares, confessionais e
pastorais de poder discutidas nesses trabalhos, bem como com a ausncia de
qualquer considerao sobre o que poderia, de alguma forma, interromper,
impedir ou perturbar a tranqila insero dos indivduos nas posies-de-
sujeito construdas por esses discursos.
Realmente, nas obras acima citadas, Foucault superestima a eficcia do poder
disciplinar e deixa de focalizar experincias que rompem com o corpo dcil.
O mesmo no ocorre de modo to contundente em outras obras (O uso dos prazeres, O
cuidado de si), em que Foucault reconhece tacitamente que no suficiente que a lei
convoque, discipline, produza e regule o sujeito, mas que deve haver tambm a
correspondente produo de uma resposta. H aqui uma considerao das prticas de
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
108
liberdade que podem impedir que esse sujeito se torne, para sempre, simplesmente, um corpo
dcil. (HALL, 2000, p.124).
Para Hall, Foucault estava se encaminhando para o reconhecimento de que seria
necessrio complementar a teorizao da regulao discursiva e disciplinar com uma
teorizao das prticas de autoconstituio subjetiva (HALL, 2000, p. 126/127). Tal como
Hall, tambm acredito que a teoria foucaultiana deva ser utilizada em articulao com alguma
outra, de origem psicolgica. Assim, mais adiante, ao dedicar-me anlise de diferentes
sistemas simblicos em suas relaes com o conhecimento e a educao matemtica, no
deixarei de lado a constituio da identidade dos povos indgenas ao longo da histria e
hoje, considerando, para tal, tanto as idias de Jung e de seus seguidores quanto as de
Foucault.
Em resumo, a partir das vrias possibilidades que se colocam algumas delas aqui
apontadas , tratarei do pensamento simblico, tomando principalmente as idias de Jung,
revisitadas de modo a incorporar algumas crticas antropolgicas, isto , de modo a perceber a
unicidade na universalidade. As relaes de poder tambm sero analisadas e, para tanto, as
sugestes contidas nos escritos de Foucault sero importantes. Entretanto, para encaminhar-
me nesse sentido, faz-se necessrio olhar mais especificamente para a matemtica como
sistema simblico (ou para as matemticas e etnomatemticas como sistemas simblicos) o
que ser feito especialmente a partir das idias de Spengler, na explorao daquilo que vejo
como confluente entre as suas idias e as de Jung.
No se deveria dizer que a alma uma iluso, ou um efeito ideolgico,
mas afirmar que ela existe, que tem uma realidade, que produzida
permanentemente, em torno, na superfcie, no interior do corpo pelo
funcionamento de um poder que se exerce sobre os que so punidos?
[...] Esta alma real e incorprea no absolutamente substncia; o
elemento onde se articulam os efeitos de um certo tipo de poder e a
referncia de um saber, a engrenagem pela qual as relaes de poder
do lugar a um saber possvel, e o saber reconduz e refora os efeitos
de poder.
Foucault (1994)
Captulo 4: Mais uma trilha A (a)lgica do mito
Pablo Picasso. Minotauro e sua esposa.1937.
leo sobre tela.
Cemitrio xavante
Tem cuidado, Teseu, se partes o fio perdes os traos que deixaste! Foi
o que aconteceu ao Pequeno Polegar quando marcou o caminho com
gros de smola em vez de cinzas (lenda popular), com migalhas de
po em vez de pedras (contos de Perrault). E pensa que este fio no
apenas uma garantia de retorno direto para a sada, mas um
instrumento que permite avanar. Convm mesmo acrescentar ao fio
exploratrio uma marca, para distinguir um corredor percorrido duas
vezes dum outro por explorar, no tendo, nenhum deles, fio.
(Enciclopdia Einaudi, 1988, v. 8, p. 251).
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
110
Captulo 4: Mais uma trilha
Wanderleya Nara Gonalves Costa
111
esta procura no deixarei que o fio se parta, mas no impedirei seu
cruzamento, trilharei agora um desvio, ou talvez um retorno necessrio, pois a
pesquisa entrelaou os caminhos do Labirinto e levou recorrncia de alguns indcios que, em
conjunto, constituem uma forte marca: a questo da racionalidade, da lgica ou da
inconsistncia lgica dos mitos. Os indcios foram aparecendo ao longo do trajeto e eu os fui
recolhendo. Olhemos agora para a coleo que montei:
- O trabalho de Lvy-Brhl e as diferentes posies que ele assumiu frente questo da
lgica daqueles que chamou de primitivos num momento dizendo que possuam uma
lgica prpria, noutro negando essa afirmao.
- A obra de Vygotsky e Luria e a sua afirmao de que algumas tribos indgenas fazem um
tipo de conexo que inconcebvel segundo as leis da lgica baseada em conceitos.
- A afirmao de Lopes da Silva (1995, p.320/321) de que a questo maior que perpassa a
antropologia a da racionalidade dos povos produtores de mitos.
- A afirmao de Durand (1996, p.95) de que o mito pe em ao uma lgica especial, que
faz com que se mantenham juntos, se no as contradies, pelo menos os opostos. Uma
lgica que alguns denominaram de pr-semitica, outros de conflitorial, ou ainda de
dilemtica.
- O trabalho do Professor Eduardo Sebastiani Ferreira que se percebe, inclusive, por meio
da seguinte afirmao:
Estou sempre na busca da racionalidade deles [dos povos indgenas, em
especial dos waimiri-atroari], esta e sempre foi a minha maior
preocupao, principalmente no tipo de lgica que utilizam. um trabalho
exaustivo, pois sei que posso encontrar um caminho nos mitos, que muitas
vezes no so contados por fazerem parte do conhecimento mtico. Acredito
que eles tm uma lgica diferente da aristotlica, utilizada pela civilizao
ocidental e contrria ao que pensava Lvy-Brhl. (FERREIRA, E.S. 2005, p.
93)
41
.
- Os comentrios emitidos em conversas particulares pelo Prof. Ubiratan DAmbrsio que,
aps ouvir um trabalho que apresentei, ressaltou que os resultados ali colocados
mostravam a existncia de um tipo de lgica diferente da nossa.
Todas essas pedras recolhidas ao longo das trilhas que percorri at o momento no podem
ser simplesmente descartadas. Elas revelam uma camada mais profunda do solo sobre o qual
estavam, camada essa a relao entre mito e lgica que merece uma anlise.
41
Note que Durand fala da primeira fase de Lvy-Brhl, enquanto Sebastiani Ferreira se refere segunda
conforme narra o captulo III deste trabalho.
N
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
112
Se neste trabalho os indcios acima listados apontaram para a necessidade de discutir a
relao entre mito e lgica, historicamente uma maior nfase nessa questo foi posta por
antroplogos que se preocupavam com a posio a ser tomada frente a pesquisados que
aceitam sentenas contraditrias. Desse modo, o problema centra-se no princpio do terceiro
excludo, no rompimento com uma lgica bivalente. A partir da a posio que separa
radicalmente o pensamento mtico e o pensamento lgico, que sustenta o princpio do terceiro
excludo, ser aqui questionada. Para tanto, a histria da filosofia grega e a da lgica sero de
grande auxlio; em seguida a partir da prpria linguagem lgica e do que foi colocado no
captulo anterior discutirei a adequao, ou no, da utilizao do termo smbolo
matemtico.
4.1 E a trilha se bifurca... O Mythos e o Logos
Segundo Morin (1999), em todas as civilizaes arcaicas podemos perceber a
existncia de pelo menos dois modos de conhecimento e de ao o mitolgico e o lgico,
tambm chamado por ele de tcnico/emprico. Essas duas formas de conhecimento
complementam-se, esto em constante interao, necessitam uma da outra e podem em
algumas situaes e/ou em alguns momentos confundir-se. Por isso o pensamento arcaico
ao mesmo tempo uno e duplo (unidual): pensamento mitolgico/mgico e pensamento
emprico/tcnico/lgico. Por sua vez, assinala Morin, esses dois tipos de pensamento do
origem a dois grandes sistemas de pensamento, dois tipos de inteligibilidade: um que
compreensivo/analgico e outro que explicativo/lgico.
O conhecimento compreensivo, explica ele, nasce a partir de analogias. Esse tipo de
conhecimento aquele que detecta, utiliza e produz similaridades, de modo a identificar
objetos ou fenmenos semelhantes entre si. Assim, o pensamento compreensivo/analgico
pode ser observado na identificao de propores, das relaes de igualdade e desigualdade e
das formas ou configuraes (isomorfismos e homeomorfismos). A analogia pode, ainda,
estabelecer homologias e estar presente em metforas.
Em oposio e complementao ao pensamento compreensivo/analgico, existe o
pensamento lgico, que se baseia no princpio da identidade e obriga-nos a distinguir, ou
mesmo separar, o que apenas semelhante, mas no idntico.
Captulo 4: Mais uma trilha
Wanderleya Nara Gonalves Costa
113
Esses dois sistemas de pensamentos, afirma Morin (1999, p. 171), embora opostos,
esto, em parte, associados e contidos um no outro.
42
Entretanto, desde o sculo VI antes de Cristo existe uma tentativa de separar esses dois
tipos de conhecimentos e sistemas de pensamento, bem como de atribuir-lhes diferentes graus
de valorizao. com Tales, Anaximandro e Anaxmenes que Vernant (1984 e 1990)
identifica o nascimento de um novo modo de reflexo acerca da natureza e o incio do
declnio do pensamento mtico em favor do pensamento lgico.
Como se originou esse novo tipo de pensamento que mais tarde se tornaria o
fundamento da cincia? Segundo Burnet, citado por Vernant (1990, p.350), o aparecimento do
logos (a palavra pensada, argumentadora, que ocorre na reflexo e na discusso),
completamente separada do mythos (a palavra reveladora da divindade, o discurso que faz a
comunicao entre os homens e os deuses) seria algo como um milagre, uma revoluo
intelectual sbita e profunda que no poderia ser explicada historicamente. Vernant (1990)
critica essa posio, argumentando que nessa perspectiva o povo grego considerado acima
dos outros, predestinado a encarnar a maneira correta de pensar, que hoje poderia ser
identificada com o pensamento ocidental e cientfico.
Essa concepo etnocntrica manteve-se praticamente intacta at a metade do sculo
passado, quando os fundamentos da lgica clssica passaram a ser questionados. Entretanto,
para Vernant (1990, p.350/351), as publicaes de Conford foram fundamentais para que se
pudesse pensar na origem do pensamento lgico a partir do pensamento mtico. As anlises
comparativas da filosofia de Anaximandro e da Teogonia, um poema de Hesodo, permitiram
a Conford estabelecer a origem mtica e ritual da primeira filosofia grega. Esse autor mostrou
que o mesmo tema mtico de ordenamento do mundo constante no mythos se repete na obra
de Anaximandro, traduzido agora numa outra linguagem, num nvel diferente de abstrao.
Assim, na cosmologia deste ltimo esto presentes as mesmas noes fundamentais
apresentadas por Hesodo, mas o mito foi agora racionalizado, tomou a forma de um
problema explicitamente formulado, no mais de uma narrativa.
Com o passar do tempo, a cosmologia no modificou somente a linguagem, mas
mudou tambm o contedo. De narrativa histrica, converteu-se em uma indagao do que
estvel, permanente, idntico e, assim, transformou-se em um sistema que se prope a expor a
42
Essa idia defendida por Morin encontrada tambm na Enciclopdia Einaudi: no admite a separao entre
atividades de modo que algumas delas sejam capazes de desenvolverem saberes mticos, enquanto outras,
completamente diversas e dissociadas das primeiras, possam dar origem a faculdades intelectuais. (EINAUDI,
p.75). Cabe lembrar ainda que no s o pensamento compreensivo que usa analogias, a lgica tambm o faz.
Os argumentos por analogia, diz SKYRIUS (1966, p.27), so aqueles que partem do particular para o particular.
Creio que a afirmao de Morin se deve a uma questo de nfase.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
114
estrutura profunda do real. Apesar dessa mudana, diz Vernant (1990, p.357), as cosmologias
gregas clssicas pressupem um pano de fundo invisvel, uma realidade mais verdadeira,
secreta e oculta, da qual o filsofo tem a revelao. Desse modo, o pensamento racional
parece retornar ao mito, afirma esse autor.
Gauthier (1999) tambm argumenta acerca da relao existente entre cincia e mito.
Segundo ele, existe mito na cincia, e cincia nos mitos, embora o mito que sustente a cincia
nos seja invisvel "uma vez que estamos dentro dele; ele nosso mundo, o ar que respiramos".
Por sua vez, DAmbrosio (2004, p.138) assinala que "a maior conseqncia da incorporao
do encontro e absoro dos fundamentos monotestas bblicos civilizao greco-romana foi
a Cincia Moderna e suas conseqncias, fundamentadas nas percepes de espao e tempo
prprias a esse monotesmo". De fato, no h como esquecer que o mito do Deus cristo
que deu sustentao cincia moderna. Foi a partir da crena num Deus que tudo pode, tudo
sabe e nunca erra que a prpria cincia foi elevada ao status de conhecimento perfeito, pois
nasceu do mtodo de Descartes, uma revelao divina.
Naquele dia, na pequena vila de Ulm, na Bavria, Ren Descartes, um
francs de vinte e trs anos, cruzou lentamente a sala na direo da lareira e,
quando se sentiu aquecido, teve uma viso. No foi uma viso de Deus, ou
da Me de Deus, de carruagens celestiais, ou da Nova Jerusalm. Foi a viso
da unificao de todas as cincias. [...]. Descartes ficou to aturdido que ps-
se a rezar. Ele estava convencido de que aqueles sonhos tinham uma origem
sobrenatural. Jurou que poria sua vida sob a proteo da Santa Virgem [...].
Dezoito anos transcorreram at que o mundo conhecesse os detalhes da
grandiosa viso e dos mirabilis scientiae fundamenta - os fundamentos da
cincia maravilhosa. (DAVIS E HERSH, 1988, p.3/4).
Assim, como apontam Prigogine e Stenger (1984), a certeza cientfica est ancorada
na idia da infalibilidade divina ou, de outro modo, nos mitos cristos, visto que Descartes
assegura terem sido Deus e a Virgem os inspiradores do Mtodo.
De todo modo, a partir do reconhecimento da estreita relao entre cincias e mitos
que Gauthier (1999) afirma a necessidade de realizar uma radical reviso das relaes entre
cincia e mito, entre cincia e arte, entre cincia e culturas de resistncia. Para ele, a cincia
no deve continuar a desconsiderar que os grupos humanos so criadores de significaes e
sentidos; sendo ela prpria uma criao de significaes que se articula com outras, no se
pode isolar numa torre de marfim. A cincia no pode, enfim, "se construir atravs da assim
chamada pureza de rupturas epistemolgicas que acreditariam se livrar definitivamente
desse cho mtico"; mesmo porque:
O afastamento da conscincia da humanidade dos seus mitos, em nome da
Captulo 4: Mais uma trilha
Wanderleya Nara Gonalves Costa
115
cincia, no foi uma boa coisa, pois, queiramos ou no, esses mitos agem.
Assim age o mito da ruptura radical, que cada gerao de cientistas reproduz
em uma rea do conhecimento ou outra, acreditando a ruptura ser um dado
histrico "objetivo", empiricamente verificvel, quando uma das grandes
figuras mticas do nascimento. (GAUTHIER, 1999)
Apesar das argumentaes de Vernant (1990), Gauthier (1999) e DAmbrosio (2004),
como dito anteriormente, por muitos sculos disseminou-se a idia de que, a partir do
nascimento da filosofia grega, o pensamento lgico e o mitolgico tornaram-se
essencialmente distintos. E nesse contexto, no s a lgica, mas tambm a Matemtica teve
uma atuao preponderante, pois esta "[...]encarna, do modo mais pleno e mais puro possvel,
o resultado extremo de um tipo de lgica essencial e por isso identificado abusivamente at
agora com a lgica em si." (CASTORIADIS, 1987, 217). De fato,
A reflexo matemtica desempenhou, sob esse aspecto, um papel decisivo.
Pelo seu mtodo de demonstrao, e pelo carter ideal dos seus objetos,
tomou o valor de modelo. Esforando-se por aplicar o nmero extenso,
encontrou, no seu domnio, o problema das relaes do uno e do mltiplo, do
idntico e do diverso; ela o colocou em termos lgicos. Levou a denunciar a
irracionalidade do movimento e da pluralidade, e a formular claramente as
dificuldades tericas do juzo e da distribuio. O pensamento filosfico
pde assim desprender-se das formas espontneas da linguagem em que se
exprimia, submet-las a uma primeira anlise crtica: para alm das palavras
[...]em uma exigncia absoluta da no-contradio: o ser , o no-ser no .
Sob esta forma categrica, o novo princpio, que preside ao pensamento
racional, consagra a ruptura com a antiga lgica do mito. Ao mesmo tempo,
o pensamento acha-se separado, como por um golpe de machado, da
realidade fsica: a Razo no pode ter outro objeto que no seja o Ser,
imutvel e idntico. (VERNANT, 1990, p.372).
Observa-se que os filsofos gregos no assistiram ao nascimento da Razo, nem a
descobriram, mas eles criaram uma forma de racionalidade. Forjaram uma linguagem,
elaboraram conceitos, edificaram uma lgica hoje chamada de clssica que contesta o
pensamento unidual, que se distancia do pensamento mtico e que s admite formas
superficiais ou arbitrrias da analogia, em favor da identidade.
4.2 Uma tomada de posio A lgica ou as lgicas?
A chamada lgica clssica ou identitria ou, ainda, aristotlica nasceu com
Aristteles, quatro sculos antes de Cristo, portanto, dois sculos aps o incio do processo
discursivo de dissociao dos pensamentos mtico e lgico. Seus fundamentos assentam-se
sobre os conceitos de identidade, deduo e induo.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
116
A identidade afirma a impossibilidade de o mesmo A existir e no existir ao mesmo
tempo e com a mesma relao.
O princpio de contradio (ou da no-contradio) afirma a impossibilidade de um
mesmo atributo pertencer e no pertencer a um mesmo sujeito, ao mesmo tempo e na
mesma relao, isto , de A no poder ser simultaneamente B e no B.
O princpio do terceiro excludo afirma que toda proposio dotada de significao
verdadeira ou falsa; A B ou no B.
Note-se que Aristteles restringiu a validade desses princpios a um mesmo tempo e uma
mesma relao. Essa restrio originou, posteriormente, a especulao de que ele j tinha
idia da possibilidade de derrogao da lei da contradio, o que mais tarde de fato ocorreu,
com o surgimento das chamadas lgicas heterodoxas. Entretanto,
Embora estabelecidos no transcurso de uma histria singular, a de Atenas do
sculo IV antes da nossa era, esses princpios adquiriram valor universal, no
sendo passveis de transgresso nos sistemas racionais/empricos clssicos,
enquanto so transgredidos naquilo que os sistemas mitolgicos tm de
propriamente mitolgicos (pode-se, por exemplo, ser ao mesmo tempo uno e
duplo, triplo e uno, si prprio e outro, estar aqui e ali). (MORIN, 1998, p.
219).
O fato que, aceito como verdade absoluta, o conceito de identidade tornou-se a base para a
cincia moderna e "os trs axiomas estruturaram a viso de um mundo coerente, inteiramente
acessvel ao pensamento, tornando ao mesmo tempo fora da lgica, fora do mundo e fora da
realidade tudo o que excedia a essa coerncia." (MORIN, 1998, p. 219).
Ao falar sobre os mtodos indutivo e dedutivo, Skyrius (1966, p.26) afirma que um
dos erros mais comuns na lgica dizer que os argumentos dedutivos partem do geral para o
particular e que os argumentos indutivos partem do especfico para o geral. Ele diz ainda que
a diferena entre argumentos indutivamente fortes e dedutivamente vlidos no se encontra
na generalidade ou particularidade das premissas e concluses, mas, antes, nas definies de
validade dedutiva e de fora indutiva (idem, p.29).
De qualquer modo, o pensamento cientfico utiliza-se tanto do raciocnio dedutivo
quanto do indutivo. O primeiro garante uma coerncia terica a concluso no ser falsa,
caso se tenha partido de premissas verdadeiras. Por sua vez, no procedimento indutivo "no
h a pretenso de que a concluso seja verdadeira caso as premissas o forem, apenas que ela
provavelmente verdadeira" (MORTARI, 2001, p. 24, grifo no original). Assim, este tipo de
raciocnio estimula a observao, a procura por regularidades e correlaes. por essa razo
que Morin (1998, p.222) afirma a existncia de uma perfeita correspondncia entre a lgica
clssica e a cincia clssica:
Captulo 4: Mais uma trilha
Wanderleya Nara Gonalves Costa
117
Vale o fundamento do princpio do determinismo universal, ao qual
adequado o carter necessrio da deduo e o carter universalizante da
induo. Assim, a lgica clssica reforou os aspectos fundamentalmente
simplificadores da cincia clssica, a qual reforou, com o seu sucesso, a
idia da verdade ontolgica da lgica clssica. Esta se beneficia,
simultaneamente, do estatuto de verdade inerente cincia e do estatuto
imperativo prprio norma, a qual, por sua vez, ao definir as regras da
correo dos raciocnios e teorias, assegura assim a sua verdade. De fato,
cincia, matemtica e lgica vo associar-se cada vez mais e at mesmo
confundir os seus fundamentos no princpio do sculo XX.
J no sculo XIX Boole havia algebrizado a lgica; no incio do sculo XX ocorreram
tanto a logicizao da matemtica quanto a matematizao da lgica; disseminaram-se, ento,
as idias de que o fundamento da matemtica lgico e, ainda, de que o raciocnio lgico
deve identificar-se com a demonstrao matemtica. Por outro lado, como nos lembra Santos,
B. S. (2002), nessa poca a cincia tinha j sido convertida numa instncia moral suprema,
para alm do bem e do mal. A linguagem formalizada, lgica, matemtica, era considerada
capaz de descrever a natureza do universo e, nesse contexto, a racionalidade cientfica, sendo
um modelo global e totalitrio, nega o carter racional a todas as formas de conhecimento que
se no pautarem pelos seus princpios epistemolgicos e pelas suas regras
metodolgicas.(SANTOS, B. S, 2002, p.61).
Porm, a prpria teoria cientfica desenvolveu-se de modo a questionar os princpios
da identidade, da contradio e do terceiro excludo. Nesse sentido, diz Morin (1998, p.227),
"...brechas lgicas abertas no silogismo pelo paradoxo do cretense, na ontologia pelas
filosofias dialticas, no formalismo pelo teorema de Gdel
43
, no conhecimento pela fsica
contempornea, levam-nos a um princpio de incerteza lgica." (idem, 234/235).
44
Em resumo, Morin (1998) avalia que o pensamento simplificador, que se recusava a
ter como referncia a experincia e desenvolveu-se a partir dos trs axiomas da lgica
clssica, produziu um pensamento redutor que oculta as solidariedades, inter-retroaes,
sistemas, organizaes, emergncias, totalidades. Esse pensamento, diz ele, suscitou conceitos
43
No paradoxo do cretense, um cretense, Epimnides, afirma que todos os cretenses so mentirosos. Mas, se a
afirmao correta, Epimnides, por ser cretense, est mentindo; e, se Epimnides est mentindo, a afirmao,
entretanto, deveria ser falsa. Gdel mostrou que os sistemas formais sofrem de incompletude e de incapacidade
de demonstrar a sua no-contradio apoiados apenas nos seus recursos. Wittgenstein ressaltou o fato de que a
induo se baseia na idia de leis da natureza, a qual se apia na induo (induo e leis da natureza
fundamentando-se mutuamente - no h fundamentos para ambas).
44
Mais tarde Tarski provaria que, embora o conceito de verdade relativo a uma linguagem no seja representvel
por essa linguagem, possvel ultrapassar uma incerteza ou uma contradio lgica. Para isso necessrio que
se tome uma metalinguagem mais rica que esta, capaz de tornar decidvel todo enunciado de uma linguagem.
Mas essa metalinguagem, por sua vez, comportaria enunciados indecidveis e requereria, ento, uma
metalinguagem, e assim por diante... Isso significa que o conhecimento est sempre incompleto, sempre em
construo; desembocamos assim na idia complexa de progresso do conhecimento que se faz por
reconhecimento e confronto com o indecidvel ou com o mistrio. (MORIN, 1998, p.236).
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
118
unidimensionais, fragmentados e mutilados do real. Foi isso que levou a cincia clssica
viso determinista/atomista de um universo-mquina constitudo de unidades de base
isolveis e, portanto, incapaz de compreender/apreender a complexidade do mundo vivo.
Assim, a lgica identitria corresponde ao componente mecnico de todos os sistemas,
inclusive os vivos, mas no pode dar conta da complexidade organizacional desses sistemas.
A lgica dedutivo-identitria, argumenta ele, articula-se perfeitamente em tudo o que
isolvel, determinista, mecnico, passvel de segmentao, de fragmentao. , portanto,
aplicvel s mquinas artificiais, aos aspectos mecnicos e deterministas do mundo, do real,
da vida, da sociedade, dos seres humanos, tanto quanto s entidades estveis, cristalizadas,
dotadas de identidade simples, a tudo o que fragmentrio no discurso e no pensamento.
Desse modo, a lgica dedutivo-identitria abre-se, no compreenso do complexo e da
existncia, mas inteligibilidade utilitria, instrumental e manipuladora de conceitos e
objetos. Entretanto, assinala Morin (1998), toda vontade de compreenso no manipulatria e
mutilante do real deve evidenciar as incertezas, as ambigidades, os paradoxos e as
contradies, deve assumir que o complexo no se enuncia sempre com clareza.
H que se reconhecer, ento, que
O racionalismo clssico no foi suficientemente atento dimenso
imaginria da experincia e da prtica cientfica, nem singularidade dos
objetos que ele pretendia transformar em objetos de conhecimento. As
singularidades nos obrigam, por causa dos seus devires nunca contemplados
nos discursos institudos, a ser atentos poiesis da natureza e da vida social,
a seu poder de autocriao e s implicaes do nosso olhar chamado de
cientfico, nesse processo de criao. (GAUTHIER, 1999)
Conclui-se, pois, que a lgica clssica insuficiente e que existe a necessidade de
concepes menos rgidas do que ela apresenta. Por outro lado, observa-se o surgimento de
novas e diferentes lgicas
45
que procuram minimizar, se no anular, o princpio da identidade.
45
Morin, tal como eu prpria e vrios outros pesquisadores (DAmbrosio, Sebastiani Ferreira e, como veremos
mais adiante, Da Costa), acredita na existncia de diferentes lgicas. Entretanto, assim como a Etnomatemtica -
que apregoa a existncia de diferentes matemticas - encontra crticos que falam da existncia de uma nica
matemtica que assume aspectos diferentes, o mesmo se d com relao lgica. Blanch e Dubucs (2001, p.14)
preferem falar em a lgica, no singular, argumentando que "sob a diversidade dos ngulos de ataque, , de fato,
sempre o mesmo objeto que se tem, finalmente, em vista, como atesta o fato de se reconhecerem variadssimas
vezes, inseridos em contextos diferentes e expressos num outro vocabulrio, os mesmos problemas e as mesmas
dificuldades: assim que, por exemplo, o clculo das proposies foi realmente inventado trs vezes e que trs
vezes encontramos abundantes discusses sobre a natureza da implicao e seus paradoxos". Desse modo, como
se v, tambm na lgica a questo a nfase que se coloca na universalidade ou na particularidade - o que nos
remete a questes de identidade e relaes de poder.
Captulo 4: Mais uma trilha
Wanderleya Nara Gonalves Costa
119
4.3 As escolhas aps a bifurcao Diferentes lgicas e diferentes
racionalidades
No sculo XX surgiram novas lgicas, de modo que, atualmente, existem sistemas de
categorias e lgicas diferentes da lgica clssica, chamadas de lgicas heterodoxas ou no-
clssicas. Segundo Da Costa (1981, p.4), as novas lgicas mostram que "logicidade e
racionalidade no se identificam", podendo existir, numa sistematizao racional, outras
lgicas que no a clssica. Os sistemas lgicos alternativos lgica clssica so menos
intolerantes com as contradies e, por isso, considerados mais apropriados para a anlise de
mitos. Eles buscam a ampliao da noo de racionalidade e afirmam a existncia de
racionalidades assim mesmo, no plural , problematizando a noo da coerncia absoluta,
o princpio da no-contradio como critrios da razo.
As Lgicas Intuicionistas consideram o pensamento em ao e a sua progresso, o
tempo e o devir; elas introduzem explicitamente a contradio e tentam super-las, seja pela
eliminao progressiva, seja conforme um esquema dialtico. A Lgica Quadrivalente de
Heyting, alm do verdadeiro ou falso, considera tambm o nem verdadeiro, nem falso. Na
Lgica Trivalente de Lukasiewcz considera-se o princpio da contradio, enquanto o terceiro
excludo aparece como possvel (verdadeiro, falso e possvel). A Lgica Transconjuntiva, de
Gottard Gunther, considera vrios valores. Por sua vez, nas Lgicas Polivalentes, os valores
so escalonados entre o sim e o no. As Lgicas Modais introduziram o no verdadeiro nem
falso, o possvel, o performativo, o normativo; e podem formar modalidades complexas, como
a incerteza na possibilidade. Entretanto, so as propostas de uso das Lgicas Paraconsistentes
que tm ganhado aceitao crescente para a compreenso das classificaes e das
cosmologias indgenas. (LOPES DA SILVA, 2001, p.34/35). No Programa Etnomatemtica,
as Lgicas Paraconsistentes tambm vm sendo utilizadas na busca por uma melhor
compreenso de conhecimentos matemticos criados/recriados em contextos culturais
diferenciados (MORAIS, 2005).
A histria das Lgicas Paraconsistentes remete-nos novamente a Aristteles (384-322
a.C.); afinal, ele apresentou a primeira sistematizao de um tipo de lgica e, segundo se
cogita, tinha idia da possibilidade da derrogao do princpio da contradio, ou da no-
contradio, como preferem alguns. Este princpio pode ser formulado de vrios modos, no
equivalentes entre si. Uma dessas formulaes diz que, entre duas proposies contraditrias,
em que uma delas a negao da outra, uma delas deve ser falsa. Em outras palavras, na
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
120
lgica clssica afirma-se que proposies contraditrias no podem ser verdadeiras
simultaneamente; assim, uma contradio, ou seja, uma proposio que a conjuno de duas
proposies contraditrias, no pode nunca ser verdadeira. A partir da, tecnicamente, em um
sistema dedutivo baseado na lgica clssica, prova-se qualquer afirmao corretamente escrita
na linguagem do sistema, de acordo com as suas regras gramaticais. Este o chamado sistema
trivial.
Um grande impulso na derrogao da lei da contradio foi dado por Vasiliev, entre
1910 e 1913. Nesse perodo ele publicou uma srie de artigos, nos quais mostra a que a lei da
contradio na forma "um objeto no pode ter um predicado que o contradiga" pode ser
derrogada, esboando uma lgica no-aristotlica e, em particular, uma teoria de silogismo
onde podem aparecer premissas da forma "A B e no B".
Por sua vez, Jaskowski props, em 1948, de forma mais ou menos explcita, um
clculo proposicional paraconsistente. O sistema de Jaskowski, conhecido como lgica
discursiva, limitou-se a uma parte da lgica que se denomina de clculo proposicional, no
tendo ele se ocupado da elaborao de lgicas paraconsistentes que envolvem, por exemplo, a
quantificao, entre outras. Um maior impulso nesse sentido foi dado em 1963, com um
trabalho do lgico brasileiro Newton Carneiro Affonso da Costa.
Da Costa formulou no s um sistema, mas uma hierarquia enumervel de lgicas
paraconsistentes de primeira ordem, dos respectivos clculos de descries e um esboo de
teorias paraconsistentes de conjuntos construdos sobre sua lgica. A partir de ento, as
pesquisas em lgicas paraconsistentes desenvolveram-se muito rapidamente, e o prprio Da
Costa iniciou estudos no sentido de desenvolver sistemas lgicos que pudessem envolver
contradies. Hoje existem vrios sistemas de lgicas paraconsistentes desenvolvidos at o
nvel do clculo de predicados de primeira ordem. Sobre estes sistemas j se estabeleceram
lgicas de ordem superior no-triviais e teorias de conjuntos, que deram origem a muitas
questes e a resultados matemtica e filosoficamente interessantes, alm de outras aplicaes.
Newton da Costa define lgica como
qualquer classe de cnones de inferncia baseada num sistema de categorias.
Dito de outro modo, dado um sistema de categorias, o qual pode servir de
fundamento para certas sistematizaes racionais, a ele em geral acha-se
associada uma lgica, a qual determina as inferncias vlidas,
correlativamente ao sistema de categorias considerado. (DA COSTA, 1997,
p. 274).
Isso significa que para ele a razo humana se apia numa pluralidade de cnones, que
podem ser tanto dedutivos quanto indutivos e geram diferentes lgicas. Por exemplo, dois
Captulo 4: Mais uma trilha
Wanderleya Nara Gonalves Costa
121
diferentes cnones dedutivos geraram a lgica aristotlica e as lgicas paraconsistentes, estas
ltimas criadas para desafiar o princpio da contradio presente na lgica de origem
aristotlica. Outras lgicas, como a Intuicionista, no desafiam propriamente esse princpio,
tentam encontrar formas de super-lo.
Para Da Costa (1981), a escolha da lgica subjacente a um dado contexto se faz,
consciente ou inconsciente, por meio de princpios determinados, denominados "princpios
pragmticos da razo". Estes mostram que a escolha de uma lgica no arbitrria nem
convencional, mas baseia-se em parmetros, tais como os tipos de objetos que so
considerados. Portanto, a lgica no se acha determinada a priori, seja pela essncia do
esprito humano, seja por particularidades do sistema de categorias.
A lgica paraconsistente
uma lgica que permite a manipulao lgico-formal de sistemas de
proposies que podem encerrar contradies (inconsistncias), sem o perigo
permanente de trivializao (de tudo ser demonstrvel). Esta ltima
particularidade ocorre com a lgica clssica: se a teoria contm uma
contradio, ento se pode demonstrar qualquer proposio, ou seja, ela
trivial; logo no tem interesse direto como teoria. A lgica paraconsistente
nasceu do problema de se investigar reas do conhecimento que parecem
intrinsecamente envolvidas em trivialidade e paradoxos, por serem
inconsistentes. (DA COSTA, 1997, p.267)
Por essa razo, este tipo de lgica permite pensar em categorias anteriormente no
disponveis para o conhecimento cientfico. A partir da abre-se um universo muito mais
amplo de possibilidades:
Podemos refinar e diversificar os valores de verdade da lgica clssica
identitria: para muito alm das categorias "semelhante e diferente", to
presentes em todas as classificaes taxionmicas cientficas (animais,
vegetais, tabela peridica, carta de nucldeos...), podemos lanar mo,
atravs da lgica difusa, tanto da semelhana na diferena, como na
diferena na semelhana. Nas relaes complexas entre partculas, tomos,
elementos, clulas, seres vivos, encobertas pelas classificaes generalistas,
podemos relativizar, enriquecer e aprofundar nossos estudos em direo
complexidade, muito mais prximas do real do que as idealizaes dos
modelos cientficos clssicos. Um cachorro ser ento semelhante ao seu
ancestral, o lobo. Porm diversas raas caninas (por exemplo, as muito
pequenas) so diferentes nesta semelhana e, simultaneamente, semelhantes
na diferena com outras espcies de animais pequenos. (ANGOTTI, 2005)
Cada vez mais se reconhece a pluralidade de culturas, conhecimentos, racionalidades.
Esse reconhecimento, salienta French (1997, p.223), evidencia as inconsistncias e leva-nos a
pensar a racionalidade de uma outra maneira, com a incorporao da idia de verdade
pragmtica (exposta por Da Costa a partir das idias de Tarski). "Com a atitude epistmica
dos cientistas caracterizada como uma crena nas teorias apenas como parcialmente
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
122
verdadeiras, claro que teorias imperfeitas ou inconsistentes, enquanto tais, no apresentaro
qualquer dificuldade". Mais adiante, esse mesmo autor diz que
Em particular, conjuntos de crenas inconsistentes, tais como as crenas
sobre a feitiaria dos Azande (Evans-Pritchar, 1937), empregadas j a ponto
de exausto, podem, e de fato devem, ser consideradas como
representacionais nesse sentido [como parcial ou pragmaticamente
verdadeiras], e a parcialidade inerente absorve a inconsistncia, por assim
dizer. (FRENCH, 1997, p.224 grifo no original).
Desse modo, French nos fala da construo de modelos lgico-antropolgicos
46
. A
est, como disse Lopes da Silva, a ampliao da noo de racionalidade e a proposta de
utilizao da 1gica paraconsistente para a compreenso das classificaes e das cosmologias
indgenas. Por meio dela os lgicos reconhecem que um mesmo relato seja ele mtico ou
cientfico mesclado por passagens consistentes e outras inconsistentes, isto , no existe
verdade absoluta! Est debelada a antiga crena de que a lgica clssica que considera o
princpio do terceiro excludo seja a nica, o nico tipo de racionalidade. A busca da
verdade (ou verdades) tornou-se menos pretensiosa ao reconhecer a existncia da quase-
verdade mtica ou cientfica e, sem dvida, a lgica paraconsistente pode contribuir
com um debate j muito antigo.
4.4 No labirinto alguns caminhos parecem inadequados O
simbolismo matemtico
Tudo isso nos mostra que o conhecimento mesmo um conjunto de alternativas em
que cada teoria ou mito, partes do todo, foram as demais partes a manterem articulao
maior, fazendo com que todas elas concorram para o desenvolvimento de nossa conscincia
(FEYERABEND, 1989, p.40/41). As lgicas heterodoxas, em especial a lgica
paraconsistente, caminham nesse sentido, rompem barreiras, mas tentam axiomatizar o
conhecimento diferente, legitimando-o por meio da utilizao de uma linguagem que no
privilegia diversidades culturais. Da Costa (1997, p.274/275), ao explicar a teoria que sustenta
a Lgica Paraconsistente, diz que qualquer lgica L envolve a fixao de famlia de
linguagens, sem as quais ele no poderia expressar suas regras, que so, no fundo, cnones
lingsticos. Mais adiante, esse autor, aps explicar textualmente o significado de um sistema
46
"[...] que, embora no se revelem completamente verdadeiros, no sentido da teoria da correspondncia, ainda
assim capturam alguns aspectos relevantes do contexto em exame e podem desse modo ser considerados como
parcialmente verdadeiros, na acepo formal indicada acima. Estes tambm podem ser contados como
representaes semiproposicionais, e a irracionalidade se reduz ignorncia." (FRENCH, 1997, p.224).
Captulo 4: Mais uma trilha
Wanderleya Nara Gonalves Costa
123
trivial, afirmou: "o que dissemos ficar mais claro com um pouco de simbolismo (p.25),
passando a descrever alguns conectivos lgicos, para utiliz-los em seguida, traduzindo, por
meio de smbolos matemticos, o que antes havia dito por meio de palavras. Entretanto, o
simbolismo do qual nos fala Da Costa no se identifica, por exemplo, como simbolismo
antropolgico. completamente diverso, pois ele fala do simbolismo lgico ou
simbolismo matemtico.
Os smbolos matemticos, em grande parte, diz Alleau (1976), foram inspirados em
vrios sistemas de escrita derivados dos alfabetos gregos e latinos desviados de sua funo
original para significar valores diferentes, segundo desenhos tipogrficos do tipo itlico e
invertido, dentre outros. Alm das letras foram acrescentados nmeros, sinais de acentuao,
pontuao, caracteres particulares de origem hebraica e japonesa, entre outros, totalizando,
afirma o autor, um total de cerca de quinhentos smbolos lgico-matemticos, reunidos
segundo um conjunto de regras da lgica formal. A partir destas os smbolos lgico-
matemticos podem ser plenamente decodificados por meio das convenes que lhes atribuem
um sentido constante e unvoco. Mas, diz ele, "um smbolo no significa: evoca e focaliza,
rene e concentra, de forma analogicamente polivalente, uma multiplicidade de sentidos que
no se reduzem a um nico significado, nem apenas a alguns" (Alleau, 1976, p. 11, grifos do
autor). Desse modo, ele assinala a inadequao do uso do termo simbolismo matemtico.
Por sua vez, Ladrire (1977, p. 45/46) tambm apresenta essa questo:
Temos verdadeiramente o direito de, no sentido prprio, falar de smbolo, a
propsito da linguagem formal? Na noo ordinria de smbolo, existe um
domnio de significao que pe em jogo a afetividade, que se enraza nas
zonas subterrneas, onde a crena, a evidncia, a verdade, encontram suas
sedes. O smbolo diverso de um signo. Se ele nos remete a um termo
diferente dele prprio, no o faz de maneira annima e convencional como o
signo, mas sim, em virtude de sua estrutura constitutiva, porque em si
mesmo movimento, porque nele a significao se encontra, por assim
dizer, erguida e transportada para alm dela mesma. O smbolo de que as
lnguas formais fazem uso , aparentemente, simples indicao, lugar vazio
de um objeto ausente, instrumento abstrato, separado do seu sentido. E,
contudo, mesmo ento, h um movimento de ultrapassagem, um
encaminhamento, uma transgresso em direo a um domnio que,
propriamente falando, permanece inexprimvel, desde que, ao menos, nos
limitemos s expresses fornecidas pela linguagem cotidiana, forjada a partir
da experincia perceptiva.
De modo especial, esse autor investiga as diferentes funes dos smbolos matemticos seja
na Lgica, na lgebra, no Clculo, como instrumento de designao ou do ponto de vista
operatrio.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
124
Inicialmente, tomando o smbolo como notao abreviativa, ele diz que, nessa funo,
os smbolos matemticos apenas substituem expresses mais ou menos complexas da
linguagem corrente e servem simplesmente para tornar mais leve a escrita. Um dos exemplos
que usa em sua argumentao a escrita do nmero 327 de diferentes modos (num outro
exemplo Ladrire usa um nmero racional), decompondo-o e escrevendo-o nas bases 2 e 10.
Nesse caso, ilustra o fato de que um mesmo nmero inteiro pode ser representado de muitas
maneiras a princpio, de infinitas maneiras , havendo uma equivalncia entre todas essas
representaes. Desse modo, os smbolos, nessa funo, no so essenciais, pois so possveis
infinitas representaes; no representam mais do que convenes de linguagem e escrita,
sendo, portanto, desprovidos de qualquer interesse intrnseco.
Na lgebra os smbolos assumem um papel diferente, pois designam uma grandeza
ainda no conhecida, que s o ser atravs de suas relaes com outras grandezas a partir
do momento em que a tratamos como se j a conhecssemos. Ladrire (1977) usa como
exemplo a busca da quarta proporcional, isto , a determinao de uma quantidade
desconhecida x, sabendo-se que a est para b assim como x est para c, onde a, b e c so
quantidades conhecidas. O smbolo x ento utilizado para assumir o lugar da prpria coisa,
no uma representao como no caso anterior , mas um substituto. Esse mtodo
eficaz porque o desconhecido que ocupa o centro das especulaes do algebrista figura na
execuo de operaes que pode praticar segundo regras que levaro ao resultado. No caso do
exemplo, operaes aritmticas elementares nos do como resultado x = a c/b. Desse modo,
argumenta o autor, na lgebra, os smbolos servem como suporte para as manipulaes
operatrias. E, como suportes, no so essenciais.
No contexto da Lgica, pontua Ladrire (1977, p. 52), os smbolos aparecem como
variveis desconhecidas: so termos que podem assumir diferentes valores, ou seja, podem
ser substitudos por nomes de objetos (ou predicados) determinados, que s fazem sentido
num certo domnio de referncia. Assim, diz ele, a Lgica apresenta semelhanas com a
lgebra.
Um dos exemplos que apresenta para ilustrar suas colocaes a funo seno: a
expresso sen x pode tornar-se um nmero compreendido entre -1 e +1, desde que se substitua
o smbolo x (a varivel) pela designao de um ngulo.
Um outro exemplo a modificao da proposio "As astcias do pensamento formal
so cosidas com fio branco" em "Os y so cosidos com fio branco", no qual o y poderia ser
um nome dentre outros. Na lgica das proposies, a aplicao das regras de clculo permite
reduzir uma proposio complexa qualquer a uma forma cannica onde s figuram
Captulo 4: Mais uma trilha
Wanderleya Nara Gonalves Costa
125
proposies elementares e suas negaes, assim como os signos de conjuno e disjuno. O
simples exame da forma normal permite decidir se a proposio estudada verdadeira ou
falsa. Vale salientar que uma varivel s adquire sentido dentro de um certo domnio de
variao. No caso de uma funo como no primeiro exemplo , esse domnio um
conjunto matemtico; no caso das funes proposicionais da lgica, o universo do discurso
no caso do exemplo, o conjunto dos indivduos aos quais o enunciado pode se referir.
Ladrire (1977) estende-se em seus exemplos e argumentaes, passando pelo Clculo
e pelo ponto de vista operatrio at chegar questo da interpretao noo que, segundo
ele, permite colocar o formal puro em relao com o domnio da intuio e da experincia.
Ele deixa claro que no possvel estabelecer uma correspondncia exata, ponto por ponto,
entre os termos de um sistema formal e os objetos e as relaes que constituem o domnio da
experincia; entretanto, aqui que o smbolo matemtico que at o momento se tem
mostrado como signo, mais se aproxima de um verdadeiro smbolo. nessa condio, diz o
autor, que a Matemtica e seus smbolos foram utilizados pelo antroplogo Lvi-Strauss e
pelo matemtico Weil
47
para descrever o sistema de parentesco do povo Murngin. De todo
modo, o prprio Ladrire sentiu necessidade de dizer que as previses tericas, com o passar
dos anos, no se confirmaram; ao faz-lo, culpa o povo estudado, resguardando o modelo
matemtico: "Quando comparamos as previses tericas aos fatos etnolgicos, percebemos
que a condio de redutibilidade no verificada, o que mostra que os Murngin no aplicam
estritamente suas regras". (LADRIRE, 1977, p. 64), diz ele.
Contrariamente, outros estudiosos assinalam a inadequao do uso de modelos
matemticos para compreender fatos antropolgicos como era a inteno estruturalista.
Mesmo conservando uma relao com a intuio e a experincia, tais modelos fundam-se na
lgica clssica, cujas categorias centrais se desmoronam no contato com os acontecimentos
scio-histrico-culturais. Desse modo,
O erro do estruturalismo foi, nesse caso, de um lado, crer que essa lgica
esgota a lgica e mesmo a vida de uma sociedade; de outro lado, querer
esvaziar a questo de o que significa o fato de que tal sociedade distingue e
ope tais termos e no tais outros, e desta forma e no de uma outra, e fazer,
em conseqncia, como se oposies que ele alinha interminavelmente
fossem dadas de uma vez para sempre e fossem evidentes (ao passo que
evidente que mesmo a oposio masculino-feminino socialmente
instituda, enquanto oposio social e no diferena biolgica, e ele o cada
47
Andr Weil, do Grupo Bourbaki, nos anos 40, props-se a reconstruir a Matemtica sob o ponto de vista
estruturalista e foi numa das publicaes dessa poca, no "Apndice matemtico s estruturas elementares de
parentesco", que se buscou estudar as relaes de parentesco segundo uma estrutura de grupos. A idia era a de
que, dadas duas relaes de parentesco, era possvel obter a relao resultante; para tanto as regras sociais de
parentesco eram tratadas como transformaes de classes de descendncia. (ALMEIDA, 1999)
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
126
vez diferentemente); de outro modo, alis, ser ele mesmo integral e
ingenuamente preso lgica conjuntista [clssica]. (CASTORIADIS, 1987,
220)
De qualquer forma, Sez (2002) lembra que o pai do estruturalismo, Lvi-Strauss,
teria dito, repetidas vezes, em trabalhos mais recentes, que "os diagramas e as frmulas
seriam ilustraes, descartveis to logo o leitor as assimilasse; as anlises matemticas e
informticas seriam viveis, mas, em ltimo termo, no muito mais exatas e com certezas
menos interessantes que as anlises artesanais [...]". Por sua vez, Almeida (1999) analisa
que, no uso de estruturas algbricas para estudos de relaes de parentesco e
posteriormente das estruturas mticas por parte de Lvi-Strauss, termos tais como
transformaes, inversos, espaos n-dimensionais, lgebra de Boole, garrafas de
Klein, grupos comparecem mais como instrumentos metafricos.
A partir das afirmaes de Alleau (1976) e Ladrire (1977) e ainda Sez (2002) e
Almeida (1999) possvel perceber que o uso dos smbolos na Matemtica
completamente diverso daquele que ocorre, por exemplo, na Filosofia, na Psicologia e na
Antropologia Interpretativa. Como foi discutido, em tais reas o smbolo sempre representa
mais do que o seu significado imediato, distanciando-se do signo. Entretanto, isso no ocorre
na Matemtica. Por essa razo que Vergani (2003, p.137) afirma que, na Matemtica, as
correspondncias que se estabelecem entre os caracteres grficos e a significao que lhes
conferida no podem ser compreendidas como tendo uma funo simblica autntica. Um
exemplo nesse sentido o smbolo da cruz que, se para os cristos assume a forma de
arqutipo, sendo chamado de crucifixo, na adio cai para o estado de signo da adio:
Esse afrouxamento da pregnncia simblica, esta espcie de entropia que faz
sempre com que a letra cubra e oculte o esprito, esboa uma cinemtica do
smbolo: o simbolismo apenas funciona quando existe uma distanciao,
mas sem ruptura, e quando h plurivocidade, mas sem arbitrariedade. que
o smbolo tem duas exigncias: deve medir a sua incapacidade de dar a ver
o significado em si, mas deve emprenhar a crena na sua total pertinncia. O
simbolismo deixa de funcionar, seja por ausncia de distanciao, na
percepo e nas representaes diretas do psiquismo animal, seja por
ausncia de plurivocidade nos processos de sintematizao, seja por ruptura
no caso da arbitrariedade do signo cara a Saussure. (DURAND, 1996,
p.77)
Os livros de lgica esto repletos de palavras em consonncia lingstica sintaxe,
semntica, signo, smbolo, enunciado que so empregadas de modo simplista, se
comparadas ao contexto da lingstica moderna, e que remontam antes lingstica do sculo
passado; por exemplo, em lingstica, no se confunde signo e smbolo, mas no contexto da
lgica matemtica essa confuso uma constante (BZIAU, 1997, p. 147). Como j foi dito,
Captulo 4: Mais uma trilha
Wanderleya Nara Gonalves Costa
127
esse uso inadequado, pois no caso do smbolo matemtico o sentido se esgota numa nica
traduo.
, pois, graas a uma extenso injustificvel de sentido que os lgicos e os
matemticos falam de lgica simblica, ao passo que, segundo as prprias
intenes de Gottolob Frege, o verdadeiro criador, se trata antes duma lgica
tipicamente ideogrfica e puramente convencional, que no implica
qualquer resduo intuitivo ou subjetivo. (ALLEAU, 1976, p. 49).
possvel reconhecermos, ento, que, mesmo rompendo paradigmas, a lgica
paraconsistente utiliza um simbolismo que privilegia a forma, e no o contedo. Desse
modo, se a lgica se aproxima do mito, tambm impe a este um esvaziamento, uma
aproximao a si prpria. Est presente uma raiz neopositivista, o espectro de que qualquer
conhecimento passvel de demonstrao a grande herana do cogito ergo sum. Mas,
como bem expressa Vergani (2003, p. 31), nas matemticas tambm "se exprimem as
dvidas, os desejos, as lutas humanas em busca de sentidos e de valores. nesse campo
humano que se situam as matemticas como cincias simblicas, e no nos sinais
convencionais das linguagens formalizadas que utiliza". Creio que foi a isso tambm que se
referiu Ladrire (1977) na sua afirmao de que o smbolo realmente existe na Matemtica,
quando esta faz uso da linguagem cotidiana, linguagem esta que comporta experincias,
afetividades e intuies de significados mltiplos.
Entretanto, na busca por evidenciar a consistncia lgica dos relatos mticos, existe
uma valorizao do silogismo lgico-matemtico que acaba por se sobrepor a outras relaes
mais prximas ao simbolismo no sentido de Jung. De certo modo, essa forma de anlise no
comporta parte do que foi dito por Vergani (2003), nem o reconhecimento de Sebastiani
Ferreira (2005) de que a lgica indgena no pode ser compreendida somente como atividade
cognitiva. De qualquer modo, optei por analisar os dados obtidos em minha pesquisa no a
partir do estudo da consistncia lgica dos mitos por meio da Lgica Paraconsistente ou
qualquer outra, mas segundo as colocaes de Spengler.
O historiador alemo Oswald Spengler (1880-1936) acreditava que a Matemtica
possui, sim, um contedo simblico autntico. Embora eu divirja de alguns pontos
importantes de sua obra, ele nos oferece uma forma de conceber a Matemtica que considero
interessante. Lintz (1999, p.15) conta-nos que a obra de Spengler criou um torvelinho em
algumas reas de conhecimento, cujos especialistas se sentiram provocados pela maneira
completamente nova e ousada com a qual seus redutos foram invadidos. Apesar de, no
prximo captulo, eu tomar apenas uma pequena parte de seus escritos, ser possvel perceber
o porqu dessa atitude...
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
128
- A sbia reflexo que agora te submeto foi-me concedida anteontem
noite, enquanto ouvamos chover sobre o labirinto e espervamos que o
sono nos visitasse; advertido e esclarecido por ela, optei por esquecer
teus absurdos e pensar em algo sensato.
- Na Teoria dos Conjuntos, digamos, ou numa Quarta Dimenso do
Espao observou Dunraven.
- No disse Unwin com seriedade. Pensei no labirinto de Creta.
O labirinto cujo centro era um homem com cabea de touro.
Borges, vol. 1, 673, vol.1
Captulo 5: Na Cmara Principal A Matemtica Simblica
Hieronymus Bosch. Criao do mundo. c.1504-1510.
Museu do Prado, Madri, Espanha.
Interior do H - a Escola tradicional a'uwe-xavante.
Havia nove portas naquele poro; oito davam para um labirinto
que falazmente desembocava na mesma cmara; a nona (atravs
de outro labirinto) dava para uma segunda cmara circular, igual
primeira. Ignoro o nmero total de cmaras; minha desventura e
minha ansiedade as multiplicaram.
(BORGES, 1998, p.597)
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
130
Captulo 5: Na Cmara Principal
Wanderleya Nara Gonalves Costa
131
labirinto desdobra-se diante do(a) explorador(a), respondendo sua
necessidade de descoberta. De fato, a explorao do labirinto o arqutipo do
esprito de investigao. Como no existem mapas, quem o percorre no sabe o que o(a)
espera pela frente; ento, torna-se necessrio utilizar todos os meios de que dispe, voltar-se
para as marcas que ficaram em suas passagens anteriores. Na continuao da pesquisa
importante que o(a) pesquisador(a) verifique os vestgios que lhe restaram das vertentes
tericas que estudou e utilize as marcas deixadas pelas vias que percorreu, para encaminhar os
novos estudos e as anlises que far...
5.1 As colunas da cmara As Matemticas de Spengler
Meu interesse na obra de Spengler centra-se, principalmente, no Captulo II do
Volume I de seu livro A Decadncia do Ocidente, publicado em 1918, captulo este
especialmente dedicado ao conceito de nmero.
Sua teoria foi bastante influenciada por Giambattista Vico, Johann Wolfgang von
Goethe e Friedrich Nietzche, pois idias desses autores foram retomadas e expandidas por
Spengler ou, ao contrrio, serviram de inspirao para que este assumisse uma posio
totalmente contrria.
Em Principie di Scienza Nuova Vico exps, pela primeira vez, a idia de que a
histria, ou a cultura histrica, seria formada por ciclos cuja evoluo obedeceria a trs
estgios: a idade dos deuses, a idade dos heris e a idade humana. Essa idia, em Spengler,
inspirou a diviso da cultura histrica
48
nos estgios que ele chamou de juventude, maturidade
e velhice. Embora Vico no tenha discutido de maneira especial a Matemtica, ele chegou a
afirmar que esta um elemento totalmente racional, afastando-se de outras instituies
humanas. Spengler, como veremos mais adiante, colocou-se radicalmente contra esta idia.
Por sua vez, Goethe apresentou uma viso de histria que influenciaria de forma
marcante a obra de Spengler. Esta viso era baseada na concepo profunda de organismo, na
idia de que as culturas histricas no so apenas sucesses de acontecimentos envolvendo
seres humanos mais ou menos ao acaso. So, sim, organismos cuja evoluo obedece a
48
Note que a obra de Spengler antecede a uma discusso mais sistemtica da Antropologia em torno do uso dos
termos cultura e civilizao, tratados no captulo anterior. De qualquer forma, Durand (1996, p.82/83) critica a
obra de Spengler por no ter definido a cultura "como um sistema de regulao onde funcionam instncias
contraditrias antagonistas porque compensadoras". Da forma como o fez, segundo Durand, Spengler imprimiu
sua noo de cultura um totalitarismo e um monismo etnocntrico.
O
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
132
princpios precisos, baseados em um processo lgico, entendido no sentido de uma lgica
orgnica, e no de uma lgica dedutiva do tipo usado nas cincias exatas. A partir dessa idia
Spengler critica a diviso da histria por meio do esquema Antiguidade Idade Mdia
poca Moderna. Ele afirma que este tipo de classificao reduz no apenas a extenso da
histria como tambm o seu cenrio, impondo uma cultura eurocntica. Spengler sugere,
ento, uma outra viso de histria. Diz ele:
Em lugar da montona imagem de uma Histria Universal retilnea, deparo
com o espetculo de mltiplas culturas poderosas. [...] Cada qual dessas
culturas imprime sua matria, que o esprito humano, a sua forma
peculiar; cada qual tem suas prprias idias, suas prprias paixes, sua vida,
sua vontade, seu sentir, sua morte prprios. (SPENGLER, 1973, p.39)
Cada uma dessas culturas, afirma, gera, ento, um tipo de pintura, matemtica, fsica...
O livro A origem da tragdia no esprito da msica, publicado originalmente em 1872,
antecipava algumas linhas essenciais do pensamento de Nietzsche, tornando-se mais tarde um
clssico na histria da esttica. Nesse livro Nietzsche expe sua teoria sobre os mitos,
voltando ao assunto, com menor intensidade, em Assim falou Zaratrusta. Nietzsche centrou
sua ateno nos mitos e nas tragdias gregas, partindo, para tanto, da polarizao entre o
apolneo e o dionsico, isto , da dualidade entre os cultos a Apolo e a Dionsio,
respectivamente, deus e semideus do panteo grego. Apolo, deus grego das foras criadoras,
representa o sono, a calma, a delicadeza, a moderao e a individualidade, o lazer, a emoo
esttica e o prazer intelectual. Numerosas representaes mostram-no como o deus da beleza
perfeita, smbolo da harmonia entre corpo e esprito; entretanto, sua identificao com o Sol
(da seu outro nome Febo-brilhante) e o ciclo das estaes do ano constituam sua mais
importante caracterizao. Por sua vez, Dionsio que se tornou marido de Ariadne, a irm
do Minotauro, quando Teseu a abandonou (ver o Mito de Ariadne) representa a
embriaguez, a vontade, o amor vida e a alegria. Divindade do vinho, segundo a mitologia
grega, ele ensinou aos seres humanos a arte da vinicultura. O festival em sua homenagem,
celebrao primaveril pelo retorno da fertilidade da terra aps o inverno, deu origem arte
dramtica. Os cultos a Dionsio levavam experimentao dramtica da existncia: as pessoas
experimentavam a exacerbao dos sentidos, a vertigem e o excesso. Por sua influncia
aniquilam-se as fronteiras e os limites habituais da existncia cotidiana.
Tomando como inspirao as figuras mticas de Apolo e Dionsio, Nietzsche explicou
que o esprito apolneo representa a medida e a ordem, corresponde viso plstica, corprea,
serena do mundo, e o esprito dionsico smbolo da paixo vital e da intuio, corresponde
viso abstrata, incorprea e dinmica do mundo. Segundo esse autor, a simbiose entre as
Captulo 5: Na Cmara Principal
Wanderleya Nara Gonalves Costa
133
foras apolneas e dionsicas alcana-se na tragdia, isto , segundo sua avaliao, a tragdia
grega teria surgido da fuso de dois componentes: o apolneo e o dionsico
49
. Mas, disse
Nietzsche, Scrates, ao impor o ideal racionalista apolneo, teria causado a morte da tragdia e
a progressiva separao entre pensamento e vida. Sua filosofia teria levado os gregos a
separar o manual e o intelectual, o cidado e o poltico. Spengler utilizou-se da idia dos
espritos apolneo e dionsico, modificando-a, expandindo-a e sugerindo a existncia da
Matemtica Apolnea, da Matemtica Faustiana
50
e da Matemtica Mgica.
Porm, antes, no incio do captulo O Sentido dos Nmeros, Spengler procurou
explicitar o que entende por Matemtica e por nmero. Com relao Matemtica, ele
ressalta que os escritos no representam todo o conhecimento matemtico, que existem outros
modos, alm deste, de "dar forma perceptvel ao sentimento primordial inerente aos nmeros"
(SPENGLER, 1973, p.67). Como exemplo dessa Matemtica, cita tanto o calendrio e as
tcnicas de administrao, construo e irrigao egpcias, quanto o boomerang dos
aborgines australianos. Afirma que "um grande talento matemtico pode muito bem ser
produtivo nas tcnicas, sem nenhuma cincia, e adquirir assim plena conscincia de si
mesmo.(idem, p. 68).
Com relao ao nmero, Spengler distingue o signo e o smbolo. Para ele o nmero
com o qual trabalham os matemticos o signo numrico, representado com exatido,
limitao do smbolo, comparvel palavra nos estudos semiticos, no que, ento, concorda
com alguns autores citados no captulo anterior. Mas ele fala tambm de um outro nmero,
smbolo da necessidade causal existente em todas as culturas. Nesse caso, " o estilo de uma
alma que encontra sua expresso num mundo de nmeros, e no somente na concepo
cientfica do mesmo. (SPENGLER, 1973, p.68). A partir dessas consideraes Spengler faz
afirmaes surpreendentes para a sua poca, comparveis at certo ponto s que hoje so
enunciadas pelo Programa Etnomatemtica. Diz que
No h, porm, uma s Matemtica; h muitas Matemticas. O que
chamamos de histria da Matemtica, suposta aproximao progressiva de
um ideal nico, imutvel, tornar-se-, na realidade, logo que se afastar a
enganadora imagem da superfcie histrica, uma pluralidade de processos
independentes, completos em si [...] (SPENGLER, 1973, p.68).
49
A respeito destas idias, Gilbert Durand (1996, p.83) disse que o mito o discurso ltimo em que se constitui
a tenso antagonista fundamental para qualquer discurso, isto , para qualquer desenvolvimento do sentido, e
que Nietzsche viu, de uma forma genial, que o mito a que o pensamento grego se resume o relato do
antagonismo entre as foras apolneas e as foras dionsicas.
50
O nome inspira-se em Fausto, personagem que vendeu a alma ao diabo em troca de saber e prestgio.
Imortalizado por Goethe, Fausto expe os problemas da relao dos seres humanos com Deus e o mundo, bem
como os limites do saber humano.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
134
Para desenvolver sua teoria, Spengler estudou cuidadosamente as culturas greco-
romana, rabe e ocidental. Em cada uma delas ele identificou um smbolo primordial que
condicionou todo o seu desenvolvimento e mostrou como a Matemtica criada por essas
culturas est intimamente relacionada a esses smbolos. Estes so entendidos pelo historiador
alemo como conceitos cujos significados profundos s podem ser intudos, no
racionalizados. Spengler afirma que, desde a aparncia corporal at "as formas do
conhecimento pretensamente eternas e universais, tais como a Matemtica e a Fsica" so
smbolos (SPENGLER, 1973, p. 111). Por sua vez, aquilo que Spengler chamou de smbolo
primordial aproxima-se do conceito de arqutipo de Jung
51
.
De fato, Spengler (1973, p.116/117) explica que o smbolo primordial
Atua no senso formal de todos os homens, de todas as coletividades, eras e
pocas, ditando-lhes o estilo de qualquer exteriorizao vital. Fica latente no
sistema de Estado, nos mitos e cultos religiosos, nos ideais da tica, nas
formas de Pintura, da Msica, da Poesia, nos conceitos fundamentais de
qualquer cincia, mas nenhuma dessas realizaes representa-o. Segue-se
disso que o smbolo primordial no pode ser reproduzido por conceitos
expressos por palavras, porquanto os idiomas e as formas do conhecimento
so eles mesmos smbolos derivados. Cada smbolo particular fala do
smbolo primordial, porm dirigindo-se, no ao intelecto, mas ao sentimento
ntimo.
A partir da, tal como antes havia feito Nietzsche, Spengler associa a cultura apolnea
plasticidade, ao apego ao finito, ao visvel, ao esttico e predominncia do espao sobre o
tempo. Identificando na antigidade grega um exemplo de cultura apolnea, ele fala, ento, da
concepo grega de nmero e da emergncia de um tipo de Matemtica que chamou de
Matemtica Apolnea, cujo smbolo a Geometria.
5.1.1 Coluna Grega A Matemtica Apolnea
Essa "Matemtica totalmente nova, teoria consciente de si mesma, e que j se
anunciava, havia muito, em problemas metafsicos e tendncias de formas artsticas"
(SPENGLER, 1973, p.70) nasceu com os pitagricos, a partir da idia de que tudo
nmero, diz Spengler. Nela o nmero era definido como medida, mas medir significava
medir algo corpreo, prximo.
Por exemplo,
quando Euclides, que concluiu o sistema dessa Matemtica no sculo III a
C., fala de um tringulo, refere-se com necessidade absoluta superfcie
limitada de um corpo, e nunca a um sistema de trs linhas que se cortem
51
Carvalho (1998, p.46) tambm sugere essa aproximao.
Captulo 5: Na Cmara Principal
Wanderleya Nara Gonalves Costa
135
mutuamente, nem tampouco a um grupo de trs pontos num espao
tridimensional. (idem, p.71).
Desse modo, o nmero grego era pensado em termos de unidades tangveis, limitadas
para os olhos humanos, "o que no pode ser desenhado no nmero". Da, diz Spengler, a
impossibilidade de o esprito grego conceber o zero, j que este no tem um sentido que possa
ser expresso por meio de um desenho. De mesmo modo, ele chama a ateno para a
impossibilidade de representar os nmeros irracionais. Segue-se disso que, na representao
da relao existente entre o lado de um quadrado e a sua diagonal, o nmero antigo, que
precisamente limite sensvel, grandeza conclusa, entra em repentino contato com uma espcie
de nmeros totalmente diversa, estranha ao sentimento csmico grego e, portanto, sinistra,
idia que quase significa a descoberta de um arcano perigoso da prpria existncia.
52
(SPENGLER, 1973, p.72).
Esta frase, de certo modo, traz tambm um ponto da teoria de Spengler que ser
importante neste trabalho o ntimo relacionamento que ele observa entre o sentimento
csmico, isto , entre a cosmologia de uma cultura e a sua criao matemtica. Para fazer
uma anlise nesse sentido ele escreve um trecho que transcrevo logo abaixo:
Pensemos na obra em que se resume a Arte antiga: a esttua do homem
nu. O conceito pitagrico de harmonia dos nmeros talvez tenha sido
deduzido de uma msica sem conhecimentos de polifonia e de harmonia e
que, a julgar pelos seus instrumentos, aspirava a um som individual,
pastoso, quase corpreo. Contudo, parece tal conceito forjado para
expressar o ideal dessa arte plstica. A pedra lavrada no uma coisa seno
quando possuir limites bem calculados e formas medidas com exatido;
uma coisa porque o cinzel do artista lhe deu essa qualidade. Sem isso, seria
um caos, algo ainda no realizado, um nada, por enquanto. Esse sentimento,
em escala grande, cria o cosmo, em oposio ao estado catico, a esfera
decantada do mundo exterior da alma antiga, a ordem harmoniosa de
todas as coisas singulares, claramente distintas, de palpvel presena. O
total dessas coisas , precisamente, o mundo inteiro. O que permeia entre
elas o espao csmico, no qual ns, os ocidentais, depositamos todo o
pathos de um grande smbolo, para os gregos o nada. (SPENGLER, 1973,
p.70/71).
Spengler avalia que a idia do nmero irracional, a destruio da idia da existncia
apenas de nmeros que representam a ordem do mundo perfeita em si, afigurava-se, para o
esprito grego, como um atentado criminoso contra a prpria divindade, contra a sua teogonia
e cosmologia. Nessa passagem de sua obra, como tambm em outros momentos, ele aponta a
existncia de um relacionamento visceral entre a concepo de nmero, a religiosidade e a
cosmologia de um povo algo que explorarei mais adiante.
52
Essa a chamada Descoberta da incomensurabilidade.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
136
Tambm interessante chamar a ateno para o fato apontado por Spengler de que no
pensamento grego antigo o mundo s se torna mundo quando ele corpreo, passvel de
limitao, quando o nmero o fundamenta. Fora disso, ele no tem essncia, " o desmedido,
o informe, a esttua antes de surgir esculpida do bloco" (SPENGLER, 1973, p. 71). Desse
modo, diz Spengler, a concepo de mundo grega contornava a idia de infinito e assim,
Apolnio e Arquimedes, que foram certamente os mais elegantes e
audaciosos matemticos da Antigidade, levaram perfeio uma anlise
puramente tica do concreto, base do valor que para os antigos tinha o
limite plstico, e com aplicao preferencial da rgua e do compasso. (idem,
p.75)
Para Spengler, a partir do smbolo primordial ligado afirmao do finito e negao
do infinito, da imagem plstica do Universo, esttica e atemporal com a predominncia do
espao sobre o tempo, e do conceito de nmero expresso sob forma geomtrica , teria
nascido uma Matemtica plstica, apolnea, cujo exemplo a Geometria. Acerca da escolha
do nome apolneo, ele explica:
chamarei de apolnea a alma da cultura antiga, que elegeu como tipo ideal
da extenso o corpo individual, presente e sensvel. Desde os tempos de
Nietzsche, essa designao compreensvel para toda gente. Oponho alma
apolnea a faustiana, cujo smbolo primordial o espao puro, ilimitado, e
cuja encarnao a cultura ocidental. (SPENGLER, 1973, p. 121)
5.1.2 Coluna ocidental A Matemtica Faustiana
Tendo como smbolo primordial a noo de infinito, dinmico e temporal, surgiu,
segundo Spengler, uma matemtica completamente diversa. Enquanto a Matemtica Apolnea
se d a partir do gosto pela escultura, os conceitos da Matemtica Faustiana esto
relacionados Msica
53
. Spengler pontua que
A anlise geomtrica e a geometria projetiva do sculo XVII revelam a
mesmssima ordem espiritualizada de um universo infinito que a msica
daquela poca deseja evocar, captar, penetrar pela sua harmonia, derivada
da arte do baixo cifrado, verdadeira geometria do espao tonal; ainda a
53
A esse respeito Levi-Strauss diz: Na verdade, foi s quando o pensamento mitolgico, no digo se dissipou
ou desapareceu, mas quando passou para segundo plano no pensamento ocidental da Renascena e do sculo
XVIII, que comearam a aparecer as primeiras novelas, em vez de histrias ainda elaboradas segundo o modelo
da mitologia. E foi precisamente por essa altura que testemunhamos o aparecimento dos grandes estilos
musicais, caractersticos do sculo XVII e, principalmente, dos sculos XVIII e XIX. Foi como se a msica
mudasse completamente a sua forma tradicional para se apossar da funo funo intelectual e tambm
emotiva que o pensamento mitolgico abandonou mais ou menos nessa poca. Quando falo de msica, devia,
com certeza, qualificar o termo. A msica que assumiu a funo tradicional da mitologia no um determinado
tipo de msica, mas a msica tal como surgiu na civilizao ocidental, nos primeiros quartis do sculo XVII,
com Frescobaldi, e nos primeiros anos do sculo XVIII, com Bach, msica que atingiu o seu mximo
desenvolvimento com Mozart, Beethoven e Wagner, nos sculos XVII e XIX.(LEVI-STRAUSS, 1997, p.68-
69).
Captulo 5: Na Cmara Principal
Wanderleya Nara Gonalves Costa
137
mesma ordem que sua irm, a pintura a leo, tenta obter por meio do
princpio da perspectiva, conhecido somente no Ocidente, e que uma
espcie de Geometria sentida no espao plstico. (SPENGLER, 1973, p.69).
Para ele a Cultura Ocidental, compreendida no sentido de cultura europia-americana,
um exemplo de Cultura Faustiana. A partir da, da mesma forma que o faz com relao
Matemtica Apolnea e s esculturas gregas, Spengler chama-nos a ateno para a forte
ligao entre a Matemtica, a construo de templos europeus e a forma de conceber a relao
entre a divindade e os seres humanos. Nesse sentido, com relao Matemtica Faustiana,
afirma que houve uma substituio de conceitos arquitetnicos, a tal ponto que
A fachada de Il Ges, de Vignola, a vontade convertida em pedra. Esse
estilo novo, no seu aspecto eclesistico, foi denominado estilo jesutico,
sobretudo depois do seu aperfeioamento por Vignola e Della Porta. E
realmente existe um nexo ntimo entre ele e a criao de Santo Incio de
Loiola. A Ordem dos Jesutas representa a vontade pura, abstrata da
Igreja; e sua atividade oculta, dirigida para o infinito, comparvel
anlise e arte da fuga. Doravante, j no parecer paradoxal, quando se
falar de estilo barroco e mesmo de estilo jesutico na Psicologia, na
Matemtica e na Fsica terica (SPENGLER, 1973, p.194).
Nesse contexto vale salientar alguns pontos que sero retomados mais tarde. O
primeiro deles, a ser ressaltado, que Incio de Loiola se deu conta de que, na luta contra o
protestantismo, seria vital controlar a instruo e a formao das elites diligentes. Por essa
razo, a Companhia de Jesus dedicou-se criao de uma rede de colgios que se destinavam
tanto formao de padres quanto educao das classes altas da sociedade. Entre vrios
aspectos da pedagogia por eles adotada em seus colgios destaca-se, na opinio de Napolitani
(2005, p. 81), a nfase no ensino de Matemtica. O segundo ponto refere-se ao fato, colocado
por Spengler, de que "no Jesuitismo, a identificao de Deus com o espao puro torna-se
ainda mais sensvel do que no Jansenismo de Port Royal, ao qual estavam ligados os
matemticos Pascal e Descartes.". Em conjunto, esses dois fatos remetem Companhia de
Jesus como responsvel ou talvez representante de todo um modo de pensar que se refletiu na
Arquitetura, na Pintura, na Matemtica, entre outros campos; modo de pensar que foi
amplamente difundido por suas escolas ou pelo estilo pedaggico que inspirou. Esses fatos
no so importantes apenas porque nos auxiliam a compreender a Matemtica Faustiana, mas
tambm porque a eles est relacionada instituio do sistema educacional brasileiro. Mas
retomemos as anlises de Spengler.
Esse autor acredita que se, graas obra de Pitgoras, a alma antiga chegou a uma
concepo do nmero apolneo como uma grandeza comensurvel, em 540 a C. "numa fase
exatamente correspondente de Descartes e da sua gerao (Pascal, Fermat, Desargues),
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
138
formulou a alma ocidental a idia de um nmero, nascida de uma apaixonada e faustiana
tendncia ao infinito." (SPENGLER, 1973, p.79). O smbolo dessa nova Matemtica o
conceito de funo, a nfase agora est na anlise abstrata. O universo visto como infinito e
numa seqncia rpida surgem os nmeros imaginrios e complexos (Cardano, 1550), os
logaritmos (1610), as sries infinitas (1666), a Geometria Diferencial, a integral definida
(Leibniz), a integral indefinida, sries infinitas de funes, entre outros.
O prprio conceito dos nmeros irracionais, fundamentalmente anti-
helnicos, desfaz nos seus alicerces a noo do nmero concreto,
determinado. Com isso, esses nmeros cessam de formar uma srie
perceptvel de grandezas crescentes, discretas, plsticas, para tornar-se um
contnuo de uma nica dimenso, pelo menos no incio, e no qual cada corte
no sentido que lhe confere Dedekind representa um nmero, posto
que no lhe convenha dar-lhe tal denominao. No esprito antigo, havia
apenas um nmero entre o 1 e o 3. Para o esprito ocidental, h uma
multido infinita. (SPENGLER, 1973, p.81)
Assim, o smbolo primordial no se liga mais ao espao limitado, mas ao espao csmico
infinito e, depois de tornar-se analtica, a Geometria desfez as formas concretas.
Substituiu os corpos matemticos, em cuja imagem rgida se encontravam
determinados valores geomtricos, por relaes abstratas, espaciais, j no
aplicveis aos fatos das intuies do presente sensvel. Em lugar das
formulaes ticas de Euclides, colocou, primeiramente, lugares
geomtricos, relacionados com um sistema de coordenadas, cujo ponto de
partida pudesse ser escolhido arbitrariamente. A existncia concreta do
objeto geomtrico foi reduzida exigncia de que no se alterasse o
mencionado sistema de operao, a qual cessando de visar medies,
apenas procura obter equaes.[...] O nmero, limite do que se produziu, j
no representado simbolicamente pela imagem de uma figura, mas
aparece sob a forma de uma equao. (SPENGLER, 1973, p.89).
O corpo prximo, encerrado em si mesmo, da Matemtica Apolnea deu lugar ao espao
infinito da Matemtica Faustiana. O nmero como medida apolneo no pde satisfazer
o esprito faustiano, que concebeu o nmero como srie infinita, curva ou funo. Dois
smbolos que geraram, por um lado, a Geometria, e por outro, a Anlise. A concepo do
nmero sacramental ofereceu, por sua vez, os fundamentos de uma Matemtica Mgica, da
qual a lgebra um exemplo.
5.1.3 Coluna rabe A Matemtica Mgica
A Cultura Mgica tem como smbolo primordial a substncia de realidade oculta,
do misterioso, da noo de fora e poder da palavra. Nesse tipo de cultura os nmeros so
criaes intelectuais, que nada tm em comum com a percepo sensvel; resultam do
pensamento puro e trazem em si mesmos a sua validez abstrata. Esse nmero sacramental
Captulo 5: Na Cmara Principal
Wanderleya Nara Gonalves Costa
139
a base daquilo que Spengler chamou de Matemtica Mgica, na qual ele se apresenta sob
formas cabalsticas que compem a lgebra. Para ele, esse tipo de nmero era completamente
diverso do nmero entendido como medida e essncia de coisas plsticas, e "por outro lado,
difere a indeterminao dos nmeros rabes inominados inteiramente da variabilidade regular
dos posteriores nmeros ocidentais, tais como se expressam na funo (SPENGLER, 1973,
p.77).
Segundo Spengler, "a viso csmica da Antigidade o corpo prximo, nitidamente
delimitado, encerrado em si mesmo; para a concepo ocidental, o espao infinito, com a
aspirao profundidade da terceira dimenso; para o esprito rabe, o mundo como caverna.
(SPENGLER, 1973, p.116). Com relao construo dos templos rabes, Spengler diz que a
alma mgica erguia enormes abbadas sobre muros compactos, formando uma caverna cujas
paredes envolviam espaos internos sumamente significativos, num tipo de estrutura que
antecipa o esprito da lgebra, como estrutura fechada em si mesma. Entretanto, apesar dos
seus estudos sobre a cultura rabe, considerada por ele como um exemplo do esprito mgico,
Spengler admite que "a Matemtica Mgica progrediu logicamente, sem que conheamos os
pormenores dessa evoluo" (idem).
Talvez por isso, em seu livro, a parte que se refere Matemtica Mgica seja um tanto
quanto restrita, tratada com menos profundidade do que a Matemtica Apolnea e a
Matemtica Faustiana. Para ampliar um pouco as anlises de Spengler recorri ao matemtico
L.Jean Lauand (1998), brasileiro de origem rabe, embora ele no se refira Matemtica
Mgica por meio dessa nomenclatura.
Tal como Spengler, Lauand (1998) assinala a existncia de diferentes Matemticas
criadas por povos com caractersticas culturais diversas. Com relao cultura e
Matemtica rabes, ele afirma que
no caso da lgebra, no foi por mero acaso que ela surgiu no califato
abssida (ao contrrio dos Omadas, os Abssidas pretendem aplicar
rigorosamente a lei religiosa vida quotidiana), no seio da Casa da
Sabedoria (Bayt al-Hikma) de Bagdad, promovida pelo califa Al-Maamun,
uma cincia nascida em lngua rabe e criada por Al-Khwarizmi, pioneiro da
cincia rabe e antagonista da cincia grega (LAUAND, 1998).
Para assinalar a oposio existente entre a Matemtica rabe e a Matemtica grega,
Laund recorre a Lohmann, citando-o por meio do seguinte fragmento:
O rabe, como o semtico em geral, de um lado, e o grego, do outro,
estabelecem relaes com o mundo: um, principalmente pelo ouvido e o
outro, pelo olho. Tal fato levou o falante semtico a uma preponderncia da
religio, enquanto o grego tornou-se o inventor da teoria. Da decorre (ou
procede...?) uma diferena anloga das respectivas lnguas, quanto a seu tipo
de expresso. Cada um desses dois tipos caracteriza-se por um procedimento
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
140
gramatical especfico: flexo das razes no semtico e flexo de temas no
indo-europeu antigo. (LOHMANN, citado por LAUAND, 1998).
Ao relacionar a obra de Spengler afirmao de Lohmannn, possvel observar que
este ltimo, falando do grego como criador de sentido por meio do olho, est, de certa forma,
fazendo a mesma afirmao de Spengler de que a escultura a marca, o smbolo primordial
da cultura grega. De mesmo modo, a sua afirmao de que o rabe se relaciona com o mundo
por meio do ouvido, leva-nos idia de Spengler de que o nmero gerado pela cultura rabe
pode ser compreendido como substncia da palavra.
Mas certamente, diz Lauand como j havia dito Spengler , ao pensarmos na
lgebra tal como foi criada pelos rabes, no podemos confundi-la com a lgebra Moderna,
fria e objetiva, axiomtica resultado de amplas modificaes, destituda de qualquer
alcance semntico e constitutiva de uma sintaxe de estruturas operatrias.
Essa nova lgebra no traz em si as estruturas gramaticais e, menos ainda,
a impregnao da religiosidade muulmana, ao contrrio da Al-jabr, imbuda
da "atitude rabe perante a escrita (e sua relao, digamos, com o modo
como o Alcoro considera os ayyat, os sinais de Deus); a desconfiana
semita em relao imagem; a lngua e a religio; etc. (LAUAND, 1998).
Lauand (1998) explica que em lngua rabe o radical triltere j-b-r [da Al-jabr] est
associado aos significados de fora (de Deus); fora que compele, que obriga a restabelecer,
pr ou repor algo em seu devido lugar; e que a lgebra surgiu como uma cincia voltada para
a resoluo do problema de partilha da herana suscitado pelo Alcoro. Nesse livro sagrado,
segundo Lauand (1998), o problema aparece com a seguinte formulao:
Allah vos ordena o seguinte no que diz respeito a vossos filhos: que a
poro do varo equivalha de duas mulheres. Se estas so mais de duas,
corresponder-lhes-o dois teros da herana. Se filha nica, a metade. A
cada um dos pais corresponder um sexto da herana, se deixa filhos; mas se
no tem filhos e lhe herdam s os pais, um sexto para a me. Etc., etc.". E
conclui: "De vossos ascendentes ou descendentes, no sabeis quais vos so
os mais teis. Isto compete a Allah. Allah onisciente, sbio.
Nesse sentido, Lauand afirma que
Os prprios juristas referem-se lgebra como hisab al-faraid, o clculo da
herana, segundo a lei cornica. E a temos j um primeiro condicionamento
histrico-cultural, prprio do Islam, no qual o caso da herana
emblemtico. Trata-se da slida unio que se d no Islam entre a ordem
religiosa e a temporal. (LAUAND, 1998)
Desse modo, sob o meu ponto de vista, Lauand leva-nos a compreender um pouco
mais aquela que Spengler chamou de Matemtica Mgica. De qualquer forma, considero
interessante a confisso de Spengler de que alguns sentimentos e atitudes dos povos rabes
no podem ser compreendidos por um ocidental como ele prprio embora possam ser
Captulo 5: Na Cmara Principal
Wanderleya Nara Gonalves Costa
141
percebidos pela sua sensibilidade. Eu seguirei o exemplo de Spengler e em anlises
posteriores no retomarei a Matemtica Mgica. As anlises comparativas sero feitas a partir
da Matemtica Apolnea, da Matemtica Faustiana e da Etnomatemtica dos Auwe-xavante.
Sim, Etnomatemtica dos Auwe-xavante, pois cabe ressaltar que Spengler no
pretendeu que as formas de Matemtica por ele identificadas fossem as nicas; ao contrrio,
acreditando na existncia universal de nmeros, ele rechaa a possibilidade de que seu
significado seja uno e prev a existncia de Matemticas mltiplas, relacionadas a vrios
smbolos primordiais. Desse modo, Spengler deixa-nos a tarefa de continuar pesquisas que
possam, cada vez mais, revelar os fundamentos histricos, religiosos, artsticos e outros
com os quais se relacionam os diferentes conhecimentos matemticos, originrios nas (e das)
diferentes culturas.
5.2 Viso panormica da Cmara Uma sntese
As afirmaes de Spengler foram por mim compreendidas e articuladas de modo a
permitir o destaque das categorias por ele analisadas. Enquanto algumas delas despontam
claramente na sua obra e ganham destaque, outras categorias apenas insinuam-se em seus
escritos. Isso no significa uma importncia menor por parte dessas ltimas, mas deixa
entrever uma certa dificuldade em acercar-se delas.
A partir das categorias: a) Cultura, b) Smbolo Primordial, c) Ligao com a realidade,
d) Teogonia e Religiosidade, e) Uso do Corpo na Criao de Sentidos, f) Arte, g) Nmero e h)
Matemtica, Spengler indicou com clareza a existncia de Matemticas simblicas. Com
isso quero dizer que suas anlises apontam contundentemente o fato de que os conhecimentos
matemticos so social e historicamente construdos e, sobretudo, so mediados pelas crenas,
pelas aptides, pelos desejos, ..., que os povos de vrias culturas alimentam.
Para possibilitar uma visualizao conjunta das concluses que emergiram das anlises
realizadas pelo historiador alemo o que permite uma maior compreenso dos fatos e
relaes que ele buscou ressaltar , listei-as num quadro. Por meio do quadro possvel
visualizar, simultaneamente, como uma determinada categoria aparece na Matemtica
Apolnea, na Matemtica Faustiana e na Matemtica Mgica, o que pe em destaque,
principalmente, as diferenas existentes entre elas. Ressalto, entretanto, a minha compreenso
de que Spengler, de modo muito prximo ao de Jung, considerava o carter afetivo das
criaes humanas. Note-se que ele no se descuidou do fato de que o pensar e sentirso
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
142
indissociveis, pois, ao falar sobre smbolos, diz que cada smbolo particular fala do smbolo
primordial, porm dirigindo-se no ao intelecto, mas ao sentimento ntimo. A partir da, por
exemplo, relaciona o smbolo primordial grego ao gosto pela escultura. Assim, embora as
relaes afetivas no sejam colocadas no quadro abaixo, a conscincia de sua existncia no
deve nos abandonar.
Quadro Sntese das Matemticas de Spengler
Apolnea Faustiana Mgica
Cultura A grega uma cultura
apolnea.
As culturas
ocidentais,
compreendidas no
sentido de cultura
europia-
americana, so
faustianas.
A cultura rabe um
exemplo de cultura
mgica.
Smbolo
Primordial
Ligado afirmao do
finito e negao do
infinito, da imagem
plstica do Universo,
esttica e atemporal.
Relaciona-se
noo de infinito.
A substncia de
realidade oculta, do
misterioso, da noo
de fora e poder da
palavra.
Ligao com
a realidade.
Predominncia do espao
prximo.
Forte noo
temporal e do
espao infinito.
Uma realidade
oculta, atemporal, de
um espao sagrado.
Teogonia e
Religiosidade
Os vrios deuses, com
caractersticas humanas,
habitavam nas
proximidades e
interagiam com os seres
humanos de maneira
muito prxima.
Jeov, o nico
Deus, o ser
perfeito que habita
o mais alto do Cu.
Possui
caractersticas
inatingveis pelos
seres humanos.
Al, criador do
mundo, onipotente
e onisciente. O Isl
no traz apenas
ensinamentos de
cunho religioso, mas
tambm legislativo,
moral, jurdico,
social e comercial.
Uso do corpo
na criao de
sentidos.
A partir do olho que
observa a realidade
prxima.
O corpo humano
insuficiente, os
instrumentos da
cincia podem
levar a uma melhor
apreenso da
realidade.
A partir do ouvido
como ponte para se
conhecer o sagrado.
Arte Escultura Msica e pintura Arquitetura
O nmero Expresso sob forma
geomtrica. Definido
como medida de algo
Concebido como
srie infinita, curva
Sacramental. Criao
intelectual que
resulta do
Captulo 5: Na Cmara Principal
Wanderleya Nara Gonalves Costa
143
corpreo, ele concreto,
determinado, uma srie
de grandezas discretas,
plsticas.
ou funo. pensamento puro e
traz em si mesmo a
sua validez abstrata.
Matemtica Geometria. Geometria
Analtica e a
Geometria
Projetiva
A lgebra.
Realmente, no contexto de anlise traado por Spengler, a Matemtica, a linguagem, a
arte e a religiosidade, dentre outras categorias, so partes de um todo, de uma mesma rede
simblica, no podendo, portanto, ser bem compreendidas em separado umas das outras.
Saliento, entretanto, que os mitos tambm so parte integrante dessa rede simblica e,
reconhecendo sua importncia, de certa forma, pretendo expandir as anlises de Spengler.
verdade, porm, que Spengler reconhecia a importncia dos mitos. No dcimo captulo,
intitulado A Fsica Faustiana e a Fsica Apolnea, ele aborda os mitos; mas no chega a
fazer o mesmo quando trata das diferentes concepes de nmero e das diferentes
Matemticas. Nas anlises que farei, as narrativas histricas e as narrativas mticas sero
consideradas complementares; e tambm considerarei, pelo menos em parte, o fato de que
o mito que, de algum modo, distribui os papis da histria e permite
decidir aquilo que faz o momento histrico, a alma de uma poca, de um
sculo, de uma idade da vida. [...] Ora, o mito que o referencial ltimo a
partir do qual a histria se compreende, a partir do qual o mister do
historiador possvel e no o inverso. O mito vai ao encontro da histria,
atesta-a e legitima-a, tal como o Antigo Testamento e as suas figuras
garantem a autenticidade histrica do Messias para um cristo. Sem as
estruturas mticas, a inteligncia histrica no possvel. Sem a experincia
messinica - que mtica - no h Jesus Cristo, sem o mito, a batalha de
Philipes ou a de Waterloo no passariam de faits dives.
(DURAND, 1996, p.87).
Antes, porm, lembremos que no incio deste trabalho foi dito que os mitos so uma
resposta necessidade de transcendncia dos seres humanos. Que eles, os mitos, ao mesmo
tempo que falam sobre assuntos comuns a pessoas de todas as pocas e lugares, sobre
situaes com que todo ser humano se depara ao longo de sua vida, decorrentes de sua
condio humana (sendo, portanto, expresso dos arqutipos), tambm refletem as
particularidades das culturas humanas, visto que um mesmo assunto tratado de variadas
formas pelos diversos povos. Desse modo, se, como nos coloca Durand (1996, p.246), o mito
de fato o modelo matricial de toda narrativa (inclusive, claro, de Uma Verdade Histrica),
a ele possvel recorrer em conjunto ou separado das narrativas histricas (prenhes de
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
144
Mltiplas Verdades, pensadas num sentido foucaultiano)
54
para obter os diferentes
conhecimentos gerados pelos diversos grupos humanos. Pretendo, ento, tomar esse caminho,
olhar mais profundamente as narrativas mticas num contexto histrico de inspirao arqueo-
genealgica, para perceber seus desdobramentos e implicaes que se revelam nas diferentes
formas de conceber o mundo, o tempo, o espao e o nmero, dentre outros.
Mas, por ora, olhemos com maior ateno o ltimo item do quadro sntese das
Matemticas de Spengler. Principalmente no que se refere lgebra, tanto Spengler quanto
Lauand, deixam claro que ela no a mesma que hoje conhecemos, visto que anteriormente
continha um carter sagrado, cabalstico, atualmente extirpado. Embora Spengler tenha
ressaltado que existem outros tipos de conhecimentos volto a lembrar o exemplo do
boomerang dos aborgines australianos por ele colocado , em seus estudos ele se voltou
para aqueles reconhecidos como parte da Matemtica.
Lembremos que esse autor no tinha sua disposio muitos dados que hoje nos
oferecem os estudos antropolgicos nem tambm aqueles que foram gerados no interior do
Programa Etnomatemtica. Ainda assim, seu olhar interessado para aquilo que julgamos bem
conhecido pde realmente apontar-nos novos elementos. Entretanto, se nos propomos a
analisar diferentes concepes de nmero alm daquelas ressaltadas por Spengler, esses dados
podem e devem ser considerados. Ao faz-lo, conhecimentos que no so chamados de
Matemtica, mas sim de Etnomatemticas, sero trazidos luz, entre elas as Etnomatemticas
54
Ao tomar como complementares as narrativas mticas e as histricas, so necessrias algumas consideraes,
pois verdade que Foucault, na sua forma de compreender a histria, rompe com ela tal como a concebe Durand
e tal como tem sido concebida por muitos. Foucault desmorona a histria tida como verdadeira, tornando
possveis outros relatos, permitindo a criao de novos sentidos, de outras leituras, encontrando, por trs dos
discursos, os silenciamentos produzidos e outras possibilidades histricas. Assim, de certo modo, Foucault
posiciona-se contra os mitos que se fazem presentes na histria, pois se coloca contra as narrativas que nos
apaziguam com o presente. Ele questiona o papel histrico de que nos fala Durand, visto que no deseja
legitimar ou atestar uma determinada verdade histrica. Estava, pois, implcito na ao de Foucault o
entendimento dos mitos como narrativas que domesticam e subordinam. Esse entendimento em parte
verdadeiro, as explicaes pacficas colocadas pelos mitos agem, at certo ponto, para domesticar e subordinar.
Mas os mitos tambm do fora para a reao, para a indocilidade. Podemos tomar como exemplo dessa dupla
funo o fato narrado anteriormente de como os mitos gerados pelos/nos sonhos dos Auwe lhes permitem tanto
se apaziguar at um certo ponto com a nova realidade que a eles se impe, quanto no se render completamente a
ela, reafirmando suas tradies culturais. Assim, o mito leva tanto ao apaziguamento quanto transgresso,
embora, a rigor, quando visto numa perspectiva essencialmente foucaultiana, ele seja reduzido a essa sua
primeira funo. Mas no contexto deste trabalho essencial pensar, por exemplo, que, desfeitos seus mitos,
desmoronada sua tradio, os Auwe no teriam fora para a resistncia, cabendo-lhes viver segundo uma
verdade histrica tida como nica que constantemente apresentada tanto a eles quanto a outros
brasileiros a de que, inexoravelmente, eles deveriam submeter-se cultura hegemnica e ser aculturados. Por
essa razo, ao longo deste trabalho, utilizarei apenas parcialmente as idias que Foucault nos traz para o
tratamento da histria; no falarei de uma histria arqueo-genealgica, mas de uma forma de histria que nela se
inspira, sem desconsiderar as possibilidades de liberdade e transgresso que os mitos nos trazem. Enfatizo, ento,
que, ao tomar os mitos, considerarei tanto a docilidade que eles efetivamente fortalecem, quanto a indocilidade
que inspiram.
Captulo 5: Na Cmara Principal
Wanderleya Nara Gonalves Costa
145
indgenas. Neste trabalho, de maneira especial, interessa-me conhecer mais acerca da
Etnomatemtica dos Auw. Por essa razo, na tentativa de seguir um caminho complementar
ao de Spengler, tomarei tambm os mitos desse povo assim como os dos gregos e os
ocidentais. Procurarei, na medida do possvel, tomar os mitos cosmolgicos e suas
transformaes ao longo dos tempos como meios capazes de auxiliar na compreenso de
diferentes Etnomatemticas (pois as Matemticas de Spengler tambm so
Etnomatemticas!), mas, como j disse, daqui por diante no haver nenhum aprofundamento
no que se refere Matemtica Mgica.
O modo que escolhi para olhar os mitos gregos, ocidentais e auw-xavante em suas
relaes com os conhecimentos etnomatemticos inspira-se alm do gradiente holonmico
e da complementaridade entre narrativas histricas e mticas nas sugestes feitas por Lopes
da Silva (1995) para a utilizao pedaggica dos mitos indgenas. Segundo essa autora, muitas
vezes eles so chamados de lendas e, em sua utilizao pedaggica, so concebidos como
histrias fantasiosas, coisas de criana parecidas com contos maravilhosos, capazes de
estimular a imaginao, de enriquecer o mundo de faz-de-conta infantil. Outras vezes, o uso
pedaggico dos mitos indgenas inspirado "na psicologia analtica de Jung e no lugar que os
mitos ocupam em sua teoria sobre o humano e o inconsciente", diz Lopes da Silva (1995,
318/319). Nesse caso, continua ela, existe um empenho em mostrar s crianas a igualdade
bsica da condio humana no mundo, apesar da diversidade de modos de tratar e expressar
aspectos bsicos da existncia humana.
Mas a autora sugere um outro caminho para a utilizao pedaggica dos mitos
indgenas. Para ela, interessante que professores e alunos possam realizar pesquisas que no
se limitem aos mitos, mas que procurem compreender a sociedade de onde o texto mtico
advm, compreenso esta que deve vir acompanhada de uma reflexo sobre as questes
abordadas nos mitos. Essa pesquisa, acredita, deve limitar-se a um nico tema, visto que o
repertrio mtico de um povo pode ser extremamente rico, mas deve explorar mitos
provenientes de diferentes culturas. No seu ponto de vista, desse modo seria possvel
"trabalhar os mitos em sua dupla dimenso, ou seja, como produtos da reflexo humana sobre
o mundo (e, nesta medida, como algo universal ) e como criaes originais, em suas
especificidades, de sociedades e culturas particulares. (LOPES DA SILVA,1995, p.319/320)
Se, no que se refere utilizao pedaggica do mito, a sugesto que a produo de
um povo possa ser analisada a partir de uma contraposio com a produo de outros povos,
muitos pesquisadores defendem tambm a adoo desse tipo de postura nas pesquisas acerca
do tema. Nesse sentido, o antroplogo GEERTZ (2001, p.128) afirma que:
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
146
Naturalmente, a comparao possvel e necessria, e o que eu e outros de
iguais convices passamos a maior parte do tempo fazendo: vendo coisas
particulares contra o pano de fundo de outras coisas particulares, com isso
aprofundando a particularidade de ambas. Por se haverem discernido, ao que
se espera, algumas diferenas reais, tem-se alguma coisa genuna para
comparar. As similaridades encontradas, sejam quais forem, e mesmo que
assumam a forma de contrastes ou incomparabilidades, so tambm
genunas, e no categorias abstratas, superpostas a dados passivos,
entregues mente por Deus, pela realidade ou pela natureza.
Concordando com a postura adotada pelos dois autores acima citados, optei tambm
por uma anlise comparativa em que um nico tema abordado: a cosmologia. Tomarei,
ento, mitos cosmolgicos, explorando algumas concepes, ritos e/ou prticas que foram
gerados e inspirados por esses mitos ou esto neles anunciados, de modo a enfatizar tanto o
que existe de comum quanto as particularidades, nas suas relaes com os conhecimentos
etnomatemticos dos povos considerados. Essa opo, como j foi explicitado, no deixar de
considerar o contexto histrico.
5.3 Um instrumento para olhar os recnditos da cmara Os mitos
cosmolgicos
Existem basicamente dois referenciais para a compreenso do termo cosmologia: as
cincias naturais e as cincias sociais. A diferena bsica que
As cincias naturais se agregam no nosso referencial scio-cultural para
compreender o universo fsico dentro de um todo unificado. Quanto s
cincias sociais, elas parecem buscar compreender a prpria compreenso do
Cosmo por aqueles que o habitam. Seu interesse se concentra na relao dos
mediadores com o Cosmo, cujos fenmenos, cada um percebe e constitui em
smbolos. (CAMPOS, 2002, p. 27/28)
A Antropologia, diz Campos, situa-se na zona limtrofe entre as cosmologias das duas
cincias. O prprio Campos utiliza o sentido explicitado por Suzanne Lallemand, exposto no
livro Cosmologie, Cosmogonie. Para tanto, esse autor fez uma traduo, que transcrevo
abaixo:
Os conceitos de cosmologia e de cosmogonia tm campos semnticos de
amplitude desigual, o primeiro desses termos tendendo a englobar o
segundo. Com efeito, o antroplogo pode definir a cosmologia como um
conjunto de crenas e de conhecimentos, um saber composto, levando em
conta o universo natural e humano; quanto cosmogonia (parte da
cosmologia centrada sobre a criao do mundo) ela expe, sob a forma de
mitos, as origens do cosmos e os processos de constituio da sociedade.
Assim, a cosmologia qual nos interessamos de modo prioritrio se
apresenta como uma exigncia de sntese, como a pesquisa de uma viso
Captulo 5: Na Cmara Principal
Wanderleya Nara Gonalves Costa
147
totalizante do mundo; redutora, uma vez que destaca e privilegia certos
elementos percebidos como constitutivos do universo, ela tambm
explicativa, porque ela ordena e coloca em relao o meio natural e os traos
culturais do grupo que a produziu.
(LALLEMAND, 1974 citada por CAMPOS 2002, p. 25/26)
De fato, tem-se observado, em todos os povos, de todas as pocas, a preocupao em
entender o cosmo e o papel que os seres humanos nele representam. A partir das reflexes
sobre essas questes desenvolvemos uma explicao sobre a criao do mundo (cosmogonia),
sobre a existncia da divindade (teogonia) e uma imagem particular de ns mesmos
(ERIKSON, 1971). Para Souza (1981, p. 48), a uma cosmogonia e uma teogonia, segue-se
no s a criao de uma imagem particular de si mesmo ou de seu grupo, mas uma
antropogonia, que se refere aos seres humanos de forma mais ampla. Ele explica que, embora
no se possa dizer que haja uma sucesso entre esses discursos, eles seriam como vrtices de
um tringulo, o tringulo da complementaridade.
Entre os mitos, os que falam sobre o cosmos so considerados mais importantes.
Eliade (2000) afirma que eles tm a funo de modelo e de justificao de todas as aes
humanas. Ladrire (1977) tambm ressalta a importncia desses mitos, ao dizer que a eles
possvel atribuir pelo menos duas funes: uma pedaggica e outra fundadora.
Esse autor explica que a funo pedaggica , ao mesmo tempo, uma pedagogia de
transgresso e de pensamento de constituio. Segundo Ladrire, os mitos cosmolgicos so
uma transgresso especulativa, quando tornam possvel um pensamento do cosmo. Nesse
caso, eles so o meio que permite ao ser humano "distanciar-se das coisas, de olhar para alm
de seu aparecer, de ultrapassar o visvel na direo do no-visvel" (LADRIRE, 1977, p.
190). Mas esses mitos so tambm narrativas de uma cosmognese e, como tal, constituem-se
em esquemas de representao que so desdobramentos sucessivos, nos quais passamos da
unidade homognea multiplicidade qualitativamente diferenciada, atravessando todas as
fases intermedirias que nos levam a um entendimento da produo do cosmos. Assim, as
mitocosmologias, ao narrar, por exemplo, a existncia do caos (unidade homognea), seguida
do surgimento dos primeiros pares, o cu e a terra, a noite e o dia (comeo da multiplicidade,
da diferenciao), assumem sua funo pedaggica de constituio. Por sua vez, como foi dito
em captulo anterior, a funo fundadora do mito uma questo de sentido, de dar coerncia
interna a um sistema de ligaes. Assim, os mitos fundadores (fundantes) so considerados
essenciais no processo de produo da identidade de um grupo. A est uma razo pela qual os
antroplogos atribuem grande importncia aos mitos cosmolgicos.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
148
Essa importncia tambm foi reconhecida pelo Nobel em Qumica (1977) Ilya
Prigogine, por meio da sua afirmao de que a cincia, tal qual os mitos, ao tratar das
cosmologias, parece tentar compreender a natureza do mundo, a maneira como se organizou
e o lugar que os homens nele ocupam, mas afasta-se deles num ponto decisivo que a sua
submisso aos processos de verificao e discusso crtica (PRIGOGINE e STENGERS,
1984, p.27). Esses autores, ao analisarem a cincia moderna, fazem-no a partir da antiga
Grcia, considerando a preocupao que os filsofos gregos tinham em explicar o universo.
As narrativas ento geradas pelos gregos foram consideradas como o marco do nascimento da
cincia moderna, por Prigogine e Stengers, que se justificaram da seguinte maneira:
Pouco importa que as primeiras especulaes dos pensadores pr-socrticos
se desenrolem num espao semelhante ao do mito da criao hesidica:
polarizao inicial do cu e da terra, fecundada pelo desejo despertado pelo
amor; nascimento da primeira gerao de deuses, potncias csmicas
diferenciadas; combates e desordens, ciclo de atrocidades e vinganas, at a
estabilizao final: a repartio dos poderes na submisso Justia (dik).
Subsiste o fato de que, no espao de algumas geraes, os pr-socrticos vo
passar em revista explorar e criticar alguns dos principais conceitos
que a nossa cincia redescobriu, e que ns tentamos ainda articular para
pensarmos as relaes entre o ser, eterno e imutvel, e o devenir, ou para
compreendermos a gnese do que existe a partir de um meio indiferenciado.
(PRIGOGINE e STENGERS, 1984, p. 27)
Assim, Prigogine e Stengers destacaram o carter mtico das cosmologias dos antigos gregos.
Entretanto, eles encaminharam suas anlises num outro sentido, visto que a componente
mtica dessas narrativas pouco importava para o seu intento, como eles prprios disseram.
Da mesma forma que os autores acima citados, considerarei em minhas anlises as
cosmologias dos pr-socrticos, porm, ao contrrio do que ocorreu nos estudos desses
pesquisadores, neste trabalho, o carter mitolgico das narrativas extremamente importante.
Na realidade, as cosmologias de Pitgoras e Plato sero aqui consideradas mitos. Para tanto,
alm das caractersticas destacadas por Prigogine e Stengers, apio-me na moderna definio
de mito e na teoria de Spengler, que atribui aos pitagricos e a Plato, dentre outros, a
concepo de nmero antigo, a partir de uma alma antiga.
Interessa-me olhar mais para o nmero antigo e para a Etnomatemtica Apolnea,
considerando desde os mitos gregos mais antigos at atingir a cosmologia de Plato. Por sua
vez, um olhar mais acurado para a Etnomatemtica Faustiana iniciar-se- num perodo
anterior ao sculo XVII, na esperana de que os mitos cosmolgicos ento em voga nos
auxiliem a compreender melhor o apreo infinitude que nasceu nas culturas ocidentais.
Finalmente, objetivando uma maior aproximao Etnomatemtica Auwe-xavante, falarei
sobre a cosmologia desse povo.
Captulo 5: Na Cmara Principal
Wanderleya Nara Gonalves Costa
149
5.3.1 O recndito apolneo As cosmologias mticas gregas
Os gregos antigos acreditavam que o mundo havia surgido a partir de uma massa
informe e confusa o Caos que concentrava em si todas as coisas. A terra, o mar e o ar
estavam todos misturados, no tinham consistncias, texturas ou cores como as conhecemos.
Num determinado momento os elementos foram separados: a parte gnea que era mais leve
espalhou-se e comps o firmamento, enquanto o ar foi colocado em seguida; a terra, por
ser mais pesada, ficou para baixo; e a gua ocupou os pontos inferiores, fazendo-a flutuar. Foi
ento que um deus annimo determinou o lugar dos rios, lagos e montanhas, bem como da
vegetao e dos animais. Prometeu tomou um pouco de terra e misturou-a com gua; com a
massa obtida modelou os homens semelhana dos deuses. Deu-lhes porte ereto e uma tocha
acesa com o fogo do carro do sol. O fogo assegurou a superioridade ao homem, fornecendo-
lhe meios tanto para construir armas a fim de subjugar os outros animais, quanto de construir
ferramentas para cultivar a terra. Por sua vez, a primeira mulher, Pandora, foi feita no cu, a
partir da contribuio dos vrios deuses.
Esse mito, em diferentes verses, vigorou bastante tempo. Posteriormente, Homero e
Hesodo tambm registraram, em seus poemas picos, outras formas de interpretao do
universo pelos gregos. Homero escreveu Odissia e Ilada, nos quais descrevia as guerras da
poca e os retornos aps o fim destas. Na Odissia, ele dizia que o firmamento tinha a forma
de uma bacia slida emborcada que englobava toda a terra e havia ainda um ter brilhante e
flamejante situado acima do ar, onde esto as nuvens. Homero mencionava os movimentos do
Sol e da Lua e citava vrias estrelas pelos seus nomes. O Trtaro era o lugar do mal e estava
localizado no "lado de baixo" da Terra; esse local, onde moravam, somente metade do ano, o
deus Hades e sua esposa, no era iluminado pelo Sol, que se escondia somente at o nvel do
Oceano o rio que circundava a borda da Terra. Por sua vez, Hesodo afirmava que a noite
era uma substncia que jorrava para cima, vinda das profundezas da Terra.
Tales e Anaximandro, na escola jnica, no incio do sculo VI a.C. portanto, uma
gerao antes de Pitgoras , procuraram descrever a imagem do mundo diferente das
tradicionais; eles passaram a abordar o tema da criao do mundo e de seus habitantes por
meio de um enfoque que lhes pareceu racional e objetivo (BECKER, 1965, p.12). Para Tales,
o mundo teria nascido das guas. Ele acreditava ser a gua o princpio de tudo, visto que,
segundo suas observaes, o que quente precisa da umidade para viver, o morto se resseca,
todos os germes so midos e os alimentos esto cheios de seiva. A descrio do universo
feita por Thales sugeria que a Terra flutuava sobre a gua.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
150
Anaximandro esboou a primeira imagem do universo traduzida em nmeros
(BECKER, 1965, p.12). Em sua teoria o mundo derivava de uma substncia impondervel,
denominada aperon (ilimitado). Tal substncia seria eterna e indestrutvel e teria precedido a
separao em contrrios como quente e frio, seco e mido , representando assim a
unidade primordial por trs da aparente diversidade dos fenmenos. No seu sistema csmico,
a Terra est no centro do universo, sob a forma de um cilindro cuja altura e dimetro esto na
razo 1:3. Ao redor da Terra estariam grandes crculos que se afastam razo de 9, 18, 27...
No crculo interno estariam as estrelas fixas ou os planetas, enquanto no mdio estaria a Lua e
no exterior ficaria o Sol. A parte interna desses crculos estaria repleta de massa gnea.
Becker (1965, p.14) afirma que grande a influncia da Matemtica na cosmologia de
Anaximandro. Contudo, como coloca Boyer (1974), nunca a Matemtica teve um papel to
importante na vida ou na religio como entre os pitagricos.
Pitgoras, que nasceu por volta de 570 a.C., fundou, em Crotona, na Itlia, uma escola
cuja tese era a de que o princpio de todas as coisas o nmero. Essa tese sustentava a crena
de que o conhecimento da natureza e de tudo que existe no universo s poderia ser obtido por
meio de sua compreenso numrica. A escola criada por Pitgoras era uma confraria
cientfico-religiosa que tinha como preceitos o vegetarianismo, a transmisso oral do ensino, o
poder comum sobre as coisas, a reencarnao como ddiva divina para a purificao da alma
e a investigao matemtica como um recurso para a salvao desta. Os seguidores de
Pitgoras viviam em um rgido regime que inclua o voto de silncio durante os cinco
primeiros anos de permanncia no grupo e total anonimato em relao aos feitos pessoais. Por
essa razo, conhecemos a teoria de Pitgoras no por meio de escritos seus, mas pelas obras
de seus seguidores, entre eles, Aristteles e Plato.
Conhecemos, sobretudo, as idias veiculadas na Escola Pitagrica por meio do
Introductio arithmmeticae, de Nicmaco de Gerasa, que explicava os princpios matemticos
essenciais compreenso da filosofia pitagrica e platnica. Nicmano afirmava que tudo na
natureza teria sido determinado e harmonizado pelo nmero, pela previso e pelo pensamento
divino. Notemos que para os pitagricos os nmeros foram criados antes do mundo (e, claro,
dos seres humanos), pois, como nos afirma Mattei, (2000, p.49) Hipaso v no nmero o
rgo de deciso do deus arteso da ordem do mundo, enquanto Nicmano de Gerasa se
refere ao nmero como o primeiro modelo da criao do mundo.
Os pitagricos acreditavam ainda que os nmeros tinham certas qualidades, eram
melhores ou piores, mais jovens ou mais velhos; e podiam transmitir esses traos, como os
Captulo 5: Na Cmara Principal
Wanderleya Nara Gonalves Costa
151
pais aos filhos (BOYER, 1974, p.132). Alguns nmeros eram mais caros aos pitagricos:
iam de 0 a 9, alm do dez, tetractys, o nmero sagrado.
Para os pitagricos, a Geometria no era muito mais do que uma aplicao dos
nmeros extenso espacial. Por meio de configuraes de pontos, ou unidades sem
extenso, [os antigos pitagricos] associavam nmeros com extenso geomtrica; isso por sua
vez levou-os aritmtica celeste (BOYER, 1974, p.39). Um ponto os pitagricos chamavam
de um; uma reta, de dois; uma superfcie, de trs; e um slido, de quatro. Da se v que para
eles um ponto gerava as dimenses, dois pontos geravam uma reta de dimenso um ,
trs pontos no colineares geravam superfcies de dimenso dois , quatro pontos no
coplanares geravam slidos de dimenso trs. A soma do nmero de pontos de todas as
dimenses (1+2+3+4) era dez, o nmero sagrado que formava todo o universo.
Esse universo era esfrico, fora dele havia o abismo. Do ilimitado abismo alm do
universo vinha o sopro que este respirava e que separava as coisas, mantendo-as distintas ou
diferenciadas. No centro do universo havia o fogo central, a unidade original ou mnada, cuja
fora teria gerado o universo. Filolaus de Tarento, que morreu em aproximadamente 390 a.C.,
postulou a existncia de uma contra-Terra, uma outra Terra que no podia ser vista porque
o lado da Terra onde vivemos est virado na direo contrria contra-Terra e ao fogo
central. A razo pela qual os seres humanos nunca viam nem eram queimados por esse fogo
que viviam somente sobre metade da esfera terrestre que est sempre virada na direo
contrria ao fogo. Essa concepo torna necessrio que a Terra gire em torno do seu eixo
medida que percorre sua rbita, o que explica, tal como faz hoje a cincia, a existncia do dia
e da noite.
Os planetas estavam associados a esferas cristalinas, uma para cada um deles, as quais
produziam a "Msica das Esferas"; por isso a escola de Pitgoras estava interessada na
relao entre a Msica e a Matemtica. Em torno do fogo central giravam uniformemente os
oito planetas, na seguinte ordem: Terra, Lua, Sol, Mercrio, Vnus, Marte, Jpiter, Saturno.
Os seguidores de Pitgoras, no sculo V a.C., foram os primeiros a produzir uma teoria
astronmica segundo a qual uma Terra esfrica girava em torno de seu prprio eixo, assim
como se movia em uma rbita.
Abalada pela descoberta da incomensurabilidade e pelos argumentos de Zeno (490-
485 a. C.)
55
, conhecidos como paradoxos de Zeno, a doutrina do atomismo numrico da
55
Zeno desafiou os conceitos de movimento e de tempo por meio de vrios paradoxos; Eves (2004, p.418) cita
dois deles. Paradoxo da dicotomia: Se um segmento de reta pode ser subdividido indefinidamente, ento o
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
152
escola pitagrica no se sustentou, mas as crenas de Pitgoras e seus discpulos acerca dos
significados dos nmeros, bem como a cosmologia pitagrica, continuaram a manter
seguidores, como Nicmaco e Arquitas. Na cosmologia pitagrica a Matemtica exerce papel
preponderante: ela no serve de apoio como na de Anaximandro, mas sim de inspirao e
fundamento; visto que a partir dos nmeros o universo teria sido criado. Foi a partir da sua
adorao ao nmero dez, tetractys considerado o nmero perfeito e representante do
universo, da eternidade, da Divindade que os pitagricos conceberam um universo
composto de dez corpos celestes e difundiram a idia de que um Criador, e no os homens,
teria criado a Matemtica. Essa idia manteve-se ainda por longo perodo e encontrou em
Plato um aliado.
Ao que parece, foi influenciado pelo amigo Arquitas e por meio dos escritos de
Filolaus que Plato, que viveu cerca de dois sculos depois de Pitgoras (427 a.C. 347
a.C.), conheceu seus ensinamentos. Fortemente influenciado pelas idias pitagricas, Plato
criou sua prpria teoria, segundo a qual o Criador teria criado o universo com terra e fogo.
Para unir esses elementos o Criador teria colocado gua e ar entre eles usando todos os
elementos na mesma proporo e teria feito tambm um cu: visvel, tangvel e sensvel.
Os tomos desses elementos eram concebidos por Plato como poliedros regulares: o fogo
como tetraedro, o ar como octaedro, a gua como icosaedro e a terra como cubo. Becker
afirma que:
Toda a teoria [de Plato] se baseia exclusivamente nas superfcies dos
poliedros e no fato de os poliedros se comporem de superfcies, sendo que os
ngulos que as superfcies formam so tambm de importncia quanto a sua
grandeza relativa. A grossura das superfcies , contudo, nula, o que
demonstra o carter puramente matemtico dos tomos polidricos.
(BECKER,1965, p.21/22)
Plato acreditava que o Criador teria colocado a inteligncia na alma e a alma, no
corpo. Ento o mundo teria se tornado uma criatura vivente dotada de alma e inteligncia pela
providncia divina. O mundo era, ento, a imagem daquele todo do qual todos os animais so
parte. O original do universo conteria em si mesmo todos os seres inteligentes. Segundo
Plato, o Criador fez o mundo em forma de um globo, com seus pontos extremos
eqidistantes do centro, compondo a mais perfeita de todas as formas. O movimento
adequado sua forma esfrica foi concebido por ser o mais apropriado para a mente e a
movimento impossvel pois, para percorr-lo, preciso alcanar antes seu ponto mdio, antes ainda alcanar o
ponto que estabelece a marca de um quarto do segmento, e assim por diante, ad infinitum. Segue-se, ento, que o
movimento jamais comear. Paradoxo da flecha: Se o tempo formado de instantes atmicos indivisveis,
ento uma flecha em movimento est sempre parada, posto que em cada instante ela est numa posio fixa.
Sendo isso verdadeiro em cada instante, segue-se que a flecha jamais se move.
Captulo 5: Na Cmara Principal
Wanderleya Nara Gonalves Costa
153
inteligncia. No centro Ele teria colocado a alma, que estaria difusa por todo o corpo, tornado-
a tambm o seu ambiente exterior.
Plato acreditava ainda que o Criador teria dividido o todo em partes, de acordo com
as propores do tetractys e da escala diatnica
56
, at que a mistura total fosse exaurida. A
partir da, teria criado os corpos celestes e as rbitas, em crculos desiguais que se
movimentavam em velocidades proporcionais entre si. O Criador teria, ento, criado almas
em nmero igual ao das estrelas e dado uma alma a cada estrela, mostrando-lhe a natureza do
universo e declarando as leis do destino.
A partir dessa cosmologia, Plato props aos seus discpulos uma grande questo: o
que so os movimentos uniformes e ordenados descritos pelos planetas no cu? A resposta a
esta pergunta viria a ser elaborada por seu antigo aluno, Eudoxus de Cnidus, que teria nascido
entre 408 e 390 a.C. Eudoxus foi o inventor de um mtodo de anlise conhecido atualmente
como "mtodo da exausto". Ele tambm foi o descobridor do tratamento de quantidades
incomensurveis que est apresentado no quinto livro de Euclides. A astronomia grega
alcanou um novo patamar a partir dos trabalhos de Eudoxus; pode-se falar, desde ento, num
discurso essencialmente cientfico.
Entretanto, no poderei deixar de citar a cosmologia de um outro ex-aluno de Plato:
Aristteles, que viveu entre 384 e 322 antes de Cristo, cujas idias seriam retomadas sculos
depois por So Toms de Aquino, tornando-se o fundamento da doutrina catlica e da
instruo universitria na poca medieval. Na cosmologia aristotlica, a Terra, esfrica e
imvel, estaria situada no centro do Universo. Ela seria circundada por dez esferas
concntricas feitas de uma substncia perfeitamente transparente conhecida como
"quintessncia" ou "ter". Nessas esferas estavam os planetas e as estrelas, que seriam fixas.
O "Reino dos Cus" estaria localizado alm da dcima esfera. Depois da esfera das estrelas o
universo continuava no domnio espiritual, onde as coisas materiais no podiam estar.
56
Primeiro Ele tirou uma parte do todo (1). Depois Ele separou uma segunda parte que era o dobro da primeira
(2). Ento, Ele tirou uma terceira parte que correspondia a uma vez e meia a primeira parte (3). Em seguida, tirou
uma quarta parte que era o dobro da segunda (4); uma quinta que era o triplo da terceira (9); uma sexta parte que
era o ctuplo da primeira (8); e uma stima parte que era vinte e sete vezes maior que a primeira (27). Depois,
Ele preencheu os intervalos duplos (entre 1, 2, 4, 8) (razo 2) e os triplos (entre 1, 3, 9,27) (razo 3), retirando
pores da mistura e colocando-as nos intervalos, de modo que em cada intervalo houvesse duas espcies de
elementos ou meios, um excedendo e sendo excedido por partes iguais de seus extremos (como, por exemplo, 1,
4/3, 2, em que o elemento ou meio 4/3 um tero de 1 maior que 1 e um tero de 2, menor que 2), o outro sendo
a espcie de meio ou elemento que excede e excedido por um nmero igual.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
154
5.3.2 O recndito faustiano A cosmologia mtica ocidental
Com a expanso do Imprio Romano, a maior parte do conhecimento dos gregos foi
esquecida e os registros que existiam na biblioteca de Alexandria se perderam. Assim, na
Idade Mdia floresceram as idias mitolgicas sobre o universo, a mais importante delas
incorporada pelos cristos a partir da cultura judaica: o Gnesis.
Jav, o Deus nico, no incio dos tempos, criou o cu e a terra. A terra
estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso
soprava sobre as guas. Deus, ento, fez a luz e a separou das trevas,
criando o dia a e noite. Houve ento um primeiro dia. No segundo dia Ele
fez um firmamento o cu, separando as guas. As guas que ficaram
abaixo do cu foram ordenadas e a parte seca ganhou o nome de terra. No
terceiro dia, Deus colocou, sobre a terra, relva e rvores que do frutos e
sementes. Um quarto dia viu o nascer dos luzeiros no firmamento: Deus
disse: Que existam luzeiros no firmamento do cu, para separar o dia da
noite e para marcar festas, dias e anos; e sirvam de luzeiros no firmamento
do cu para iluminar a terra. No quinto dia Deus criou os animais que
habitam as guas e os ares. No sexto dia Deus criou os animais terrestres,
inclusive o homem sua imagem e semelhana. A partir dele criou
tambm a mulher. Finalmente, Jav deu, ao homem e mulher, o poder
sobre todas as criaturas do mar, do ar e da terra. No stimo dia Deus
terminou a sua obra e descansou de todo o seu trabalho; Deus ento
abenoou e santificou o stimo dia. (Bblia Sagrada: 1, 2-31 e 2, 1 a 3)
Desse modo o Livro Sagrado dos Cristos expe sua cosmognese que ao longo
dos tempos seria assumida como o que de fato ocorreu, pelos povos ditos de cultura
ocidental. Algumas razes para tanto podem ser encontradas a partir do ano 476, quando o
ltimo imperador romano do Ocidente foi deposto e as invases de vrias tribos brbaras
ostrogodos, visigodos, suevos, alamanos, saxes, e os vndalos romperam a estabilidade
poltica de toda a regio. Com a queda final do Imprio Romano do Ocidente, as atividades
intelectuais definharam. Neste perodo da Idade Mdia, voltou-se a ter uma polarizao
mitolgica entre o cu e o inferno. Por sua vez, a Terra era pensada com possuidora da forma
de um tabernculo retangular, plano, circundado por um abismo de gua. Desde o sculo V ao
sculo XI, o mundo foi compreendido dessa forma na Europa crist. A partir do sculo XI,
com o surgimento de escolas e, mais tarde, das universidades, novas idias se fizeram
presentes. Nos sculos XII e XIII os trabalhos de Aristteles, Euclides, Ptolomeu e vrios
outros foram traduzidos para o latim.
Toms de Aquino, um dos principais representantes do pensamento da Idade Mdia,
foi quem mostrou, no sculo XIII, que o universo aristotlico poderia ser entendido numa
Captulo 5: Na Cmara Principal
Wanderleya Nara Gonalves Costa
155
perspectiva crist, necessitando apenas de modificaes relativamente superficiais.
57
Suas
idias logo sofreram adaptaes suplementares, como as oferecidas pelo escritor Dante
Alighieri (1265-1321), autor da Divina Comdia (1306-1321). Nessa obra, o inferno era uma
regio inferior dentro da Terra, o purgatrio era a regio sublunar e as regies etreas eram os
locais ideais para a residncia de seres angelicais. Foi tambm no sculo XIII que surgiu um
outro importante representante do pensamento da Idade Mdia: Sacrobosco.
Tendo falecido em 1256, Sacrobosco foi educado em Oxford e ensinou Matemtica na
Universidade de Paris. Ele foi o primeiro europeu a escrever sobre o sistema de Ptolomeu
o modelo geocntrico, no qual o Sol, a Lua e todos os demais planetas giravam em torno da
Terra. Seu livro Sphoera Mundi foi um dos primeiros livros de astronomia impressos em todo
o mundo e o mais importante deles por 400 anos. Foi, provavelmente, a partir desse livro que
a Igreja Catlica props uma interpretao das Sagradas Escrituras compatvel com o
esquema de Ptolomeu, um egpcio que conhecia o grego.
Em resumo, pode-se dizer que o mito cristo gerou uma Cosmologia na qual a Terra
era o ponto mais alto do Universo em um sentido fsico; abaixo da Terra estava o inferno
evidenciado pelos vapores exalados pelos vulces; acima estavam sete esferas nas quais o Sol
e os planetas giravam em torno da Terra; a oitava esfera era uma abbada imvel sobre a qual
as estrelas se penduravam como lmpadas; a nona, ou esfera cristalina, era a residncia dos
santos; acima de tudo, na esfera nmero dez, estava a residncia de Deus Todo Poderoso,
chamada Paraso ou Firmamento.
O universo assim entendido foi santificado pela religio catlica, endossado pelos
filsofos e racionalizado pela cincia geocntrica. Essas idias permaneceram ainda em vigor
tambm ao longo de todo o sculo XV e, em 1504, Hieronymous Bosch inaugurou um painel
no qual era representada uma viso medieval do terceiro dia da criao, incluindo uma Terra
plana, com nuvens flutuando em um firmamento esfrico, e um vazio circundando a bolha
esfrica que envolve a Terra (ver figura no incio deste captulo). Percebe-se, pois, que essa
viso de mundo vigorou no s na Idade Mdia, mas tambm na Renascena (sculos XIV a
XVI).
57
Para se ter uma idia acerca da importncia do pensamento de So Toms nas escolas crists, vale lembrar que
no conjunto preconizado pelo Ratio Studiorum Societatis para a formao de professores dos colgios jesutas
constavam as seguintes regras, dentre outras: -Regra 34 do Provincial No se devem dar todos os livros aos
estudantes de Teologia e Filosofia, mas apenas alguns aconselhados pelos docentes e com o conhecimento do
Reitor: S. Toms para os telogos e Aristteles para os filsofos [...]; Regra 13 do professor de Teologia
No basta fazer referncia s opinies dos doutores e calar a sua; defendei a opinio de S. Toms ou ento no
vos refirais a ela; Regra 6 do professor de Teologia Se ouvirdes falar de algum autor que escandalize
gravemente os catlicos duma determinada regio ou escola, no o ensineis.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
156
Com Descartes (1596-1650) teria origem uma nova concepo de mundo: um universo
mecanicista que influenciou decisivamente a gnese da fsica newtoniana. Ao apresentar suas
idias, Descartes fundamentava-se no argumento de que somente Deus possui certos atributos,
entre os quais est a infinitude. Esses atributos no podem provir de parte alguma a no ser
Dele prprio. Assim, se conseguimos pensar no infinito, porque Ele colocou essa idia no
intelecto humano. Portanto, Deus existe; e, dado que Deus um ser perfeito, ele incapaz de
enganar-se ou de enganar o ser que pensa, como o prprio Descartes. Da vinha a plena
certeza da validade do conhecimento proporcionado pelo Mtodo que marca o nascimento
do Mito Cientfico.
Finalmente, aps (re)vistas aqui as mitocosmologias grega e crist ocidental ,
passemos agora mitocosmologia auwe-xavante.
5.3.3 O recndito auwe A cosmologia auwe-xavante
Existe todo um conjunto de mitos que nos d a conhecer o modo como o povo auw
explica o universo. Alguns desses mitos j foram tratados aqui, outros sero colocados
adiante
58
. O que vem a seguir tambm parte desse conjunto: aqui se narra que, antes que o
Sol e a Lua fossem criados, os Auw viviam na escurido.
Naquele tempo no existia o cu nem o dia, era tudo escuro, era noite,
e no havia fogo tambm. No tinha comida, as mulheres coletavam cor, as
larvas grandes, e tambm pau podre e seco. O povo antigo se alimentava
com isso e sofria de fome. O cor faz esse barulho, c, c, co,... noite d
para ouvir o som. Andando no mato se ouve todos os sons, sons dos
bichinhos,... o cor faz muito barulho, d para ouvir ele comendo pau podre,
por isso as mulheres conseguiam pegar, porque era tudo escuro. Todo mundo
colaborava, quem coletava mais pau podre repartia com a famlia.
O cu j existia, mas era uma parte s, no era inteiro. Era como uma
onda da gua do rio, levantando s de um lado. Era pouco. Desse lado no
tinha nada ainda, era pouco ainda, era s espao. O cu est sendo criado,
era baixo. (Adaptao do texto de SHAKER, 2002, p. 79/80)
E assim, no escuro, sob um cu ainda incompleto, viviam os antigos Auwe-xavante
que naquele tempo se chamavam wararada. Posteriormente, quando foram criados a Lua e o
Sol, surgiu a claridade e o cu se completou. Os mitos acompanham esses fatos, relatando
cada mudana no Cosmos e mostrando-se como testemunhas desse devir. Quando o cu ficou
pronto, surgiram as estrelas, os homens e as mulheres, uma das quais um dia visitou a Terra e
tomou para si um noivo Auwe-xavante (SHAKER, 2002).
O rapaz e a estrela
58
Uma leitura do trabalho de Shaker (2002) permitir um maior conhecimento sobre tais mitos.
Captulo 5: Na Cmara Principal
Wanderleya Nara Gonalves Costa
157
O adolescente, quando avana de treze anos de idade, j
airepudu, entende mais sobre a cultura e no quer ficar mais ao lado do
pai. Eles no so wapt ainda, no esto no h, mas tm o lugarzinho deles.
Para fazer sombra tiram umas varas com folhas e fazem um cercado em
volta. Isso eles faziam todos os dias, para pousarem fora da casa deles.
Ento eles comearam a deitar. Um deles admirou uma estrela e desejou
que ela pudesse descer, ficar deitada junto dele. Ela desceu para ele, ficou
deitada ao seu lado e dormiram. Quando amanheceu o grupo dele j saiu; s
ele que sobrou, sozinho, deitado. O sol foi subindo. Quando a me sentiu a
falta dele, mandou o irmozinho para que o chamasse, porque estava na
hora de almoar. Ele foi chamar o irmo. Correu, correu e deu o recado para
o irmo, mas este se recusou a voltar para casa, pediu-lhe que trouxesse o
almoo. A me negou, mas ele insistiu. Ento a me, desconfiada de que
tinha alguma coisa errada, pediu que o irmozinho voltasse quietinho e
verificasse o que estava acontecendo. Ele correu, parou, ficou olhando e viu
que tinha gente ao lado do irmo, era uma moa de pintura listrada. Ele
contou para a me e eles foram juntos at o local. filho, onde est a
pessoa que estava deitada do seu lado, que seu irmo tinha visto?. Ento
ela tirou aquela esteira que o estava cobrindo, mas no tinha nada mais.
Nada, no tinha ningum no. Ento ele pediu para a me: Me, manda
meu irmozinho trazer a borduna, pra eu tirar embira para ele. A me foi e
disse ao filho pequeno: Seu irmo est lhe pedindo para voc levar a
borduna para ele tirar embira para voc.
O irmozinho levou a borduna e eles foram andando. Quando
estavam quase chegando onde estava a moa-estrela ele avisou ao
irmozinho e pediu que no se assustasse. Pediu tambm que batesse com a
borduna na rvore e ensinou-lhe um canto para entoar enquanto fizesse isso.
Ensinou ao irmozinho no olhar para cima enquanto estivesse batendo, que
olhasse sempre para baixo. Quando chegaram ao lugar a noiva estava
esperando ele subiu na rvore e sentou junto dela. O irmozinho batia na
rvore e cantava at que ele disse que poderia parar. Quando o irmozinho
largou a borduna, olhou para cima, ento chorou, voltou correndo para casa
e contou me que o irmo havia subido para o cu. A me foi at o local e
tambm chorou.
Quando o rapaz subiu com a noiva, ela estava com o colar de dente
de capivara e com rabo de papagaio, e pintada com listras. Chegando no cu
tudo j estava pronto para receber o noivo. Ele viveu bem por l durante
muitos anos at que um dia resolveu visitar seus pais. Ento, sua sogra
preparou alimento para que oferecesse aos pais, ele trouxe numa cabaa
cortada. Todos na tribo comeram do alimento que ele trouxe e ele contou:
L em cima, vi que tem gente l, tem povo l. um lugar muito bonito,
um lugar muito plano, muita gente mora l. um lugar com muita coisa,
muita comida. Assim ele foi contando o que viu para a famlia: Aquela
estrela que vocs esto vendo, gente. gente, pessoa. Vocs pensam que
aquela l outra coisa, aquela l gente. No falou de pssaro, s contou
que tinha bicho, que tinha comida, que tinha tudo. Ento ele falou que
queria voltar, essa era sua ltima visita. Aconselhou a famlia para que no
brigassem e foi viver para sempre no cu.
(Adaptao do texto de SHACKER, 2002, pp. 161 a 164).
O esposo da estrela tambm teria contado ao povo antigo que o brilho que enxergamos
ao olhar para o cu deve-se aos colares de dente de capivara lixados para ficarem mais
brancos e brilhantes usados pelo povo-estrela. Os ancios afirmaram a Shaker (2002, p.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
158
188) que, naquela poca em que o rapaz e a estrela se casaram, o cu era baixo. O airepudu
conta que noite o cu abaixava, e de l se ouve tudo o que aqui se fala, e quando amanhece o
cu sobe. O cu estava perto. Com o tempo, o cu foi subindo, as coisas foram piorando,
dizem os velhos, e o cu ficou longe.
Os Auwe-xavante acreditam, ento, que o cu e a Terra foram se transformando, at
que o universo se transformou em algo como uma grande cpula habitada pelas estrelas, um
plano mdio, ao centro do qual est a aldeia xavante, e um plano debaixo habitado por outras
pessoas
59
. (GIACCARIA,1990, p.74). A Terra, com suas duas estratificaes planas e
paralelas, recebe o nome de Tia. O cu Hywa feito de uma matria que, como a
gua, no se pode cortar, fixo sobre a Terra. O sol ilumina tambm a Terra de baixo, por
essa razo ele se pe e volta a aparecer do lado Leste, isto , aps passar pela Terra de baixo,
iluminando-a. Em conjunto, cu e Terra compem o R, o mundo.
Assim, o mundo, R, uma semi-esfera. Essa semi-esfera tem como base a Terra,
sendo esta, portanto, um crculo. No centro desse crculo fica a aldeia auw-xavante e, no
centro desta, o war. O mundo dos Sarewai, o povo que no se deixa ver, um plano
horizontal paralelo ao primeiro, inferior a este. As aldeias circulares desse povo so
iluminadas pelo sol quando no plano superior os Auw-xavante esto sob a lua e as estrelas.
O cu e as duas estratificaes da Terra so habitados por povos diferentes, mas que se
organizam social e espacialmente de modo similar aos xavante. Todos eles contam com fontes
de gua (lagos, rios e chuvas), fontes estas que tambm so habitadas por povos diferentes.
Observa-se, pois, que a cosmologia dos Auwe-xavante evidencia as formas circulares;
mas anlises mais profundas como as que constam do prximo captulo podero
indicar-nos outros pontos interessantes.
Chego, agora, ao inefvel centro de meu relato; comea aqui meu
desespero de escritor: Toda linguagem um alfabeto de smbolos
cujo exerccio pressupe um passado que os interlocutores
compartilhem; como transmitir aos outros o infinito Aleph, que
minha temerosa memria mal e mal abarca?
Borges, p.695, vol. 1.
59
Essas outras pessoas a quem o autor se refere so os Sarewai o povo que no se deixa ver. Segundo o mito,
dois xavantes, que procuravam evitar o assassinato de um deles, criaram um novo povo, que vive num outro
lugar. As mulheres desse povo foram criadas a partir de pedaos de tora de buriti.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro Algumas relaes entre
Etnomatemticas e mitos
Captura do Minotauro, Paul Reid, 1999.
Idosa xavante fazendo cesto.
Quero dar graas ao divino
Labirinto dos efeitos e das causas
Pela diversidade das criaturas
Que formam este singular universo.
BORGES,1999
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
160
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
161
verdade, os labirintos tambm so moradia de minotauros, seres meio homens
meio touros, diferentes de quaisquer outros seres que conhecemos. Quanto ao
Minotauro de Cnossos, abandonei-o ainda pequeno em algum captulo no incio deste
trabalho. Mas agora ouo o barulho do Minotauro que habita o meu labirinto, sei que nos
encontraremos na verdade eu ansiava por isso. O que penso dele? Como eu, um moderno
Teseu, devo reagir? Deceparei sua cabea, assim como fez o heri grego? Antes de decidir a
respeito da ao a ser tomada nesse encontro, pensemos, por ns mesmos, no Minotauro de
Cnossos, deixemos de lado os discursos sobre ele. Talvez isso auxilie a decidir de que forma
agir com relao ao Minotauro do meu labirinto.
Ao refletir, no consigo acreditar completamente que o Minotauro de Cnossos, o
Prncipe Astrion do conto de Borges, se alimentasse do corpo das pessoas. (E voc?) Penso
que, sendo meio homem meio touro, talvez sua natureza humana permitisse a ingesto de
carne afinal, a maioria de ns come carne (no humana, mas principalmente bovina). Por
outro lado, a natureza bovina do Minotauro, sendo herbvora, negar-se-ia a essa prtica.
Deveramos, ento, temer a sua parte humana? aquilo que a princpio nos aproximaria?
No! Creio que no.
Ddalo colocou no labirinto jardins com flores e rvores frutferas o Minotauro,
provavelmente, alimentava-se de frutos. Talvez o que ele matasse nas pessoas no fosse o
corpo, mas um modo de ser, de pensar, de subjugar-se ao poder do rei. No teria Minos, para
a sua prpria convenincia, transformado o Minotauro num assassino devorador de
pessoas? Nunca saberemos: Teseu acreditou em todos os discursos que ouviu acerca dele, no
permitiu que o Minotauro falasse por conta prpria, usou sua espada, calando-o para sempre.
Mas hoje sabemos que os discursos so mais fortes que pensamos, escondem mais do que
podemos imaginar, tm poderes que sequer adivinhamos: transformam fracos em heris,
perseguidos em selvagens, pessoas em demnios, o diferente em monstro... Assim, a
ferocidade talvez no estivesse no Minotauro de Cnossos, mas no discurso acerca dele. E,
quanto ao Minotauro que encontraremos, o Minotauro do meu labirinto?
Ele o arqutipo do Outro daquele que queremos tornar igual a ns, capaz de
seguir nossos padres e esquemas codificados de contar, de ler, de perceber, de viver no
mundo; aquele que, no limite, caso seja incapaz de nos obedecer e pensar como queremos que
pense, teremos que exterminar fisicamente; provavelmente ele ser expulso de sua morada.
De fato, vejo que a ferocidade no est, a princpio, no Minotauro, mas nas prticas
discursivas e no discursivas que o acercam. Prticas e discursos que destroem outros
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
162
discursos e outras prticas, que desqualificam saberes ou os engolem, discursos que
naturalizam situaes desumanas, discursos e prticas que tratam os ndios como primitivos
ou presos num passado histrico do Brasil Colnia ; discursos e prticas que negam
direitos aos chamados grupos de minoria, que transformam o discurso e a prtica cientfica
nos nicos verdadeiros, que atestam a existncia de uma nica forma de matematizar;
discursos e prticas que transformam alguns grupos em marginais e outros grupos naqueles
que, por direito, podem falar e agir acerca de algo. Sendo assim, intuindo que a ferocidade
no est no Outro, mas nas prticas discursivas em torno dele, Teseu no o temer. Mas
como agir?
Talvez, ao ver o moderno Minotauro, Teseu o explorador, o heri moderno
pense: Ele sempre viveu por a, no freqentou escolas; primitivo, no civilizado ou
educado; portanto, nada deve saber. Seria melhor no tentar dialogar com ele, ele nada tem a
ensinar e provavelmente no me compreender, deix-lo-ei onde est. Contudo, talvez, como
alguns educadores e/ou psiclogos do passado, Teseu sinta-se benevolente, imbudo de uma
misso e, nesse caso, pensar ... se eu insistir, existe a possibilidade de transform-lo em um
ser civilizado, com uma mente adulta, no mais comparvel de uma criana. Mas talvez o
moderno Teseu, alertado principalmente por Foucault dentre outros , desconfie das
prticas discursivas e no discursivas. Ento, talvez, ele sinta que o Minotauro sabe algo
diferente, que o labirinto o seu local de estudo e, dispondo-se a dialogar com O Outro, o
moderno Teseu perceber que um saber como o do Minotauro, gerado num local to diverso
da escola, no linear, no possui um nico sentido. Esse conhecimento tem muito do espao
onde nasceu, mtico, prolfico, multvio. Que outras caractersticas ter? Ento Teseu, o
explorador, sentir necessidade de um contato maior, de um ouvir mais cuidadoso, de um
andar junto pelo labirinto.
justamente este o caminho a ser tomado: ouvirei os mitos do Outro, tentarei
compreend-los, e ento, tenho certeza,
[...] onde temamos encontrar algo abominvel encontraremos um deus. E
l, onde espervamos matar algum, mataremos a ns mesmos. Onde
imaginvamos viajar para longe, iremos ao centro da nossa prpria
existncia. E l, onde pensvamos estar ss, estaremos na companhia do
mundo todo. ( CAMPBELL, 1988.)
Mas a compreenso dos saberes do Outro, em especial da Etnomatemtica dos
Auwe-xavante, no se dar a partir de um olhar apenas para ela; penso que as Matemticas de
Spengler podero nos ajudar nesse sentido. Meu olhar para elas dar-se- a partir da anlise de
mitos cosmolgicos em sua caracterstica fundante. Isto , o foco agora no a histria
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
163
como naquele autor , mas principalmente os mitos cosmolgicos considerados em sua
capacidade de desdobrar-se, tornando-se fundamento para modos de ser, de pensar e de viver;
revelando-nos concepes de mundo, de tempo, de espao e de nmero, dentre outras. Ser,
pois, dado incio a um dilogo que eu espero nos possa levar a compreender melhor as
relaes que o Outro estabelece entre seus mitos e seus saberes etnomatemticos seja
esse Outro Apolo, Fausto ou os Parinaia, que aqui sero os representantes dos Auwe.
Antes, contudo, faz-se necessrio que os Parinaia sejam apresentados.
6.1 Sobre os Parinaia Nomeando a Etnomatemtica dos Auwe-
xavante
No contexto dos mitos, os nomes prprios so, acima de tudo, atributos, adjetivos, no
mais substantivos (DURAND, 1994). Assim, por exemplo, Christos significa o ungido e
Apolo, aquele que afasta o mal. O atributo est quase sempre subentendido por um verbo:
afastar, ungir e outros. Esse verbo, afirma Durand, indica a verdadeira matriz arquetpica,
portanto ele o que realmente importa, e no mais o prprio nome que apenas residual,
pois o verbo que leva a uma simbolizao, evocao de uma imagem arquetpica, a uma
maior compreenso, a um meio scio-geogrfico, a um contexto sociocultural e a um
momento histrico. Desse modo, assim como Spengler escolheu cuidadosamente o nome das
Etnomatemticas que analisou, torna-se tambm importante fazer o mesmo com relao
quela que chamarei, daqui por diante, de Etnomatemtica Parinaia, nome que, adianto, est
relacionado ao verbo criar.
Matemtica j um conceito consolidado que se associa a linguagens, a regras, a
possibilidades de demonstraes e a outras caractersticas. Assim, se a um determinado
conhecimento chamamos de Matemtica, a ele devemos relacionar uma das suas partes,
como fez Spengler. Nesse caso, as idias de nmero, de medida, de localizao espacial,
dentre outras, devem atender s nossas categorias. Isso significa que, no caso desse
conhecimento indgena, se o chamssemos de Matemtica, deveria haver uma traduo ou
uma reconstruo dos conhecimentos a partir de uma racionalidade que no a sua, j a partir
do nome. Por outro lado, penso que o termo Etnomatemtica, como definido anteriormente,
pode dar conta dessa diferena. Mas, como existem vrias Etnomatemticas, um nome
especfico deve ser atribudo ao conhecimento dos Auwe. Lembremos que Spengler, na
escolha dos termos apolneo e faustiano, voltou-se para a obra de Nietzsche, que havia
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
164
estudado a mitologia grega, e para a literatura europia, escolhendo nomes de pessoas
(Apolo e Fausto) que pareciam congregar em si as caractersticas adequadas a nos inspirar no
entendimento dos conhecimentos tratados. Mas no Panteo grego ou na literatura
universalmente reconhecida no existe uma pessoa que possa ser tomada como
personificao da alma auwe-xavante. Essa pessoa s poder ser encontrada nos mitos
desse povo. Entretanto, se o nome dado Etnomatemtica originada na cultura auwe deve
nos auxiliar, inspirar-nos a compreender o conhecimento que ele denomina, no faz sentido
dar Etnomatemtica desse povo o nome de uma pessoa mtica. A essa pessoa, sem
companheiro da outra metade, do outro cl que no o seu, faltaria o complemento, ela no
seria inteira; seria, na verdade, menos que um. necessrio, ento, um nome que considere
duas pessoas representativas de cada uma das metades clnicas. Um nome apropriado
talvez seja Parinaia os criadores.
O mito que trata dos Parinaia, de certa forma, d prosseguimento aos mitos que
contam a criao da Lua por um adolescente do cl Porezano e do Sol por um adolescente
do cl waw aqui narrados no momento em que abrimos a porta do labirinto
captulo 2. No caso dos Parinaia, conta-se que dois wapt, um de cada cl, juntos, criaram o
cachorro, depois a trara, o marimbondo, o jaburu, as abelhas e larvas, a murioca, a macaba,
o car e o inhame, alm do buriti, entre outros. Na verdade, eles criaram, sobretudo, um
grande conjunto de animais e vegetais necessrios existncia dos Auwe-xavante. Por essa
razo, os dois Parinaia so considerados os Criadores, protagonistas da constituio do
mundo Auwe-xavante como ele (GIACCARIA e HEIDE, 1975; SHAKER, 2002).
Sinteticamente, a histria dos Parinaia assim narrada
60
:
H muito tempo, nossa gente vivia na selva e dela tirava seus
alimentos. Todos os dias os homens e rapazes saam sua procura. Essa
tarefa no era fcil, pois as rvores no davam frutos. Colhiam pau mofo [e
os vermes que neles moravam]. noite, reencontravam-se num lugar
predeterminado e a acampavam, distribuindo, em seguida, os resultados da
batida. Estes eram os alimentos de nosso povo, no incio.
Ora, entre os rapazes, dois eram dotados de um dom especial. Podiam,
em conjunto e com o poder da palavra, criar tudo o que desejassem,
inclusive transformarem-se, tomando formas de animais.
Eles, saindo para as caadas, usando deste dom, comearam a criar ora
uma coisa, ora outra. Colhiam em abundncia e comiam. Depois levavam
grandes quantidades para o acampamento para todos os que l estavam,
homens, mulheres e crianas.
Faziam isto sempre s escondidas, e, por isto, os companheiros se
aborreciam. De fato, nas caadas eles no encontravam nada e voltavam
sempre de mos vazias, enquanto os dois wapt traziam todos os dias
alguma novidade.
60
Uma verso mais completa apresentada por Shaker (2002).
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
165
Comearam tambm a divertir-se, tomando formas de animais
diversos. Assim, brincavam com os homens, amedrontando-os. Desse modo
os dois rapazes fizeram surgir suspeitas em volta de si, at que seus
companheiros, cansados pelas contnuas brincadeiras, mataram-nos.
[(GIACCARIA e HEIDE, 1975, p. 45/46)
Os Parinaia so vistos pelos velhos como a instncia mais alta do poder romh, na
mesma estatura do Deus dos cristos, diz Shaker (2002, p. 117), mas no lhes so dirigidas
preces. Shaker (2002) enfatiza que a criao dos Parinaia ocorre por meio da transformao
os Parinaia, a cada dia, transformam-se em um animal ou vegetal, dando-lhes origem. No
misterioso poder romh, diz ele, tem-se o princpio arquetpico pelo qual, por transformao,
os seres romhtsiwa no pessoas quaisquer, mas aquelas que trazem consigo um poder
criativo e sagrado fazem manifestar, aparecer, os seres da criao.
Mortos por membros de seu prprio povo, do sangue derramado dos Parinaia
nasceram duas rvores, watpare e wawa. A primeira delas utilizada para curar doentes. A
wawa, quando colocada atrs da orelha ou quando raspada e misturada com urucum, constitui
uma tinta para pintar a cabea; esta tinta propicia o sonho com msicas. Pequenos pedaos
dessa rvore so colocados no bero para trazer felicidade s crianas e o p dela obtido pode,
ainda, ser espalhado noite, para trazer alegria. Os Auwe no derrubam essas rvores.
A histria dos Parinaia mostra que na cultura auwe uma pessoa no importante por
si s; os heris da histria personificam muito do que fundamental para esse povo em
especial a necessidade da complementaridade e a existncia de uma forte ligao entre seres
humanos, natureza e divindade. Por essa razo escolhi o nome Parinaia para designar a
Etnomatemtica dos Auwe Uptabi.
6.2 No dilogo emergem...
No dilogo ou na anlise as vrias categorias consideradas emergiram de forma
rizomtica, por meio de circunstncias diversas. A palavra rizomtica tem sua origem no
termo grego rhzoma, o que est enraizado. Os franceses Gilles Deleuze e Felix Guattari
(1995. p.15-37) explicam que um rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto
qualquer. O rizoma no se deixa reconduzir nem ao uno nem ao mltiplo. No feito de
unidades que se somam, mas de dimenses e com direes movedias. Um rizoma no um
objeto de reproduo; no tem comeo nem fim, sempre h um meio pelo qual ele cresce e
transborda. o oposto de uma estrutura que se define por um conjunto de pontos e posies e
que pode ser mapeada por correlaes binrias.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
166
Por sua vez, como salienta Garnica (2005, p. 88), conceber a anlise como rizomtica
estar pronto a trilhar os vrios caminhos que surgem a partir de todas as possibilidades de
interpretao que cada um dos fios do rizoma permite entrever. Assim, algumas categorias
consideradas para as anlises que ocorrem neste captulo foram tomadas a partir de Spengler;
so as que destaquei no captulo anterior. Outras, tais como tempo e espao, so clssicas
as chamadas categorias aristotlicas. Ressalto que consider-las aqui no constitui uma
contradio; afinal, como j explicitei ao falar sobre a reconduo dos limites, neste trabalho
a idia expandir, e no desconsiderar o pensamento aristotlico. Finalmente, emergiram
outras categorias de inspirao foucaultiana e a partir dos prprios mitos.
essa concepo de anlise, rizomtica, capaz de considerar categorias to diversas,
atrelada ao mtodo e forma de relato escolhidos, que tem tornado possvel, ao longo deste
trabalho, considerar aspectos sociolgicos, antropolgicos e narrativos, dentre outros, dos
quais emergiram Etnomatemticas, metforas, identidades, formas de subjugar, mtodos
disciplinares, prticas discursivas e no discursivas, referncias sagradas e profanas, mticas e
histricas como veremos a partir de agora.
6.2.1 Relaes entre mitos, tempo, contagem e nmero
As cosmologias mticas grega, crist e auwe-xavante trazem, plasmadas em si,
diferentes concepes de tempo; e no se pode deixar de reconhecer que existe uma ntima
relao entre tempo e contagem. Desse modo, a partir de um olhar para as cosmologias,
pretendo enfocar as diferentes concepes de tempo presentes nessas culturas.
Para tanto, lembremos que o conceito de tempo possui vrios significados, dados pelos
diversos povos, em diferentes pocas. Apesar dessas diferenas, costumeiramente, o tempo
associado contagem, que considerada o mais simples de todos os ritmos. No , pois, sem
razo a aproximao etimolgica entre as palavras aritmtica e ritmo, ambas originrias
de termos gregos derivados de uma raiz comum que significa fluir. Nesse contexto, como
afirma Whitrow (1993, p. 27), interessante a "sugesto feita por alguns especialistas em
snscrito a mais antiga lngua indo-europia conhecida de que o desenvolvimento de
um sistema gramtico de futuridade pode ter coincidido com um interesse em sries
recursivas de nmeros muito grandes". Da a idia de que o olhar para as concepes de
tempo atreladas s cosmologias aqui tratadas nos permitir perceber a necessidade da criao
de sistemas numricos maiores ou menores, entre outros.
Nas cosmologias gregas, inclusive na de Homero apresentada na Ilada est
presente mais um carter espacial que temporal, ao contrrio do que ocorre na obra de
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
167
Hesodo que coloca o tempo como um aspecto da ordenao moral do universo. Na
cosmologia de Anaximandro est presente a idia do tempo como fator de justia, pois ele
afirmava que todas as coisas que so criadas devem um dia perecer, compensando-se s
outras, de acordo com a sentena do tempo. Essa idia, avalia Whitrow (1993, p. 53), foi-lhe
sugerida pelo ciclo das estaes, com a alternncia entre o quente e o frio, o molhado e o seco.
Por sua vez, Pitgoras compreendia o tempo como a alma, um dos elementos procriativos
do universo. Lembremos que na sua cosmologia era fundamental a idia de que a essncia de
todas as coisas estava nos nmeros, que tinham um significado tanto espacial quanto
temporal. Na verdade, na cosmologia pitagrica, mesmo as configuraes espaciais eram
vistas como temporais por natureza, diz Whitrow (idem, p. 55). J Plato via uma estreita
relao entre o tempo e o universo, considerando que o tempo era efetivamente produzido
pelas revolues das esferas celestes, isto , era entendido como uma caracterstica do
universo. Essa idia frisa a natureza essencialmente cclica que marca a concepo de tempo
dos gregos antigos.
Segundo a concepo cclica, a determinados intervalos fixos de tempo os corpos
celestes retornariam s mesmas posies relativas que tinham no incio do mundo. Quando
isso acontecesse, todo o ciclo de vida seria renovado nos mnimos detalhes. Foi o escritor W.
K. C. Guthrie, citado por Whitrow (1993, p. 65), que chamou ateno para um mito,
apresentado por Plato em sua Poltica, que explicava mais detalhadamente a idia do tempo
cclico. Plato afirmou que o Criador imprime rotao ao universo e o mantm sob seu
controle at que, ao final de um ciclo, o liberta. Quando isso ocorre, o mundo inverte sua
rotao e tudo comea a se deteriorar, at que o Criador retome seu controle e coloque mais
uma vez o universo a girar na mesma direo que antes, fazendo com que todos os
acontecimentos sejam revividos.
A idia de tempo cclico que vigorou durante toda a Antiguidade no pde ser
aceita pelos cristos, que a consideravam inconcebvel, pois a crucificao de Cristo, uma vez
ocorrida, jamais voltaria a acontecer esse no era um acontecimento cclico. Logo, o tempo
deveria ser linear. Um dos grandes pensadores cristos sobre a questo do tempo foi Santo
Agostinho (354-430). Em A cidade de Deus (citado por Whitrow, 1993, p. 79 grifo meu),
ele afirma:
Os filsofos pagos introduziram ciclos de tempo em que as mesmas coisas
seriam restauradas e repetidas pela ordem da natureza, e afirmaram que
esses rodopios de idades passadas e futuras prosseguiro incessantemente
[...] A partir dessa zombaria, so incapazes de pr em liberdade a alma
imortal, mesmo depois que ela atingiu a sabedoria, e acreditam que ela est
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
168
incessantemente caminhando para uma bem-aventurana falsa e
incessantemente retornando a uma misria verdadeira. [...] apenas atravs
da slida doutrina de um curso retilinear que podemos escapar de no sei
quantos falsos ciclos descobertos por sbios falsos e enganosos.
A viso de tempo de Santo Agostinho diferia das concepes observadas desde a Antiguidade
Clssica. Se por um lado ele rejeitava o tempo cclico, pensando-o linearmente, por outro, ele
no julgava que este continuaria indefinidamente, sem que nada de essencialmente novo
acontecesse. Santo Agostinho falava de um tempo que comeara com a Criao e terminaria
no Apocalipse, com uma segunda vinda do Cristo. Essa concepo de tempo, devidamente
adaptada a uma cultura que se diz afastada dos mitos e das religies, perdura desde a Idade
Mdia at as modernas culturas ocidentais embora Scandiuzzi (2007, em comunicao
pessoal) saliente que na atualidade a maioria dos telogos da Igreja Catlica concebam o
tempo de uma outra forma, como kairos.
A esse respeito, note-se que os gregos antigos tinham duas palavras para o tempo:
chronos e kairos
61
. Enquanto o primeiro termo se refere ao tempo cronolgico ou seqencial,
este ltimo diz respeito a um momento indeterminado em que algo especial acontece. Hoje, a
teologia usa o termo kairos para descrever o "tempo de Deus" esse seria, ento, um tempo
mtico. Por outro lado, chronos dito de natureza quantitativa, o "tempo dos homens". Assim,
kairos tem a ver com valores, um tempo qualitativo, enquanto chronos diz respeito a
horrios, com durao de atividades. De todo modo, na cincia e nas sociedades modernas
est plasmada uma concepo de tempo que se aproxima mais daquela apresentada por Santo
Agostinho na Idade Mdia, relacionada ao tempo chronos, que orientava as atividades nos
colgios jesutas, o que os levava a ocupar-se rigorosamente do seu tempo e levar s escolas a
mesma orientao. essa concepo de tempo, relacionada ao chronos, que nos leva hoje a
dividi-lo em horas, minutos, segundos, centsimos de segundos, milsimos de segundos e a
estar constantemente preocupados com quanto tempo nos resta.
Por sua vez, a cosmologia mtica auwe-xavante fala de um tempo muito antigo, no
qual viveram os antepassados poderosos os seres romhtsiwa como os Parinaia;
relata tambm um tempo menos longnquo, nas histrias dito tempo de nossos bisavs; e,
61
Deleuze, na Lgica do Sentido (1974), fala tambm sobre o tempo Aion. Nesta temporalidade, o passado e o
futuro insistem ou subsistem no tempo. Eles dividem o presente, transformando-o num instante, do qual partem
um passado e um futuro infinitos. Por sua vez, baseando-se nas pesquisas de Vernant e Detienne, Duley (2002)
fala do tempo Aion a partir da ao da deusa Atena. O modo de ao de Atena a mtis, uma forma de
inteligncia engajada no devir e na ao, que se faz na multiplicidade das ocorrncias e dos encontros. Atena
possui perspiccia, sagacidade, previso, vivacidade e uma inteligncia rica em afetividade. Foi ela quem, junto
com Hefasto, o Deus do Fogo, inventou o freio de ouro que domou o cavalo de Poseidon (smbolo da violncia
e das potncias infernais). Foi tambm ela quem inventou o arado que prepara a terra para a semeadura e o
cultivo. Assim, a mtis grega deu origem a um modo do saber que conjuntural, nascido do encontro de
circunstncias e do acaso. A temporalidade da mtis relaciona-se ao tempo Aion.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
169
finalmente, os narradores dos mitos falam de um tempo efetivamente lembrado e contado. Em
conjunto, os mitos e o contexto em que vivem nos revelam que a concepo de tempo dos
Auwe-xavante pluridimensional: nela entrecruzam-se o tempo objetivo, o subjetivo e o
social.
O tempo objetivo mensurvel, compreendido como a repetio de fenmenos
regulares observveis como as fases da lua ou a florao das rvores do cerrado. O tempo
subjetivo no pode ser mensurado, pois se refere experincia temporal tal como se processa
na conscincia dos sujeitos. Ele qualitativo, sendo reversvel para os Auwe-xavante por
meio da rememorao dos mitos, pela vivncia dos sonhos, pelas festas. Esse tempo que
permite a forte ligao com os ancestrais. Feito de fluxos, o tempo subjetivo dos Auwe
atravessa a fronteira entre mortos e vivos, entrelaando-os efetivamente. Para ns algo de
difcil compreenso, fica sempre uma aura de mistrio. Por sua vez, o tempo social, que se
integra ao conjunto de traos culturais que institui em cada sociedade a sua unidade e
identidade, no caso dos Auwe-xavante, marcado pelos grupos e pelas classes de idade.
Assim, o tempo identitrio
62
dos Auwe ao mesmo tempo mensurvel e imensurvel,
circular e linear, de deslocamento e retomada. Os ciclos naturais do cerrado, o trnsito de
pessoas por grupos e classes de idade, a realizao de ritos auxiliam na marcao do tempo
mensurvel
63
. Os grupos de idade repetem-se, as pessoas que o compem, em cada poca, so
outras, mas uma determinada pessoa pertencer sempre a um grupo de idade (htr, tirowa,
etepa, abareu, nodzu, anorowa, tsadaro ou airere). Entretanto, essa pessoa locomover-
se-, ao longo de sua vida, pelas classes de idade (aiutpr de colo; aiut sentado;
watbremi brincando com poucas obrigaes; airepudu menino maior; wapt
adolescente; ritiwa adulto recm-sado do h e apto para o casamento; daohuiwa
casado, assumindo as obrigaes de padrinho; iprdu homem maduro; ihi velho)
64
.
Fenmenos tais como o andar do sol e os hbitos das aves permitem a marcao do tempo
durante o dia; noite, o percurso da lua e das estrelas que marcam o tempo. Os meses so
observados a partir do ciclo lunar
65
; o passar do ano, pela observao de acontecimentos
ligados ao cerrado (chegada ou partida de determinados pssaros, reproduo dos peixes,
62
Termo utilizado por Borges, L.C (2006).
63
Segundo Silva (2005, p. 107), mesmo os Auwe mais jovens, ao consultarem seus relgios de pulso, alguns
deles digitais, utilizam-se, inclusive, de expresses mais ligadas ao contexto em que vivem, por exemplo, Mat
aptorore h j hora de iambur cantar (para indicar as 2:00h) ou Mat Sia j hora de a galinha cantar,
para indicar que so 03:00h.
64
Essas denominaes referem-se a pessoas do sexo masculino; as mulheres, a partir das duas primeiras classes
de idade, recebem outras denominaes.
65
Pelo menos pelo ciclo lunar que as mulheres marcam o perodo de gestao, observando a poca em que se
dar o nascimento de seus filhos, segundo me disseram em nossas conversas.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
170
florao, dentre outros). As passagens das dcadas so marcadas pela passagem das pessoas
pelos grupos e classes de idade.
66
Observando, pois, o papel do tempo e do nmero nas cosmologias consideradas,
percebe-se que a cosmologia mtica grega relaciona o tempo e o nmero ao espao; e a
concepo mais freqente era de um tempo cclico. No mito cristo a questo do tempo, a
contagem dos dias ocupa lugar de destaque. Segundo esse mito, as estrelas do firmamento
foram criadas, principalmente, com o fim de ajudar na tarefa de contagem de um tempo
maior, necessrio para marcar festas, dias e anos. Esse tempo linear e, como disse o
telogo O. Cullmann (citado por WHITROW, 1993, p. 67), pode ser representado por uma
linha inclinada ascendente
67
. Os dias, os anos e os sculos que se seguiram criao sero
contados pelo menos at a segunda vinda de Cristo, anunciando a necessidade de uma srie
quase infinita de nmeros.
Desse modo, a anlise da cosmologia mtica grega leva a concluses semelhantes
quelas s quais chegou Spengler: o conceito de tempo liga-se ao de espao (prximo) que,
por sua vez, est relacionado a nmeros determinados, a uma srie de grandezas discretas. A
cosmologia mtica ocidental tambm leva concordncia com Spengler, na sua afirmao de
que na cultura dos povos ocidentais predomina uma forte noo temporal que se relaciona
idia de infinito. Por sua vez, a cosmologia auwe-xavante mostra-nos que no existem, entre
esse povo, grandes preocupaes com um passado ou um futuro longnquos, o que
considerando a sugesto de que a idia dos grandes nmeros se relaciona com a futuridade
nos leva a perceber que os Auwe no sentiam nem sentem necessidade de um sistema
numerao que lhes permitisse ou permita contar at o infinito.
De fato, a partir da necessidade de contagem que tinham, os Auwe-xavante
conceberam um nmero qualitativo, entendido como regularidade, diferente do nmero
grego ou ocidental.
Os nmeros auwe-xavante tradicionais evocam tanto o mito de origem do povo
xavante chamado pelos padres salesianos que primeiro o coletaram de Mito do Arco-ris
quanto a sua atualizao. Na contagem tradicional dos Auwe temos o termo mitsi (um)
que, segundo McLeod e Mitchell (1977), significa [um pedao] de lenha-s. Assim, a
66
De modo especial, considero interessante a reflexo externada por um dos Auwe-xavante a respeito da
diferena entre o tempo mtico e o tempo social. Aps narrar o mito do nascimento da Lua, ele teria dito:
Naquele tempo ainda no tinha animais. No tinha ema, nem fogo. E como tinha o ovo da ema que os meninos
estavam assando? E o fogo? As histrias so contadas assim, no tm uma ordem... (SHAKER, 2002, p. 86).
67
Scandiuzzi (2007, em comunicao pessoal) salienta que a nova concepo de tempo hoje presente na maioria
dos trabalhos dos telogos relacionados Igreja Catlica que se alinham concepo kairos de tempo - no
permite que o tempo seja representado dessa forma. Ele sugere que sua representao geomtrica se aproximaria
mais de um espiral afunilado.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
171
origem da palavra que designa a unidade pode ser associada madeira wamari, muito
provavelmente a voz original que foi posteriormente atribuda ao arco-ris quando o mito foi
adaptado para ser narrado aos religiosos. Ela lembra o elemento ndio que est sozinho, sem o
companheiro do outro cl, ou, na atualidade, o rapaz que ainda no ingressou no H. O termo
designativo do nmero dois maparan pode ser traduzido como tem companheiro
68
e,
quando relacionado ao mito e s tradies dos Auwe, lembra a existncia do companheiro da
outra metade clnica. Siubdat (trs) significa que tem um sozinho. Maparan siuiwan
(quatro) o dobro de maparan (dois). Por sua vez, imrot (5) uma palavra nascida a partir
de outras duas imro (esposa) e to (sem) e significa sem esposa; imrp (seis) significa o que
est junto esposa. Em vista disto, entendo que o nmero seis marca a possibilidade do
comeo de um povo ou de uma tribo: dois homens, sendo um de cada cl; duas mulheres, uma
de cada cl; e duas crianas, tambm uma de cada cl. Novamente ressalto que uma pessoa de
uma metade s se completa com a presena do companheiro do outro cl e que essa
composio permitiu e ainda permite o surgimento de um povo
69
.
Em sntese, as anlises realizadas neste item permitem ressaltar o ntimo
relacionamento entre mitos, concepo de tempo e concepo de nmero. Essa relao ocorre
de forma tal que nas cosmologias mticas gregas predomina a concepo de um tempo cclico;
por sua vez, os nmeros so pensados como independentes dos seres humanos, preexistentes a
eles e prpria Terra, seres perfeitos que apenas imperfeitamente podem ser captados por
aqueles que se dedicam ao seu estudo. Na cosmologia crist-ocidental o tempo, durante
sculos, foi concebido como uma semi-reta ascendente e quase infinita; por sua vez, os
nmeros eram concebidos como criao divina. Eles foram dados aos seres humanos para
que estes pudessem marcar o tempo que se relaciona aos rituais. Finalmente, a anlise dos
mitos cosmolgicos auwe-xavante a partir do contexto onde vivem revelou uma concepo
complexa de tempo: um tempo simultaneamente circular e linear, mensurvel e imensurvel.
Revelou ainda que, ao contrrio dos casos anteriores, os nmeros so vistos como uma
criao humana; criados pelos Auwe, eles so qualitativos.
Para dar a entender um pouco mais sobre essa concepo de nmero, apresentarei, na
seqncia, trs ilustraes. A primeira delas refere-se a uma situao vivida por mim junto
68
Para o nmero dois maparan o significado que coloquei foi tem companheiro, mas em alguns
escritos sobre os Auwe-xavante possvel encontrar outra traduo: como os ps da ema. Essa ltima
traduo pode ser encontrada nos livros dos salesianos citados ao longo do trabalho. A primeira traduo, pela
qual optei, geralmente consta nos relatos de professores e professores/pesquisadores que, como Silva, estiveram
ou esto atuando nas escolas auwe. Os relatos dos antroplogos no so unnimes a esse respeito, trazendo uma
ou outra traduo.
69
McLeod e Mitchell (1977) afirmam ainda que o numeral dez designado pelos Auwe-xavante como
danhiptomo b (os dedos das mos, todos) e o numeral vinte, daparahi b (os dedos dos ps, todos).
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
172
aos Auwe. Para a elaborao da segunda ilustrao aproprio-me do trabalho de Silva (2006) e
proponho-lhe uma outra interpretao alm daquela que esse pesquisador nos oferece. A
terceira ilustrao nasceu a partir da anlise de um mito e de um rito especficos.
Ilustrao 1
Uma vez perguntei a um xavante quantas pessoas moravam em sua casa. Ele me respondeu
que l morava sua famlia. Insisti na pergunta e, a ttulo de exemplo, disse-lhe que na minha casa
ramos cinco pessoas. Ento ele passou a dizer-me os nomes das pessoas de sua famlia, sem
qualquer tentativa de associ-las a um nmero, mas possibilitando-me perceber, por meio dessa
enunciao, o nmero de pessoas que compunham sua famlia. Pensei, ento, que provavelmente
aquele ndio no conhecia bem o sistema numrico utilizado pelos no-ndios; dirigi a questo a um
amigo seu, que estava ali presente e aconteceu a mesma coisa. Esse fato muito me incomodou,
pois, para mim, naquela poca, era inconcebvel que algum que soubesse usar o sistema numrico
indu-arbico no pudesse enunciar, com certeza e preciso, o nmero de pessoas que compem
sua famlia. A nica explicao que me parecia possvel era a de que eles no conheciam a nossa
forma de contar. Mas essa hiptese no me convenceu, pois se tratava de lideranas, que
constantemente iam cidade, faziam compras, vendas, serviam de intermedirios e intrpretes
nas relaes entre membros da tribo e os moradores das cidades vizinhas. Decidi procurar um
outro ndio, que com certeza conhecesse o nosso sistema numrico e tivesse certa familiaridade
com ele. Dirigi, ento, a questo a um professor. Perguntei-lhe quantas casas havia na aldeia. Ele
demonstrou que essa questo nunca o havia incomodado anteriormente, mas, como a aldeia era
circular e um olhar bastava para abrang-la, ele contou as casas, dando-me o nmero delas.
Perguntei o nmero de pessoas de sua famlia e ele, tal como os outros membros da tribo a quem
eu tinha dirigido a mesma pergunta, anunciou os nomes das pessoas. O fato, que eu comeara a
compreender, que os Auwe-xavante concebem a famlia como uma unidade cujos membros no
podem nem devem ser contados separadamente pelo uso do nosso sistema numrico. Contar cada
um deles por meio do anncio de seu nome, e no simplesmente de um nmero, significa considerar
sua individualidade e, ao mesmo tempo, sua posio na unidade maior que a famlia. Mas, numa
ltima tentativa, falei com um homem que com certeza havia freqentado a escola no-indgena e
cuja famlia eu sabia que era pequena, pois a enfermeira da aldeia me havia prestado tal
informao.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
173
O rapaz era auxiliar de sade e recebia mensalmente um salrio pelos seus servios, que
incluam determinao de dosagem de remdios e pesagem de crianas, entre outros. Esses fatos
eram indcios de que compreendia bem e lidava cotidianamente com nmeros indu-arbicos. Falei
com ele sobre a composio de sua famlia que numericamente diferia muito das demais. O
auxiliar de sade tambm no me revelou o nmero total de pessoas que a compunham, mas disse-
me que faziam parte dela apenas ele, sua esposa, duas filhas e um filho.
70
Observa-se, no caso
desse homem, de maneira mais clara, os efeitos da dinmica cultural ou da heterocultura.
Embora no tenha dito o nmero total de pessoas da sua famlia (ele no disse cinco pessoas como
eu o fiz), ele a separou em categorias menores e enumerou no interior dessas categorias ele
prprio, a esposa, as duas filhas e o filho.
A influncia da educao diferenciada que recebeu, o uso contnuo da matemtica do
branco e o poder aquisitivo que obteve fizeram com que esse rapaz adotasse uma atitude
diferente dos outros Auwe-xavante visto que para os outros membros da tribo a famlia, como
eu compreendi, considerada uma unidade. Entretanto, ele no assumiu a mesma atitude que eu: a
idia de categorias mais amplas foi preservada. Enquanto eu precisei utilizar-me do nmero cinco
para referir-me a uma composio familiar igual dele, ele utilizou-se dos nmeros um (para
contar os elementos das categorias compostas por ele prprio, para a esposa e para o filho) e
dois (para a categoria das filhas), enquanto os outros membros da tribo utilizaram-se apenas do
nmero um, ao referir-se categoria famlia.
Observa-se, pois, que a forma xavante de conceber os nmeros forma essa que tenho
chamado de qualitativa leva necessidade de uma seqncia menor de nmeros. A quantidade
de itens a serem enumerados no muito grande, visto que o que se enumera so os conjuntos
maiores dos quais eles fazem parte. A respeito de outros contextos que poderiam indicar uma
seqncia maior de nmeros, lembremos que, por exemplo, a aldeia, quando comea a ficar grande,
sempre dividida de tal modo que o nmero de pessoas que a habitam se mantenha relativamente
pequeno. Mas talvez valha para a tribo o que foi observado para os membros da famlia. O apreo
pelo acmulo de bens que no sero efetivamente utilizados no faz parte da cultura indgena.
No existe, na sua cultura tradicional, um Deus que mora nas alturas, numa distncia infinita. No
70
Depois de questionado, explicou-me que a deciso de montar uma famlia to pequena fora dele, pois seu
salrio poderia alimentar melhor a famlia se ela fosse reduzida. Tradicionalmente ele deveria morar na casa da
sogra, compartilhando os alimentos com ela e o sogro; com os cunhados e cunhadas solteiros; com as cunhadas
casadas e seus maridos e filhos mas nesse caso ele no seria o nico provedor, todos os homens pescariam e
caariam. Indaguei-lhe, ento, se quando suas filhas se casassem deveriam ir morar noutra casa, pois a ento o
mesmo salrio serviria para alimentar tambm os genros e, depois, os netos. Inicialmente pareceu surpreso, seu
rosto revelou tristeza e ele respondeu que no, suas filhas deveriam sempre morar com a me.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
174
havia, pois, razes que levassem os ndios a conceber um nmero que se aproximasse ao faustiano,
que os permitisse contar quase que infinitamente.
Ilustrao 2
Tambm no que diz respeito aos nmeros auwe, Adailton Silva (2005, p.103/104) ressalta
o fato de que, embora tradicionalmente esse povo no tenha sentido necessidade de criar nomes
para nmeros superiores ao seis, certamente eles realizavam contagens pelo menos at o nmero
quarenta. Para ilustrar sua afirmao, o pesquisador transcreveu a fala de alguns professores
indgenas participantes de uma oficina oferecida por ele. Os ndios narraram que, utilizando os
dedos das mos e dos ps, compondo-os dois a dois, os velhos faziam marcas de carvo numa
rvore num total de quarenta riscos, para marcar ou confirmar a passagem dos quarenta dias
nos quais ritualmente os wapt batem gua para a Festa da Furao de Orelha, na qual aps
quarenta dias recebem o brinco xavante.
Esse pesquisador vivenciou um outro momento que tambm pode nos auxiliar a
compreender porque mesmo os Auwe com familiaridade com o sistema de numerao decimal no
enunciaram um nmero quando lhes perguntei acerca da quantidade de pessoas que compunham
sua famlia. Numa outra oficina, cujo objetivo era explorar sistemas de classificao, Silva
(2005) props a utilizao de objetos do entorno, mas os Auwe explicaram-lhe que no podiam
separar folha, caule, flor e fruto de uma determinada planta, pois so elementos indissociveis,
partes de uma unidade que a prpria planta assim como a famlia.
Ilustrao 3
Notemos, inicialmente, que Spengler, ao falar sobre a cultura grega, ressaltou a
existncia do nmero apolneo, mas ainda hoje, nas sociedades modernas, a concepo pitagrica
de nmero se faz presente, por exemplo, por meio da numerologia. Nela a crena de que os
nmeros governam o mundo e a associao de letras aos nmeros levam muitas pessoas a fazer
previses de acontecimentos a serem vividos por elas ou por outros com base em estudos
numricos. Spengler falou-nos tambm sobre o nmero faustiano. Os reflexos do nmero
faustiano e das formas a eles associadas seja na Representao em Perspectiva, na
Geometria Analtica e no Clculo Diferencial e Integral parecem muito mais fortes nas
sociedades atuais que aqueles advindos do nmero antigo. Os nmeros faustianos levaram-nos,
inclusive, a um grande desenvolvimento tecnolgico, a viver obcecados pela medio de tempo,
entre outras idias... O nmero Parinaia tambm vive na sociedade auwe.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
175
Em algumas partes deste trabalho aparece a grande importncia do nmero dois
qualitativo para esse povo, o que se nota, especialmente, na sua forma de organizao social, ou
mesmo no modo como tradicionalmente associam os dedos para contarem. Assim, agora, tomarei
um outro nmero, o trs, e considerando tanto um mito quanto um rito, argumentarei acerca das
suas caractersticas de regularidade e qualidade.
No Mito do Arco-ris (ver captulo 2), o nmero trs aparece de forma subjetiva (veja que
o nmero dois aparece de outra forma, visto que foi enunciado), estando presente sem se fazer
central ou primordial. Na sua representao, as cores do arco-ris foram colocadas em trs
diferentes setores (ver figura 1 captulo 2) e so trs os pauzinhos que deram origem a cada
metade exogmica os indivduos da direita e os indivduos da esquerda. Tambm no mito se
percebe que o pedido para ter filhos repetido trs vezes ao dia e que a splica contm uma
palavra por trs vezes repetida. A representao do mundo auwe-xavante remete-nos novamente
ao nmero trs visto que ele formado pelo cu onde ficam as estrelas, pelo plano slido onde
ficam as aldeias auwe e pelo outro plano slido onde moram os Sarewai, o povo que no se v. Em
conjunto, esses fatos mostram-nos o nmero auwe como expresso de regularidade, e no como
instrumento de contagem.
Alm disso, o nmero trs, contido no mito de origem do mundo auwe-xavante, fez-se
presente em vrios ritos, alguns dos quais cuidadosamente preservados por esse povo. Tal
cuidado demonstrado na observao do Danhoredzuwa que literalmente, significa o
fazedor do colar de algodo , um rito complexo pelo qual todo xavante deve passar, composto
de vrios outros ritos complementares, um deles o Danhono. Esse rito tem a funo de preparar
os Auwe-xavante para a vida de adultos casados e modifica as relaes de parentesco entre eles,
j que os adolescentes ganham dois novos pais e duas novas mes, as esposas dos
padrinhos. Assim, cada Auwe possui trs pais e trs mes. Ao narrar o rito de forma breve,
grande parte do seu simbolismo e complexidade se perder; contudo, saliento sua importncia
nessa cultura.
Lembremos que o Mito do Arco-ris divide a sociedade xavante em duas metades
exogmicas e patrilineares, isto , membros de uma mesma metade no casam entre si, e os filhos
pertencem ao cl do pai. O incio do rito Danhoredzuwa d-se com a escolha dos padrinhos
que devem preencher os requisitos morais e dos direitos e obrigaes entre os cls. Cada Auwe-
xavante possui dois padrinhos, que devem pertencer ao cl da me; um deles introduz e
acompanha a pessoa na vida social e o outro introduz e o acompanha na vida familiar. Segundo
Giaccaria (2000, p.34), as atribuies e funes do primeiro esto ligadas essencialmente ao
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
176
'grupo de idade , aos ritos de iniciao, enquanto que ao segundo se ligam mais s cerimnias de
casamento. Existem vrios procedimentos para que os pais dos adolescentes faam a proposta
aos futuros padrinhos e para que estes a aceitem. No dia da cerimnia ocorrem muitos outros
procedimentos rituais, alguns deles a cargo das mes dos adolescentes outros, dos pais e, ainda,
dos padrinhos. Nesse momento, o rapaz recebe presentes de seu padrinho, entre eles trs
colares de algodo
71
, fundamentais para os Auwe, que os consideram como seu sinal distintivo.
Por essa razo, qualquer Auwe-xavante, ao exercer uma funo oficial religiosa ou no deve
usar pelo menos um tipo de colar de algodo. Os tipos so diversos, j que suas particularidades
devem indicar as funes da pessoa que os usa, seu grau de iniciao e os poderes simblicos que
possui.
No Danhoredzuwa o afilhado do sexo masculino recebe dois colares parecidos,
enfeitados com penas de rabo de aves diferentes entre si apenas no nmero de cordes
utilizados e um terceiro, confeccionado com seis cordes e bastante comprido, de modo que
permita formar trs anis ao redor do pescoo do usurio e que possa ser retirado sem que se
desamarre. O afilhado de sexo feminino tambm recebe trs colares, dois deles com as mesmas
caractersticas observadas nos dos meninos, e um terceiro, que traz dentes de capivara no lugar
das penas. Esse colar representa a feminilidade e s pode ser utilizado enquanto a moa no tiver
relaes sexuais.
Como descreve Giaccaria (2000, p.43), a partir do momento em que o adolescente do sexo
masculino passa pelo Danhoredzuwa, ele deve ficar longe da prpria casa (no momento de sua
sada os pais choram-no como se tivesse morrido), completamente separado do mundo feminino,
vivendo numa casa separada do resto da aldeia. A moa tambm viver num estado marginal com
relao ao grupo das mulheres e famlia, marginalidade expressa pelas restries sexuais,
alimentares e de moradia. A reintegrao parcial da moa vida familiar e tribal ocorre com o
casamento, quando o padrinho a pinta e a orna com os trs colares de algodo confeccionados pelo
pai por ocasio do noivado pblico. A reintegrao total, porm, s ocorrer aps o nascimento do
primeiro filho.
71
A origem dos colares de algodo remete-nos cosmologia auwe-xavante, visto que eles foram trazidos terra
pela estrela que veio do cu para se casar com um rapaz desse povo. Segundo o mito, o casamento entre a estrela
e o rapaz manteve, em parte, o que ocorre nos casamentos tradicionais: o lugar reservado aos noivos na casa
celeste o mesmo que nas casas auwe; o oferecimento de alimento e o colar de dente de capivara que enfeita a
noiva tambm so partes do casamento entre os Auwe-xavante. Entretanto, no foi a moa-estrela que lhes
ensinou a cerimnia de casamento; o que ela trouxe de novo foi a pintura listrada que utilizada na cerimnia
de nomeao das mulheres, cuja festa reproduz o que lhes contou o airepudu, que se casou com a estrela
watsi.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
177
Esse rito mostra que a vida de cada Auwe-xavante pode ser percebida como se fosse
dividida em trs grandes fases. A primeira fase, vinculada casa materna, est relacionada
gestao e ao perodo anterior ao Danhoredzuwa. A segunda fase da vida de cada Auwe-xavante
refere-se ao perodo posterior ao rito de passagem, no qual rapazes e moas permanecem
marginalizados, preparando-se para viver como adultos, sendo iniciados aos segredos e s
obrigaes que os tornam verdadeiros Auwe-xavante. A terceira fase da vida auwe-xavante, a
adulta, est mais ligada aos anseios da tribo, da reafirmao de sua cultura e do crescimento de
seu povo. Ela se refere fase em que as moas j so mes de seu primeiro filho e foram
completamente reintegradas vida familiar e tribal, e os rapazes j se tornaram padrinhos de
grupo de idade e assumiram um lugar no conselho tribal (war).
Giaccaria (2000, p.42) afirma que, para os Auwe-xavante, os dois extremos da vida e da
morte se juntam e se identificam: na lngua xavante o mesmo termo waptr significa tanto
nascer como morrer, a tumba representa o tero, o morto colocado na posio fetal. Desse
modo, pode-se dizer que a velhice e a morte fazem parte de uma mesma fase da vida, a primeira
fase do ciclo.
A anlise do exposto levou-me a concluir que na cultura auwe-xavante o nmero trs se
relaciona vida, ou ao ciclo da vida, em suas trs fases. Por essa razo este nmero est
presente desde o incio, no Mito do Arco-ris, falando do nascimento do povo xavante no apenas
como a concepo, mas sim como toda a vida, com os momentos indissociveis de crescimento,
maturao e nascimento/morte. O rito Danhoredzuwa, em toda a sua complexidade e simbolismo,
com seus trplices colares de algodo, lembra aos Auwe as trs fases da vida e os diferentes
papis sociais que seu povo espera que assumam. Por isso mesmo o trs encerra em si a simbologia
da vida de cada Auwe-xavante em sua completude. O nmero trs, por meio dos trs colares de
algodo, lembra-lhe ainda que sua vida est intrinsecamente relacionada vida do universo, que
formado por trs partes, assim como a sua prpria vida. Observa-se, pois, a importncia
qualitativa do nmero Parinaia.
6.2.2 Relaes entre mitos, teogonia, religiosidade, espao e formas
necessrio salientar que as separaes em itens que estruturam este captulo, na
verdade, inexistem a priori. Com isso quero dizer que no h uma diferena fundamental, por
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
178
exemplo, no tipo de relao que se estabelece entre mitos, tempo, contagem e nmero e as
relaes entre mitos, teogonia, religiosidade, espao e formas, entre outras. Essa diviso
que facilita o meu trabalho de narradora sem dvida redutora, mas penso que ela no
consegue esconder o relacionamento mais amplo que existe, por exemplo, entre a concepo
de nmero e a religiosidade de um povo. Nesse sentido, diz Spengler
[...] a afinidade entre o sistema numrico de uma cultura e a idia csmica
da mesma, e essa relao confere quele sistema a importncia de uma
concepo de Universo, muito alm do mero saber e conhecimento. Assim
se compreende que os mais sublimes pensadores matemticos, artistas
plsticos no reino dos nmeros, tenham-se baseado em uma profunda
intuio religiosa, para iarem-se ao nvel dos problemas matemticos
decisivos da sua cultura. (SPENGLER, 1973, 76).
Para sustentar sua afirmao, o historiador aponta Pitgoras, Nicolau Cusano, Leibniz, Kepler
e Newton como matemticos que tiveram seus trabalhos orientados por sua religiosidade e sua
concepo de universo. Dessa inspirao derivam as anlises apresentadas a seguir, nas quais
esse tipo de relao enfatizada.
Recordemos que as cosmologias gregas mais antigas remetem a deuses que habitavam
no Monte Olimpo ou no Trtaro lugares relativamente prximos, que em condies
especiais poderiam ser alcanados por semideuses e por homens. Contudo, assinala Vernant
(1990, p.196), o que mais caracteriza a imagem mtica dessa cosmologia que ela representa
o universo em nveis um mundo plano em que o alto e o baixo, em sua posio absoluta,
marcam as posies das potncias divinas e do s direes diferentes significados: a direita
propcia, a esquerda funesta (VERNANT, 1984 e 1990). As cosmologias posteriores
falavam de uma Terra que seria o centro fixo de um Universo que poderia ser totalmente
conhecido, observado. O mundo, ento, no estaria mais dividido em nveis e tornar-se-ia
lugar de direito para todos.
Quanto s formas geomtricas, os poliedros regulares chamavam a ateno dos
pitagricos, e a estrela pentagonal foi escolhida como smbolo da confraria criada por
Pitgoras. No Timeu, Plato associou a Terra, o elemento mais imvel, ao cubo, o nico
poliedro com faces quadradas e, por isso, o mais apto a garantir estabilidade. Ao fogo ele
relacionou o tetraedro, que o poliedro mais "pontudo", com menor nmero de bases;
portanto, o de maior mobilidade. gua e ao ar, que so de mobilidade crescente e
intermediria entre a Terra e o fogo, ele associou, respectivamente, o octaedro e o icosaedro.
E, por ltimo, incluiu o dodecaedro, representando o ter que, segundo Plato, seria a "alma
do mundo". Desse modo, Plato construiu uma teoria cosmognica, associando os cinco
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
179
poliedros regulares aos elementos da natureza. Para ele e seus seguidores, os poliedros
regulares encarnavam harmonia e perfeio. A esfera era considerada a forma perfeita.
Assim, as cosmologias gregas ressaltam as formas geomtricas, levando-nos a
observar o que Spengler j nos apontava a tendncia grega a conceber uma imagem plstica
do universo, a negao de um espao infinito e a afirmao do finito. Contrariamente, a antiga
tradio mtica crist que se relaciona a um Deus que habita nas alturas, na dcima esfera
ao redor da Terra d um especial valor ascendncia e ao espao infinito.
Antes mesmo do incio da Idade Mdia, j no sculo III, as catedrais passaram a ser
cada vez mais altas, pois sua altura servia para mostrar o quo grande era o poder divino e a
distncia entre Deus e os seres humanos. A distncia infinita, um reflexo da distncia entre o
Cu e a Terra, entre Deus e os seres humanos, assumiu grande importncia no s na
Arquitetura, mas tambm na Msica, na Pintura e na Matemtica ocidentais como salientou
Spengler. Nesse contexto, as curvas que se aproximam do infinito passaram a ser as formas
mais importantes e a reta ascendente passou a ser o principal smbolo da cultura faustiana
72
.
Vale lembrar que o termo religio, do latim religio, cognato de religare, significa
religar o domnio transcendente com o mundo imanente, o que pode ocorrer por meio do mito,
de prticas rituais e de sonhos. Entretanto, costumamos utilizar o termo em referncia a
conjuntos de relaes tericas e prticas estabelecidas entre os seres humanos e uma (ou mais)
divindade qual estes rendem culto por seu carter sagrado. Desse modo falamos, por
exemplo, em Islamismo, Catolicismo, entre outras, como diferentes religies, pois possuem
alguns elementos considerados caractersticos dos sistemas religiosos: a idia do bem
absoluto, crenas, ritos, profisses de f, normas de conduta e instituies dogmticas
(doutrinrias) e cultuais (sacerdcio, hierarquia). Nesse sentido no se pode dizer que
tradicionalmente os Auwe tenham uma religio j que no realizam adoraes, no
possuem sacerdotes
73
, credos ou profisses de f.
72
A prpria organizao espacial das sociedades ocidentais assumiu essa tendncia, levando-nos, por exemplo, a
organizar-nos em cidades reticuladas e a orgulhar-nos dos prdios mais altos, a desejar apartamentos de
cobertura, a localizar no alto dos prdios os escritrios dos executivos mais importantes. Nessa linha, h uma
tendncia de localizar o que considerado melhor no alto (mais prximo de Deus) e o considerado pior, embaixo
(prximo aos seres humanos e ao inferno); por exemplo: o crebro localizado no alto, na cabea passou a ser
mais valorizado que o corpo; e uma metfora comum utilizada nas famlias patriarcais dizia que o homem era a
cabea da famlia. Nos mapas, a Europa est sempre acima da frica quando, sendo a Terra redonda, o sistema
de referncia poderia ser outro e poderamos ter mapas nos quais essa posio estivesse invertida.
73
Estou falando aqui sobre sua religiosidade tradicional, visto que aps anos de contato com religiosos,
notadamente catlicos, nasceu entre os xavantes um outro tipo de religiosidade, e muitos deles aceitam o Deus
cristo. Durante o meu primeiro ano de pesquisa na aldeia gua Branca um dos membros da tribo, que de l se
havia afastado alguns anos antes para estudar teologia em Campo Grande, foi ordenado padre.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
180
Os Auwe-xavante vivenciam o sagrado, acreditam e confiam em seus criadores
mticos, nos poderosos ancestrais que lhes legaram os astros, os animais, as plantas, as
msicas e as prticas rituais. Seus mitos e ritos revivem os tempos e os feitos dos criadores,
atualizam as prticas inauguradas por eles, reintegrando o cotidiano ao tempo primordial, re-
unificando o mundo imanente ao transcendente, o temporal no atemporal (SHAKER, 2002,
p. 57). Porm o conjunto de mitos e ritos no chamado pelos Auwe-xavante de religio, mas
sim de tradio ou de cultura e no assume as caractersticas acima citadas para as nossas
religies.
Shaker (2002, p. 58) pontua que, quando os ancios desse povo falam em tradio,
referem-se fora que mantm o esprito da criao, fora com que os ancestrais mticos
criaram os seres, os ritos e os conhecimentos que at hoje constituem os modos de ver e viver
dos Auwe. Na aldeia de gua Branca a palavra cultura tambm era utilizada nesse
sentido. Note-se ainda que, se nos sistemas religiosos os cultos ocupam lugar importante, para
os Auwe as festas possuem um sentido prximo: por meio do que chamam de festas da
tradio ou da cultura, revivem os princpios ditados pelos criadores mticos, estruturam suas
vidas, transmitem as verdades contidas nesses princpios e as atualizam.
74
Tradicionalmente,
para eles, os criadores eram pessoas do povo xavante antigo que possuam poderes
especiais. Essas pessoas, como os Parinaia, viviam com os outros membros da tribo,
incognitamente, at que manifestassem o seu poder. Isso ocorria em espaos localizados fora
da aldeia, mas nas suas imediaes. A cada um desses locais Medeiros (1991) chamou de
paragem mtica. Ele explica que esses locais esto envolvidos numa atmosfera de sonho e que
neles so ou foram vividas experincias extraordinrias que levam principalmente criao
ou descoberta. Essas paragens, diz Medeiros, so consideradas locais perigosos e possuem
uma aura de espao proibido, mas acessvel. O autor assinala que embora, em geral, as
paragens mticas situem-se no prprio territrio xavante ou no fundo de uma lagoa, por vezes
elas esto mais distantes como o caso do mito da estrela e o do rapaz, embora tambm
neste caso o cu no seja muito distante da aldeia.
Decorre da a afirmao de que, para os Auwe-xavante, os principais criadores no
moravam nas alturas; eles eram principalmente pessoas com poderes especiais que na Terra, e
no nos Cus, criaram os prottipos dos animais e das plantas do cerrado. A distncia entre os
criadores e os outros Auwe era e ainda qualitativa. Outros seres poderosos habitavam ou
74
Antnio Gonalves Filho, no prefcio ao livro de Medeiros (1991), ao falar sobre a religiosidade auwe-
xavante, afirma: Para eles o sagrado mais ou menos o que Nicolau de Cusa define como sendo Deus. um
crculo, cujo centro est em todo lugar e cuja circunferncia est em lugar algum. Essa experincia s pode ter
sendo.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
181
habitam na prpria aldeia, na mata, nas rvores, nos rios e lagos estando junto aos Auwe,
mas separados pelos poderes especiais. Assim, a maneira mais tradicional como os Auwe
vivenciam o sagrado os levou a uma organizao qualitativa do espao. verdade, como eu
disse anteriormente, no captulo 2, que esse povo tem tido ntimo contato tanto com a religio
catlica quanto com religies protestantes, o que tem modificado sua forma de vivenciar o
sagrado. Medeiros (1991) observa essa mudana, tomando como dados os mitos e sonhos
narrados por Jernimo e fazendo-nos perceber as transformaes do esprito onrico que
povoa os relatos do ancio.
Se, antes de sua converso religiosa, Jernimo, em seus sonhos, falava com algum
antepassado ou com o Daimite, esprito bom que se manifesta na natureza; se a voz que
ouvia era associada madeira wamari, que se transformava num ndio xavante, aps um
maior contato com os missionrios, o Deus cristo, Jesus, e os anjos fizeram-se presentes.
Entretanto, salienta Medeiros (1991), esses personagens assumem caractersticas diferentes
das tradicionais. Um exemplo nesse sentido extrado pelo autor a partir do relato de um
sonho no qual dois anjos dois ndios com asas de jaburu descem terra como enviados
divinos. Medeiros salienta que somente at esse relato Jernimo remeteu madeira wamari,
no havendo qualquer meno a ela nas narrativas posteriores. De todo modo, observa-se por
meio das falas de Jernimo que o cu onde habita o Deus cristo no concebido como
infinitamente distante, visto que pode ser atingido por anjos que usam asas de jaburu. Um
outro exemplo apresentado por Medeiros diz respeito ao sonho em que Jernimo e seu filho
fizeram uma visita moradia que Jesus Cristo estabeleceu s margens dos rios. Esse autor
salienta que nos mitos e nos sonhos mais recentes dos Auwe as falas da madeira wamari e do
Dapotowa (Deus cristo) fundiram-se harmoniosamente, compondo o perfil de uma
divindade, sem dvida, original (p. 126). Observa-se, pois, que , em conjunto, as anlises de
Medeiros levam observao de que a religiosidade dos Auwe-xavante, ainda hoje,
relaciona-se a um espao prximo e qualitativo.
Por sua vez, o Mito do Arco-ris evidencia as formas circulares e fez com que o
crculo, o semicrculo e a semi-esfera passassem a ter um significado diferente para esse povo.
Uma releitura desse mito permite-nos dizer que o universo auwe-xavante originou-se a partir
de uma semicircunferncia o arco-ris que sofreu uma rotao em torno do eixo em que
podemos imaginar o ponto central da circunferncia que lhe teria dado origem. Assim nasceu
o mundo xavante, uma semi-esfera. Seccionada no ponto mdio da sua altura (ou raio) por
um plano horizontal, ela deu origem a um crculo. No centro desse crculo fica a aldeia
xavante. Um plano paralelo ao primeiro foi passado pelo dimetro da semi-esfera, originando
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
182
um outro crculo, habitado pelos Sarewai, o povo que no se deixa ver. Em todos os planos
existem fontes de gua rios e lagos , todas elas habitadas por seres diferentes dos que
habitam as terras daquele mesmo plano.
Os mitos cosmolgicos oferecem aos Auwe explicaes para o formato de suas
aldeias, de suas casas, das suas relaes familiares e sociais. Esse povo, como visto
anteriormente, mantm uma organizao social dual e complementar. A casa xavante original,
que circular, representa o universo em miniatura, pela sua forma e estrutura, por isso fica
carregada de simbolismo. A arquitetura arqueada da casa refere-se ao arco-ris do mito da
criao xavante que est na base da estrutura familiar e social. (GIACCARIA, 1990, p.22).
Mas, como veremos mais adiante nas anlises dos ritos, as formas circulares assumem outros
importantes significados.
De fato, os mitos cosmolgicos auxiliam-nos a compreender a tendncia dos Auwe-
xavante para retratar o espao em que vivem por meio de um modelo constitudo por crculos
concntricos. O centro dos crculos que costumeiramente desenham marcado ora por um
fogo central, ora pela assemblia dos homens (war), conforme o esboo se refira a uma
paisagem noturna ou diurna. Ao espao que circunda esse ponto seguem-se vrios outros
crculos que retratam a localizao das casas, do rio, das plantaes, das caadas e os limites
da terra auwe.
Figura 4 extrada de Schuster (2001, p. 11)
Farei agora uma sntese dos resultados apresentados pela anlise das relaes entre
mitos, teogonia, religiosidade, espao e formas afinal, no podemos permitir que as idas e
vindas pelos caminhos do labirinto nos leve desorientao.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
183
Os mitos cosmolgicos gregos falam da existncia de vrios deuses com caractersticas
humanas, que habitavam nas proximidades da polis e interagiam com os seres humanos de
maneira muito prxima. Essa teogonia relaciona-se concepo de um espao prximo,
diferenciado, distribudo em nveis. Por sua vez, o olhar plstico para um espao
observvel, passvel de medio e de forma definida levou admirao de algumas formas,
entre as quais se destacam a estrela pentagonal, os slidos platnicos e a esfera. A teogonia
ocidental-crist est fundamentada na figura de Jav, o nico Deus que habita o mais alto do
Cu. Ela se coaduna com uma concepo de espao no qual o lugar divino, totalmente
diverso e superior, s poder ser atingido pelo ser humano que, seguindo os passos
determinados, torne-se merecedor dessa honra. Esse espao, que de certo modo representa a
distncia entre Deus e os seres humanos, relaciona-se idia da semi-reta ascendente. Por
outro lado, vimos que os Auwe no possuem uma religio tal como a entendemos com
culto aos deuses oficializados por sacerdotes que agem segundo uma hierarquia. Na cultura
auwe-xavante os antepassados poderosos viviam com os outros membros de sua tribo, at o
seu poder se manifestasse. De fato, eles crem que existe uma distino apenas qualitativa,
no em nveis, entre os criadores e os outros Auwe. Isso se reflete, inclusive, numa
organizao circular do espao. principalmente a partir da que o crculo, a semi-esfera e o
semicrculo se tornam figuras simbolicamente importantes para esse povo.
6.2.3 Mitos e relaes de poder
Na concepo de Etnomatemtica aqui adotada, tal como explicitei na introduo
deste trabalho, assumo que as idias e os conhecimentos de um determinado grupo cultural
devem ser compreendidos a partir de um conjunto maior que congrega, inclusive, questes de
poder. Analisemos agora como vm sendo colocadas, nos mitos e em seus desdobramentos, as
relaes de poder entre os seres humanos e a(s) divindade(s), entre estes e a natureza e,
tambm, o papel do fogo como smbolo do poder.
Penso que a anlise do fogo como smbolo de poder importante, visto que, como
salienta Spengler (1941), nada caracteriza melhor a vontade humana de exercer o controle
sobre a natureza do que o domnio do fogo. Esse autor observa que, de todos os animais, s o
ser humano pensa e conhece os processos para provocar o surgimento do fogo, o que, de certo
modo, o faz reviver fenmenos naturais violentos, enigmticos e fantsticos, tais como o
vulco ou o raio que causa incndio na floresta.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
184
Que se teria passado na alma do Homem quando pela primeira vez ele viu o fogo que
sua prpria mo provocara?, questiona Spengler (1942, p.65), para mais adiante continuar
dizendo que, a partir deste ato singular que emergiu da livre e consciente atividade da
espcie, tomou forma a alma humana cheia de expresso pensativa e orgulhosa, alma de
quem conhece o seu prprio destino, dotada de sentimento de poderio que se concentra nas
criaes e nos feitos. realmente assim, como smbolo de poder do ser humano sobre a
natureza e sobre as outras criaturas, que o fogo aparece em vrias mitocosmologias.
Os mitos cosmolgicos gregos mais antigos narram que os seres humanos foram criados
pelos deuses sua semelhana. Eles teriam sido presenteados com o poder simbolizado por
uma tocha de fogo que foi acesa no carro do Sol (no mito de Prometeu) sobre a Terra e
sobre todas as criaturas. Nas cosmologias gregas posteriores, o fogo reaparece como um dos
quatro elementos fundamentais do mundo juntamente com a gua, a terra e o ar. Na
cosmologia pitagrica havia o fogo central, a unidade original ou mnada, cuja fora teria
gerado o universo.
No mbito privado de cada uma das casas gregas, a nfase no era, propriamente, no
fogo, mas na sua morada. Entre os deuses gregos estava Hstia nome prprio de uma
deusa, mas tambm nome comum que designava a lareira, ou melhor, um altar-lareira.
Assim, Hstia no era o fogo, mas a deusa que residia em todas as casas, no meio da lareira
micnica de forma arredondada; era de l que ela marcava o centro da casa, o ponto fixo a
partir do qual os habitantes podiam se orientar em todas as direes, qualitativamente
diferentes. Sem Hstia, diz o Hino homrico, no h festim entre os mortais; no h um
festim sequer que se inicie sem se oferecer a Hstia uma libao a primeira e a ltima ao
mesmo tempo de vinho doce com mel (VERNANT, 1990, p. 167). Ela tambm est
presente na cosmogonia de Filolaus: A primeira coisa a ser harmonizada o uno no
centro da esfera chama-se lareira. (KIRK, RAVEN e SCHOFIELD, 1994, p.358).
Para Vernant, conceitualmente, a lareira (Hstia) e conseqentemente o fogo
tambm esto presentes no plano novo de cidade, em que todas as construes urbanas so
centradas ao redor da praa chamada gora espao circular e centrado, no qual os cidados
entram num quadro poltico cuja mxima o equilbrio, a simetria, a reciprocidade. Assim
como cozidos no altar da lareira domstica, os alimentos realizam uma solidariedade
religiosa entre os convivas; criam entre os participantes como que uma identidade de ser
(VERNANT, 1990, p.167), os debates na gora tambm criam uma identidade dessa vez
pblica. Podemos, como sugere Vernant, assumir que houve um transporte conceitual por
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
185
meio do qual a gora passou a ocupar, no espao pblico, o lugar que Hstia ocupava no
espao privado. Desse modo, ao olharmos para a antiga cultura grega, podemos pensar no
fogo como smbolo de um poder dividido igualitariamente entre os cidados, desde as casas, a
partir de Hstia, at as cidades, na gora.
Na tradio crist o fogo tambm assume um significado simblico importante; e nas
cosmogonias mticas ocidentais os seres humanos e todos os animais e vegetais, tal qual nos
mitos gregos, tambm so criaes divinas. Enquanto uma parte dos animais aqueles que
habitam as guas e os ares foi criada um dia antes dos seres humanos, todos os animais
terrestres, inclusive os seres humanos, teriam sido criados por Deus no sexto dia da criao
os animais antes dos seres humanos. Nesse mesmo dia o primeiro homem e sua mulher, por
meio da Palavra Divina, receberam o poder sobre todas as outras criaturas da Terra e sobre
esta. Por sua vez, como afirma Lachnitt (2001, p.424), o fogo um smbolo poderoso da
divindade e de aes da divindade para com os homens. Vrias passagens selecionadas por
esse autor apresentam Deus como dono do fogo, que o manipula como forma de manifestao
de Seu poder. O fogo no aparece num local fixo como na lareira grega ; ele est onde
Deus est, ou onde Deus o coloca. Desse modo, o fogo simboliza a presena divina; o poder
maior, no compartilhado, no distribudo eqitativamente.
Na cosmologia auwe-xavante no existe um Deus Criador do universo, bem como de
animais e vegetais. Enquanto os homens nascem do arco-ris e as mulheres, dos pauzinhos
pintados (Mito do Arco-ris), so os rapazes Parinaia que, por meio de sua prpria
transformao, criam vrios animais e vegetais. Muitos outros seres da natureza tambm
seriam criados pela transformao de antigos Auwe. Talvez por isso no tenha havido um
momento em que a eles foi delegado poder sobre a Terra e sobre as outras criaturas ao
contrrio, nos mitos existe uma certa igualdade primordial entre os animais e os homens,
um ntimo parentesco; como possvel perceber, inclusive, no mito do rapaz, da ona e do
fogo narrado a seguir.
O rapaz, a ona e o fogo
Um adolescente saiu com seu cunhado para caar filhotes de arara. No
alto do rochedo encontraram um ninho e dispuseram-se a tirar os filhotes.
Para subir, o rapaz utilizou-se de um pau que o cunhado segurou. Disse que
no ninho s havia ovos. Mas, ao invs de jogar os ovos, ele atirou uma pedra
branca que o cunhado tentou aparar, ficando com isso machucado.
Enraivecido por haver sido enganado, o cunhado retirou o pau,
deixando o outro sozinho a gritar e partiu. Aps vrios dias, o rapaz, j
faminto e sedento, choramingava. Enquanto isso seus avs resolveram
procur-lo. Foi encontrado pelo velho av, que aps receber os filhotes de
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
186
arara e com-los imediatamente (crus), ajudou o neto a descer e levou-o nas
costas at o rio para que pudesse matar a sede. Para matar sua fome, o av
colocou-o novamente nas costas e levou-o para sua casa que ficava
afastada da aldeia e deu-lhe carne assada. Isso era novidade para o rapaz,
visto que at ento seu povo comia a carne que havia secado e esquentado ao
sol.
Aps comer e beber vontade, a av chamou-o para que viesse
sentar-se ao seu colo para que ela pudesse catar-lhe os piolhos. Quando
apanhava um piolho, a velha abria bem a boca assustando o neto e fazendo-o
gritar de medo. A mesma cena voltou a repetir-se e foi relatada ao av. Esse,
ento, preparou uma varinha de butirana para o neto fincar na boca da velha
quando isso acontecesse novamente. Assim, quando isso voltou a acontecer,
o neto fincou o pau no centro da boca da av com bastante fora; ela
comeou a gritar, transformando-se em tamandu e correndo em seguida
para o mato, onde passou a viver comendo formigas.
Da a algum tempo, sentindo saudades de sua famlia, o adolescente
pediu ao av que o deixasse ir. O velho, ento, deu-lhe bastante carne
assada, recomendando-lhe, porm, que nada contasse sobre a existncia do
fogo. O rapaz prometeu fazer isso, mas escondeu, entre a carne, um carvo
aceso e em seguida voltou aldeia.
Seus pais ficaram contentes em rev-lo e ele exigiu que o cunhado
fosse expulso de casa. Isso feito, o rapaz entregou a carne de queixada
assada, que foi distribuda para toda a aldeia. Todos ficaram estupefatos em
constatar que a carne trazida pelo adolescente era assada, pois at ento estes
no conheciam o fogo. Encontraram tambm o carvo aceso e o rapaz foi
convocado a explicar esses fatos.
No incio ele se recusou a contar o segredo do av, mas depois
revelou tudo. Imediatamente os lderes da tribo reuniram-se no centro da
aldeia e decidiram roubar o fogo do velho. Para tanto se dispuseram ao
longo do caminho, o fogo seria levado em um tronco que seria passado de
um para outro at a aldeia essa foi a primeira corrida do buriti realizada
pelos Auwe-xavante.
Tendo o seu segredo roubado, o av virou a ona pintada.
(Adaptao do texto de GIACCARIA e HEIDE, 1975, p. 13/14)
Esse mito nos traz, entre outras coisas, a criao da ona e do tamandu pela
transformao de antigos Auwe , a instituio da corrida de buriti e a conquista do fogo.
Ao contrrio do que ocorre nas cosmologias anteriores, o fogo no foi uma doao.
Ele tambm no se fez presente por meio da criao, mas do roubo. Desse modo, o mito do
rapaz, da ona e do fogo no ressalta apenas o poder criador dos Auwe, mas principalmente a
sua astcia, sua capacidade de reconhecer a utilidade e a importncia do fogo e de, em
conjunto, elaborar e executar o plano para obt-lo. A partir de ento, o fogo teria se tornado
no apenas um modo de amaciar a carne e outros alimentos, mas tambm uma fonte de
iluminao e, ainda, uma fonte de calor. Nos ritos o fogo mantm um importante lugar
simblico, pois, alm de servir para cozinhar os alimentos a serem ofertados e/ou
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
187
compartilhados, a fogueira a referncia, o ponto central das casas e da aldeia portanto,
do mundo auwe em torno do qual ocorrem as danas rituais; em torno do qual se congrega
a assemblia que decide a vida da tribo, o que nos lembra a presena de Hstia nos festins e os
debates na gora. principalmente nessas duas ltimas funes que o fogo aparece nos
desenhos auwe. Assim, ele se torna smbolo da comodidade compartilhada igualmente entre
os membros da famlia e, tambm, do poder compartilhado pelos membros da tribo o que
torna o war comparvel gora.
De modo geral nesse item destaca-se, por um lado nas cosmologias gregas e crist-
ocidental o ser humano como herdeiro de um poder roubado dos deuses ou dado por Deus
e, por outro, na cosmologia auwe, um poder nascido nas/com as pessoas, que so seres da
natureza como os outros animais. Encontramos, assim, uma polarizao na posio dos seres
humanos frente ao mundo, natureza e aos animais. Num plo, os seres humanos,
representantes ou seguidores da divindade, possuem poder sobre a natureza e as outras
criaturas, podendo, portanto, subjug-las e domin-las. Num outro plo, animais e seres
humanos so partes de um todo, no cabe a estes ltimos dominar, mas cuidar para que a
convivncia ocorra da melhor maneira possvel. Por sua vez, nos trs casos, o fogo aparece
como um smbolo poderoso. Nas cosmologias gregas, em primeira instncia, ele
instrumento para dominar e subjugar a natureza e os animais. Depois, torna-se smbolo da
igualdade entre os homens, smbolo do poder dividido. Na cosmologia crist-ocidental o fogo
, principalmente, smbolo do poder divino. Para os Auwe o fogo smbolo de um poder
compartilhado.
Mas lembremos que uma questo intimamente relacionada do poder a que se
realiza acerca do discurso ela poder nos levar, mais tarde, a reflexes interessantes.
Figura extrada de Schuster (2001, p. 13)
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
188
6.2.4 Mitos, discursos verdadeiros e discursos sobre si mesmo
Foucault (1971) adverte que na atividade cotidiana, banal, dos discursos existem
poderes e perigos que sequer adivinhamos: lutas, vitrias, feridas, dominaes e servides so
atravessadas por eles. Por essa razo, em toda sociedade a produo do discurso
controlada, organizada e redistribuda, simultaneamente, por um certo nmero de
procedimentos cujo papel exorcizar-lhe os poderes e perigos, refre-lo.
Essas formas de constrangimento organizam-se em torno de contingncias histricas
que, salienta o autor, no so apenas modificveis, mas esto em perptuo deslocamento, visto
que so sustentadas por todo um sistema de instituies que as impem e reconduzem por
meio de alguma violncia. Entre esses procedimentos Foucault (1971) coloca a excluso por
meio do discurso: a oposio entre o falso e o verdadeiro a vontade de verdade.
As cosmologias gregas revelam-nos as paulatinas transformaes sofridas pelo seu
discurso verdadeiro aquele pelo qual se tinha respeito e temor e ao qual era necessrio
submeter-se. Essas transformaes ocorreram no perodo entre o nascimento dos poemas de
Homero e Hesodo e a filosofia platnica. At as cosmologias gregas do sculo VI de
Tales e Anaximandro o discurso verdadeiro era pronunciado por quem de direito e
segundo o ritual requerido. Era um discurso que falava sobre o que era justo e atribua a cada
um a sua parte; profetizando o futuro, ele no apenas anunciava o que deveria acontecer, mas
contribua para a sua realizao por meio da adeso das pessoas que ajudavam esse destino a,
efetivamente, acontecer.
A partir de Anaximandro a verdade comeou a modificar-se: ela no estava mais no
ritual, naquilo que o discurso era, ou no destino que gerava, mas sim no que dizia, isto , no
seu enunciado. Assim, ressalta Foucault (1971), a verdade deslocou-se do ato ritualizado de
enunciao, eficaz e justo, para o prprio enunciado. Esse discurso procurou dissociar-se do
poder concentrado nas mos de poucos para tornar-se um discurso construdo, discutido,
distribudo em praa pblica na gora. Isso permite dizer que o discurso verdadeiro, na
cultura apolnea, construdo a partir mais da reflexo do que da observao; e avaliado por
todos segundo o seu sentido, a sua forma, o seu objeto e a sua relao referncia.
Por sua vez, as culturas ocidentais faustianas criaram, segundo Foucault, novas
formas da vontade da verdade. Essas novas formas, diz ele, no coincidem com as clssicas
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
189
nem pelo que pem em jogo, nem pelos domnios de objetos aos quais se dirigem, nem
tampouco pelas tcnicas em que se apiam. Foucault (1971) identifica, no sculo XVI, o
aparecimento de uma vontade de saber que impunha ao sujeito que conhece uma certa
posio, um certo olhar e uma certa funo ver em vez de ler, verificar em vez de
comentar. Essa vontade de saber prescrevia o nvel tcnico em que os conhecimentos
deveriam investir para serem verificveis e teis. Ela se apia numa base institucional e ao
mesmo tempo reforada e conduzida por prticas como escolas, sistemas de livros, de edio,
de bibliotecas, de laboratrios. Entretanto, essa vontade de saber reconduzida de maneira
mais profunda pela maneira como o saber disposto numa sociedade, como valorizado,
distribudo, repartido e, de certa forma, atribudo. Assim, os discursos, agora
institucionalizados, tendem a exercer presso e poder de constrangimento sobre outros
discursos. Neles, a vontade de verdade mascarada, e vemos uma universalidade, e no uma
prodigiosa maquinaria destinada a excluir. Desse modo, os discursos verdadeiros na cultura
faustiana so proferidos por poucos os especialistas no assunto. A validade desses
discursos baseia-se no uso de tcnicas de observao cientfica, de fundamentos lgico-
matemticos e de referncias que so avaliadas pelos seus pares.
Os discursos verdadeiros para os Auwe so principalmente os mitos, ou melhor, sua
cultura ou tradio. De fato, os ancios entrevistados por Shaker afirmaram:
No sabemos quem criou esse cu, no sabemos tambm a histria do
pensamento do cu. No acreditamos que o cu vai cair em cima do povo,
como o padre fala, que o mundo vai acabar. Acreditamos no jeito que
nossos ancestrais contaram, que o cu duro e fecha to rpido; que o cu
se criou para proteger o povo, ento no tem jeito do mundo acabar.
(SHAKER, 2002, p. 87)
Nessa fala eles deixam claro qual o seu discurso verdadeiro: aquele que se d a partir
de seus ancestrais. H que ressaltar, entretanto, que a dinmica do encontro entre as culturas
indgenas e as costumeiramente chamadas culturas ocidentais tem dado aos discursos
verdadeiros dos Auwe-xavante caractersticas diferentes das tradicionais. Alguns sonhadores
e contadores de histrias, mais influenciados pela convivncia com catequistas cristos,
acreditam que Deus (Dapotowa ou Aptowe) teria o poder de fazer o cu cair, quebrado em
pedaos. Jernimo diz que Ele iria efetivamente faz-lo, no fosse a sua interferncia:
Lembrem-se bem das minhas palavras. Vo se lembrando bem de minhas
palavras. Fui eu que cortei para que o cu no casse. J estava para cair
mesmo. Porque j estava cansado. Cansaram-no demais. Cairia em pedaos
sobre os homens. Foi por minha causa que no aconteceu. Eu que defendo
frente de Aptowe. assim que vivo nele.
(Sonho de Jernimo relatado a GIACCARIA E HEIDE, 1975).
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
190
Alm dessas mudanas, no podemos esquecer aquelas que ocorrem no interior da prpria
cultura, em decorrncia de seu dinamismo. Assim, de maneira geral, observa-se que na
atualidade os discursos verdadeiros desse povo se fundam nas histrias antigas narradas pelos
seus ancestrais, mas tambm nos sonhos dos velhos, nas observaes e nas reflexes que se
do a partir do contato intercultural. Sua verdade , portanto, mista e profundamente mtica. O
discurso verdadeiro, em sua parte ritualizada, partilhado por meio da educao tradicional,
principalmente no H, a casa dos adolescentes. Na praa central ele se torna pblico, pode ser
proferido por qualquer homem iniciado e smbolo do poder compartilhado
75
. H que
salientar que nesse momento do discurso se manifesta tambm o saber-poder daqueles que
detm conhecimentos do branco como os professores e os auxiliares de enfermagem.
Ao observarmos os diferentes modos de discurso de verdade, notemos que eles
tambm nos revelam algo sobre a relao do sujeito consigo mesmo e com os outros. Importa
ainda lembrar que tambm nesse caso se prev o exerccio do poder por parte de quem ouve e
julga aquele que absolve ou condena.
Nesse sentido, Prado Filho (2006, p.142) afirma que Foucault teria chamado a ateno
para a existncia da parrehesia na antiga Grcia. Uma prtica comum entre os gregos do
sculo VI a. C., a parrehesia pode ser entendida como um discurso a respeito de si mesmo
da ordem da sinceridade, da autenticidade e da expresso da verdade sobre si mesmo
76
.
Sendo uma atitude esperada por parte de todo bom cidado, ela assumia o sentido de uma
qualificao moral, de uma tica e de um caminho para a democracia. Essa prtica era
tambm uma expresso de coragem, visto que a confisso do cidado sobre seus pensamentos
e aes poderia levar, em alguns casos, perda de amizades, de prestgio, de fortuna e at
mesmo da vida. Prado Filho ressalta ainda que a parrehesia existia entre os antigos gregos
como arte de vida e de cuidado de si e que ela era utilizada como tcnica de guia espiritual
que poderia ser utilizada em trs domnios: o do conhecimento e ensino de verdades sobre o
mundo e a natureza questo epistmica pensar sobre as leis da cidade questo
poltica e para fazer uma reflexo sobre a verdade, os estilos de vida, as ticas e estticas
75
Note que isso no se aplica s mulheres, o poder do discurso feminino restrito ao interior das casas e s
indiretamente est presente no war. No se pode tambm deixar de considerar as alianas que se firmam no
interior do grupo dos homens com direito a voz na assemblia.
76
Notemos que, enquanto todos devem se submeter aos discursos verdadeiros, o discurso sobre si mesmo de
carter pessoal mas construdo no interior de prticas sociais. Desse modo, ele diz respeito ao governo de si
mesmo; fixao de normas pessoais de conduta; s reflexes que cada pessoa faz sobre a sua prpria vida; ao
discurso que conduz cada pessoa na sua arte de viver e que, embora constitudo na relao com um discurso
verdadeiro, permite tecer crticas a esse discurso para, ento, desenvolver oposies a normas, leis e atitudes
dominantes, possibilitando aes transformadoras.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
191
da existncia. (PRADO FILHO, 2006, p. 142). Nesse caso, quem absolve ou condena so os
outros cidados.
O conhecimento de si, a verdade sobre si mesmo, na cultura faustiana assume,
historicamente, outra face. Produzida pelo cristianismo, seus princpios fundamentais podem
ser descritos como: conhea-te a ti mesmo e ocupa-te de ti mesmo, e no: cuida de ti
mesmo, como na cultura grega antiga. Essa prtica modifica radicalmente a questo tica
com relao quela presente na cultura apolnea.
E o conhecimento de si, agora, deixa de atender ao modelo pedaggico grego,
para submeter-se aos princpios de obedincia crist, de submisso total do
discpulo em relao ao mestre como condio de acesso verdade de si
mesmo, que deve ser conforme a verdade de um deus antropomrfico.
(PRADO FILHO, 2006, p. 143).
Nesse caso, a verdade sobre si mesmo enunciada aps o exame de conscincia, por
meio das prticas de confisso dirigidas s autoridades da Igreja
77
. Assim, eram os
representantes de Deus que, em ltima instncia, condenavam ou absolviam. Mas esse modo
de conhecimento de si no se circunscreveu ao domnio religioso. Foucault mostrou que as
prticas confessionais expandiram-se inicialmente em processos inquisitoriais, depois
jurdicos, policiais, pedaggicos, familiares, mdicos, psiquitricos, psicolgicos e
psicanalticos. Mas, assinala Prado Filho (2006, p.144/145), as prticas confessionais
modernas, contemporneas, inscreveram-se numa grande diversidade de registros discursivos
de cunho cientfico, perdendo visibilidade quanto s suas provenincias. , pois, a partir
dessa raiz, e com essa invisibilidade, que elas se fazem presentes tanto no contexto da
produo cientfica quanto no processo educacional no s escolar, mas tambm no mbito de
outras instituies.
No caso dos Auwe, o discurso sobre si mesmo aproxima-se do observado entre os
gregos quanto forma de enunciao; mas dele afasta-se quanto validao. O discurso
enunciado na praa, pelos homens iniciados, para os outros membros do conselho. Os
objetivos so, por um lado, a participao poltica e, por outro, a boa (con)vivncia entre os
membros do seu povo. As conseqncias do discurso podem ser o compartilhamento e a
resoluo de problemas ou, talvez, o acirramento de diferenas, a formao de diferentes
faces e, at, a ciso da tribo. A validade no est no enunciado em si, mas no confronto
deste com as aes dirias daquele que profere o discurso. Por sua vez, o julgamento do
discurso est a cargo das lideranas e faz-se notar, em especial, o papel dos velhos,
77
Para uma viso mais atual das prticas confessionais na Igreja Catlica, veja Comblin (2007).
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
192
considerados mais sbios para essa funo principalmente pelo seu conhecimento a
respeito das tradies e da cultura.
Penso que formas semelhantes de enunciao e validao usadas pelos Auwe tambm
esto presentes em outras culturas indgenas e que, talvez, esta seja uma das razes para o
problema da construo de silogismos clssicos, como apontado por Ferreira (2005, p.93).
Nos silogismos clssicos a validade est no enunciado, na sua construo que a no-
contradio deve ser evitada. A no-contradio, no caso dos Auwe (e creio que tambm
noutros casos), julgada tomando-se, por um lado, o que se enuncia e, por outro, o que se
mostra na (con)vivncia o que inclui a vivncia mtica.
Note-se, finalmente, que ao discurso verdadeiro de um povo esto relacionados seus
valores, os princpios que orientam suas aes cotidianas.
6.2.5 Mitos e Valores
Jung procurou convencer-nos de que as compreenses que construmos sobre algo so
compostas no apenas de sentidos, mas tambm de valores, que por sua vez se baseiam em
sentimentos (ver captulo 3). Desse modo, ele nos levou a reconhecer que o pensar e o
conhecer (e tambm o aprender) envolvem tanto a razo quanto a emoo, as sensaes, a
intuio, os gestos, a imaginao e os sonhos. Esse foi um dos motivos pelos quais, ao
explicitar neste trabalho uma determinada concepo de Etnomatemtica, citei tambm os
seus vnculos com os valores do grupo que a criou e recriou. Esta foi uma das formas que
encontrei para expressar o reconhecimento de que h um no-saber presente nos saberes, isto
, que muitos saberes no se expressam com palavras, e uma das razes para isso que eles
pertencem ordem sagrada do silncio, da dana, ou da msica, como nos mostram os Auwe
ao entoar respeitosamente msicas da tradio que nunca podero ser traduzidas e s
podem ser compreendidas no relacionamento entre o humano e o sagrado.
Mas, em especial, os mitos e ritos remetem-nos s energias dos ancestrais e s
divindades inclusive com os castigos que impuseram e ainda impem queles que
transgridem ou j transgrediram regras. Desse modo, eles impem e sacralizam o respeito.
Assim que nas sociedades indgenas, os velhos, maiores conhecedores dos mitos e ritos, tm
suas falas respeitadas. Entretanto, Gauthier (1999) ressalta que respeito faz rizoma com medo,
autonomia, alianas, sagrado e complementaridade que, juntos, em cada sociedade ou nicho
sociocultural, instituem regras diferentes para avaliar o certo e o errado, gerando diferentes
olhares e modos de ser ou de estar-no-mundo. Assim percebemos que, de fato, os mitos, os
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
193
valores e os conhecimentos de um povo esto intimamente relacionados. Para falar sobre o
assunto recorri especialmente a Goergen (2005), na discusso que ele faz sobre o conceito de
valor.
De incio, adianta ele, devemos ter claro que existem muitos sentidos para o termo
valor. O uso filosfico do termo s comeou quando o seu significado foi generalizado para
qualquer objeto de preferncia ou de escolha, a partir dos esticos. Foram eles que chamaram
de valor os objetos de escolhas morais e introduziram o termo no domnio da tica. Os
esticos distinguiam os valores entre obrigatrios e preferenciais, mais tarde designados,
respectivamente, como valores intrnsecos ou finais e valores extrnsecos ou instrumentais.
Posteriormente, explica Goergen (2005), a noo subjetiva de valor foi retomada por Thomas
Hobbes (1588-1679), que dizia que o valor no absoluto, mas depende da necessidade de
um juzo. A partir da, Immanuel Kant (1724-1804) e David Hume (1711-1776) atriburam
religio o ponto de vista avaliativo sobre os valores e, filosofia, o ponto de vista intelectual,
explicativo, do conhecimento acerca deles. Para Kant, assina Goergen (2005), o valor era o
dever ser de uma norma (portanto, um a priori) que pode ou no ter realizao prtica, mas
que atribui verdade, bondade e beleza s coisas julgveis. Considerava-se que o sentido das
coisas era a sua referncia ao mundo dos valores que assim elas se inseriam na histria e
eram realizadas. Desse modo se acreditava, por um lado, que os valores estavam presentes nas
atividades na forma de um dever ser e, por outro, que eles eram independentes das culturas:
tinha-se, ento, que um valor era uno, universal e eterno. Entretanto, essa forma de pensar
seria modificada.
Nicolai Hartmann (1882-1950), diz Goergen (2005), afirmou que os valores eram
relacionais, mas independentes da opinio do sujeito. Assim, eles continuaram a ser
considerados imutveis e absolutos. Isso s se modificaria a partir da obra de Nietzsche e do
escndalo provocado por sua inteno de inverter os valores tradicionais. Ele estabeleceu a
distino entre um conceito metafsico ou absoluto e um conceito empirista ou subjetivista de
valor. Na primeira acepo, explica Goergen (2005), valor assume um status metafsico,
independentemente de sua relao com os seres humanos, enquanto que no segundo sentido
de valor se inclui sua relao com a historicidade humana.
Goergen (2005) conta-nos ainda que para Wilhelm Dilthey (1833-1911) era a prpria
histria, entendida como relativa, como instituio humana, que institua e determinava os
valores, bem como os ideais conforme os significados se estabeleciam. Desse modo, ele
discordava da existncia de valores absolutos, dizendo que s existem aqueles que os seres
humanos reconhecem como tais em determinadas circunstncias. Tambm essa, diz ele, era a
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
194
posio de Max Weber (1864-1920), que via na histria uma incessante criao de valores.
Por sua vez, John Dewey (1859-1952) tambm reconhecia a pluralidade de valores, adotando
posio semelhante. Assim, conclui Goergen, podemos perceber que o conceito de valor no
unnime, varia de autor para autor e de poca para poca. De todo modo, ele v a
possibilidade de entendermos os valores de um povo como os princpios consensuais, dignos
de servir de orientao para as decises e para os comportamentos ticos das pessoas.
Em especial, lembra-nos Goergen (2005), Nietzsche chamou ateno para o fato de
que o mito cristo teria levado a civilizao faustiana ocidental-europia assuno da
renncia e do ascetismo como valores fundamentais, enquanto os antigos mitos gregos teriam
levado afirmao da vida e sua aceitao dionsica.
Realmente, a mitocosmologia grega levou-os a enfatizar o presente e a buscar o prazer
e a satisfao das paixes, mas tambm a valorizar a prudncia e o saber o que mais tarde
os levaria filosofia. Por sua vez, o cristianismo propiciou o estabelecimento de valores
(ascetismo e renncia) que se acreditava capazes de levar salvao futura, dando assim
nfase vida eterna. Entretanto, na Idade Mdia a honra passou a ser o maior valor.
Posteriormente, com a ascenso da burguesia, os valores da cultura faustiana passaram a
relacionar-se principalmente ao trabalho assduo e honesto e ao dever, embora esses no
tivessem sido de todo desvinculados da vontade divina.
Os valores na cultura grega eram tratados segundo uma vertente individualista, isto ,
segundo a idia de que a sua instituio decorre de uma reflexo pessoal e autnoma sobre as
decises prticas mais corretas. Por sua vez, inicialmente, os valores decorrentes da
mitocosmologia crist pautavam-se no social, na nfase do consenso coletivo, no
enaltecimento de virtudes que favorecessem a vida comunitria. Durante a Idade Mdia
considerava-se uma vertente mista, tanto individual quanto social.
Hoje se fala em crise de
valores devido a uma individualidade extrema.
Mas os valores decorrentes da mitocosmologia auwe-xavante no podem ser
entendidos nem segundo uma vertente individualista, nem numa vertente comunitria. Penso
que mais correto afirmar que a sua lgica no binria levou os Auwe-xavante a no
dicotomizar os interesses do indivduo com os da comunidade. No war a assemblia que
ocorre duas vezes ao dia no centro da aldeia so discutidos problemas que se referem tanto
coletividade quanto aos indivduos. O cuidado com as crianas como dever de todos; a
compreenso coletiva de propriedade, da partilha ritual de alimentos; a socializao do
produto de caadas, dentre outros, buscam conciliar tanto o bem-estar social quanto a
realizao individual.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
195
Busca-se viver o presente, mas um presente que no se dissocia do tempo mtico.
Observa-se, sobretudo, que os valores no so fixados a partir da busca pelo prazer como
no caso dos gregos ou na preocupao com o dever, caracterstica da cultura faustiana, mas
sim a partir da solidariedade entre os membros do grupo e destes para com a natureza. A
partir dessa solidariedade, o respeito coloca-se como valor maior respeito natureza nos
seres humanos e fora deles. A criana aprende que no s as pessoas, mas tambm os animais
e as estrelas; a chuva, as plantas, as rvores e as almas devem ser ouvidos e respeitados. Em
sua educao tradicional, sobretudo os rios so valorizados.
Os noivos vo ao rio tomar banho para gerar belas crianas, os wapt (adolescentes)
personagens centrais de vrios mitos e ritos dependem do rio para a principal cerimnia
pela qual passam a furao das orelhas, como j exposto anteriormente. Alm disso, nos
grandes rios vive um povo bom, que trouxe, inclusive, algumas espcies de alimentos aos
Auwe, como relata o mito Wapt Robtsamiwa, que ser analisado mais adiante. Mas, se nos
grandes rios moram os seres bons, nos lagos moram os ruins, como podemos observar na
sntese feita por Giaccaria e Heide a partir da narrativa de Jernimo.
As mulheres e os donos das lagoas
Certa vez os xavante saram para caar e acamparam perto de um
lago. Um dos caadores matou um tamandu, criao de UU. Levou para
casa e com sua famlia e amigos comeu sua carne. Tambm os outros
caadores voltaram com abundante caa e a prepararam para comer, depois
se deitaram para dormir.
Enquanto isso suas mulheres foram cata de coco de indai. Na
volta, estando com sede, resolveram tomar gua no lago de UU. Uma delas
ficou tomando conta dos cocos. Ao chegarem l, a gua comeou a
estremecer e apareceram cabaas vermelhas. As mulheres mergulharam
para peg-las, mas afundaram e no retornaram mais.
A mulher que havia ficado tomando conta dos cocos foi avisar os
homens. Estes se levantaram, menos os que haviam comido a carne do
tamandu, pois estavam mortos. Os outros foram procurar suas mulheres.
Com seus ritos secaram a lagoa para reencontr-las.
Retornaram todas com o rosto coberto de preto pelo barro. Em
seguida os homens voltaram aldeia, enquanto elas ficaram para se lavar,
mas morreram todas.
Os UU vivem no fundo dos lagos. A gua forma uma abbada.
Embaixo seco. Eles so os donos dos ventos que fazem redemoinhos por
cima das guas.
(GIACCARIA e HEIDE, 1975, p. 181-182)
Ainda para ressaltar o papel dos rios junto aos Auwe-xavante, coloco a seguir o mito
da criao do homem branco, separado dos Auwe os homens verdadeiros por um rio.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
196
A origem dos no-ndios
Os homens foram caar com as mulheres. Quando acamparam no
lugar onde havia muitas indais, comearam a tirar castanhas. No primeiro
dia pararam no comeo. No segundo dia pararam. No terceiro dia pararam
tambm. No quarto dia pararam. No quinto dia ficaram ainda parados no
mesmo lugar. A ficaram parados muito tempo para tirar castanhas de coco.
As mes davam aos filhos as castanhas que tiravam. Uma dava
tambm para Tserebutuw, que estava pedindo muito. O irmozinho foi
chamado para ir buscar as castanhas. Trouxe para ele e lhe entregou. Deu
sem nada falar.
Ele acabou com as castanhas.
- J acabei de comer tudo. V buscar mais. A me j tirou bastante?
- Sim, j tirou muito.
A me deu ao seu filho para levar ao irmo.
- Tome e leve para o Tserebutuw.
Este comeu as castanhas. E acabou tudo.
- Amanh me traga outra vez.
- Sim, falarei para a me.
- Me, Hwa est pedindo castanhas.
- Tome e leve para ele.
Ele levou.
- Est aqui - e entregou.
- Voc come tudo e no guarda nada?
- Estou comendo tudo. muito gostoso. Acabei com todas.
E trouxe mais.
- Hwa, toma as castanhas.
- Voc tem que deixar sobrar e no acabar com todas. Os outros
esto pondo dentro dos tsir (cestinho) e por que voc est acabando com
tudo? No vai guardar nenhuma? E ns, o que vamos comer?
- Vocs comero s o que sobrar. V buscar mais.
- O Tserebutuw est pedindo castanhas.
- Tome, leve para ele.
Ela dava ainda com pacincia.
- Est aqui, toma. Voc deve guardar um pouco para outro dia.
- muito gostoso. Por que vou guardar um pouco?
E comeu tudo. Outra vez, no dia seguinte:
- Voc no me trouxe castanhas?
- Eu vim aqui para lhe perguntar.
- V buscar.
- Eu vou.
E trouxe para ele.
- Tome. Voc tem que deixar um pouco porque a me j est com os
dedos dodos de tanto tirar castanhas.
- Ah! No tem nada. Os cocos so pequenos, como que est
cansada?
- a casca que faz doer os dedos quando segura.
A me entregou mais.
- Leve castanhas para seu irmo, agora j dei bastante para ele. Ser
que ele guarda um pouco?
- No, ele est comendo tudo.
- No d disenteria nele? Como que para ele to gostoso?
- assim mesmo. Come tudo.
- D novamente em seguida para ele no se zangar.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
197
De manh foi a casa dos wapt e trouxe para ele.
- Agora pelo menos voc tem que guardar, a me est impaciente.
- Porque ela est zangada? Ela deve quebrar mesmo para os filhos.
E comeu. E trouxe outra vez dentro do remre (esteirinha) para ele:
- Tem que guardar um pouco para outra hora. Voc s parar
quando seu estmago no agentar mais? Ela deve carregar muito como as
outras mulheres.
- J comi tudo. V buscar mais.
- Ora, como est sempre pedindo? Est s pedindo? S pedindo, s
pedindo? Toma, leva para ele.
Antes ela deu s castanhas.
- Toma, deixe um pouco para outra hora.
- Porque voc est falando tambm assim?
- O que vamos comer quando chegarmos em casa?
- Vocs quebram coco para comer.
E acabou com todas as castanhas.
E o irmo chegou de mos vazias.
- Porque no trouxe as castanhas?
- Voc s pede castanhas.
- Volte e traga para mim.
- Eu vou, mas a me j est falando forte.
- Me, Tserebutuw quer castanhas.
- Ele vive s pedindo, aquele Tserebutuw o que pensa que ? Tome
e leve para ele.
- Ela j cansou, manda pela ltima vez.
Falei para que ele no coma tudo. Ele no deixou nenhuma, comeu
tudo outra vez.
- Voc no trouxe nada para mim? Devia trazer mais castanhas.
- Voc s sabe pedir, estou cansado de atender a seus pedidos.
- Tome, leve para ele.
- Comilo de castanhas! Tome, coma s estas. Ela est impaciente.
- Porque ela est zangada?
Ele vai comendo, comendo, comendo, at que acertou...
Vai roendo, roendo, roendo o que ser que estou roendo?
E a engolindo saliva, engoliu muita saliva. E percebeu que no
eram castanhas.
- Porque ela fez isto?
O amigo perguntou:
- Amigo, o que ?
- aquela mesma. Datsipto dz pio teh (clitris).
- Amigo, voc havia pedido muitas vezes. No devia ter feito assim.
Quando a gente pede muitas vezes, os outros perdem a pacincia. Sabe o que
foi? Voc pediu muito. Ns todos devemos agentar sem pedir castanhas.
Ela que deve trazer sem que ns fiquemos pedindo. Deixa ver!
- ela mesma, no tem outra. ela mesma que a me misturou com
as castanhas.
- Deixe ver mais de perto.
Ele deixou.
- Est aqui amigo, tome.
- Vou guardar para mim.
- Para qu?
- No sei.
Ele colocou embaixo do travesseiro. Ele cuspia e refletia, pensando
e querendo ser waradzu (no-ndio). noite a barriga dele inchou. De dia
ele se afastava para o mato.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
198
O amigo dele chamava:
- Amigo, aonde voc vai? Fique aqui conosco. No deve ir para l.
Tambm as mulheres falavam:
- Voc tem que dar comida para ele.
- Para que? Fique sem comer, vive s pedindo.
- Como o Tserebutuw est se arrastando!
- Onde est ele?
- Ele no sentiu a dor quando ela tirou?
- Tserebutuw est chegando. Uma pegou num pau e bateu nele,
depois outra.
Ele chorou, chorou. Enquanto chorava dizia:
- Voc primeiro, voc primeiro...
- Se eu sou o primeiro, o que vai fazer para mim? Tem alguma coisa
para vingar em mim?
De manh passou para outras casas remexendo as cascas quebradas
dos cocos. Depois foi a outras casas. Da voltou atrs. A amiga dele deu-lhe
comida.
Combinaram (os membros da tribo) para mudar-se daquele lugar.
De manh partiram cedo, Tserebutuw ficou. E pararam no lugar marcado.
No dia seguinte partiram outra vez. No dia seguinte, outra vez partiram. At
que chegaram onde havia muitos cocos de indai. A acamparam.
- Aqui vamos ficar, tirando castanhas de coco, pois tem muito
mesmo.
O pai falou:
- Vocs no vo voltar para ver seu irmo?
Eles foram. Chegaram ao acampamento. Eles passaram casa por
casa; procuraram, mas no acharam ningum. Os irmos juntaram-se.
- No achamos ningum.
- Deve ter ido para outro lugar.
- E essa cachoeira?
- Ele deve estar ali, deve estar ali.
- Porque a gua est caindo bem junta?
- Deve estar na gua.
De manh cedo foram cachoeira. E saa uma fumaa branca de
fogo. E as duas mulheres estavam juntas com o marido. Um voltou para
contar.
- Ele est aqui, est com duas mulheres.
- Irms de quem?
- aquela mesma coisa que a me deu para ele, com isso ele criou
duas mulheres.
- Vamos conhec-las.
Desceram ao encontro do irmo.
- O que vieram fazer aqui?
Eles chegaram onde o homem estava, escutaram golpes...Toc. Toc.
Toc....
Eles tinham medo de armas de fogo. No era uma arma bem feita,
estava s experimentando.
- Viemos para ver nosso irmo.
- Venham aqui, os seus irmos chegaram para ver voc.
Ele saiu para fora.
- O que vieram fazer aqui?
- Viemos em procura de voc, o pai est chamando.
- Quando estava perto eles no me quiseram. Porque ele mandou
vocs aqui?
O irmo respondeu:
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
199
- No sei, no sei, porque mame fez aquela coisa.
- Porque no sabe? Vocs desam aqui na gua s para bater na
cabea.
Bateu uma vez. Primeiro bateu na cabea de um e o cabelo deste
cresceu. Veio o outro. E o cabelo dele cresceu tambm. Depois com o
terceiro aconteceu a mesma coisa. E falou com eles, mandou-os embora e
proibiu que voltassem. Mas eles voltaram.
- Eu os tinha proibido de vir at aqui. Porque vocs vieram at aqui?
E saiu das guas.
- Viemos porque ficamos com inveja dos cabelos compridos dos
outros.
- Eu havia avisado para que no viessem. Deviam ficar em casa. Eu
falei para vocs, ser que no entenderam?
- Est bem, est bem, no voltaremos mais. Viemos s desta vez.
Ento ele foi chamando cada um deles e batendo a cabea na gua.
Os cabelos foram crescendo.
- O colega veio tambm para ficar com os cabelos compridos.
- Ento ele pode descer.
Ele sentou de joelhos. Os outros ficaram de joelhos tambm.
Primeiro esquentou a gua. E comeou a bater: To, to, to, to, to...
Em vez de crescer o cabelo o homem comeou a ficar pequeno,
descia para baixo, descia para baixo, descia, descia...
O que estava sentado disse a ele:
- Como que estou diminuindo? Voc est batendo do mesmo jeito,
vim aqui para ter cabelos mais compridos.
E continuou a bater. J desceu bem baixo.
- O que est fazendo? Talvez esteja batendo com outra coisa. Batia
com cera (aptomri).
E o amigo ficou baixinho. Ele parou de bater. Pegaram no brao e
jogaram no barranco. Quando ele foi jogado comeou a pular como sapo.
- Era para que no acontecesse isso que eu no queria que viessem.
Ele havia se vingado daquele que primeiro lhe bateu.
- Fiz isso para dar medo a vocs. Vocs xavante no se metam mais
comigo, quando chegarem em casa no voltem mais aqui. Eu no estarei
mais aqui. Vou mudar-me para outro lugar, talvez vou sumir daqui.
Ningum venha aqui. Partam e no virem para trs.
Partiram. E chegaram entre os seus, entraram onde estavam os
wapt. Uma mulher pergunta:
- Onde est meu filho?
- V buscar seu filho. Ainda est na gua. Virou uma coisa, porque
vocs bateram nele.
- Quem aquela criana sentada frente da casa?
- No criana.
- Foi s porque est estragado.
Foi voc que bateu nele?
- No tem d do filho. por isso que ele falava quando batia: Voc
primeiro.
a palavra do amigo. A mim que o defendia deu-me a prova.
-Como deu medo, meu amigo?
- Ele vai aumentar os rios.
- As guas no vo ficar assim pequenas?
- Ele vai deixar o rio como o mar.
Agora ns temos medo, porque ele vai aumentar os rios, vai deixar o
rio imenso. No sei onde ele vai ficar quando aumentar e deixar as guas
como o mar.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
200
assim a palavra do amigo. E assim deu medo. Seu filho ficou
desobediente. Pode ir, agente a dor.
Tserebutuw se transformou. Fez crescer o rio que se transformou,
tornou-se imenso pore (mar), e ele ficou do outro lado.
(Adaptao da transcrio do conto de Jernimo, transcrito de GIACCARIA
e HEIDE, 1975, p. 215 a 226)
Assim, foi a partir da falta de solidariedade, da vontade insacivel de um adolescente
xavante que, num individualismo extremo, esquecia as dores da me e as necessidades dos
seus irmos, desrespeitando o equilbrio entre o individualismo e as exigncias que uma
vivncia conjunta impe, que nasceram os povos brancos. Foi um rio que permitiu a
construo das diferenas entre os xavante e os no-ndios; os cabelos compridos, por um
lado, a construo de armas por meio da experimentao, por outro, so marcas dessa
diferena. O rio (ou mar) delimita os espaos de cada um desses povos.
E hoje, no espao de suas aldeias construdas ao lado de rios, os Auwe procuram a
felicidade, notadamente por meio da solidariedade e do respeito, seu maior valor. Em seu
cotidiano, o prazer e os sentidos da dana, da msica, do alimento encontram-se em harmonia
com as normas e os deveres institudos pela razo, pela observao, pela reflexo e pelo
respeito , mas tambm comunicados sua alma, por meio da sua (con)vivncia mtica no
ambiente do cerrado mato-grossense e das mensagens deixadas por seus antepassados. O
smbolo primordial dos Auwe e o modo como estabelecem relao com a realidade levam em
conta esse respeito natureza nos seres humanos e fora deles.
Mas tomemos agora algumas outras categorias que emergiram nos estudos de
Spengler, quais sejam: arte, criao de sentido, smbolo primordial e ligao com a realidade.
Elas esto intimamente entrelaadas, tanto entre si quanto com as cosmologias mticas. Por
outro lado, o smbolo primordial de um povo, como definido por Spengler, no pode ser
plenamente descrito e faz-se presente em toda criao que envolve a sua cultura. Essa a
razo pela qual o mesmo smbolo primordial que Spengler apontou nas culturas grega e
ocidental pde ser observado em categorias analisadas aqui at o momento. Na verdade, o
prprio smbolo primordial da cultura auwe tambm tem se revelado de maneira
contundente; ainda assim, penso que vlido ressalt-lo. Posteriormente, tratarei tambm,
somente para o caso da cultura auwe, das categorias arte e criao de sentido, o que ser feito
de forma breve.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
201
6.2.6 Mitos, smbolo primordial e ligao com a realidade
O smbolo primordial auwe-xavante diz respeito nfase numa relao ntima entre:
a natureza, o sagrado /poder criador e o humano. Nesse smbolo primordial observa-se o
apreo circularidade. Por sua vez, na relao dos Auwe com a realidade, predomina um
espao qualitativo, no quantitativo, e uma temporalidade mista. Penso que ambos
smbolo primordial e forma de ligao com a realidade talvez fiquem mais claros a partir
de uma anlise do mito a seguir.
Esta a histria da criao da primeira anta, do tempo em que ainda
no existiam animais.
A me convidava o filho airepudu
78
: Vamos buscar buriti. O
filho aceitava o convite da me dele, aceitava sempre. Quando chegavam no
buritizal, enchiam a cesta. Quando enchiam, voltavam para trs, chegavam,
pronto. No dia seguinte, de novo, saam de novo, faziam a mesma coisa.
Toda vez a me levava aquele filho, convidava o mesmo, ele no negava.
Saem juntos, toda hora. Deve ser que eles j tm o pensamento do que vo
ser, o filho j sabia, no sei como que o filho nunca negava para a me. A
anta no cansa, a anta no cansa mesmo, a anta anda todos os dias, no sente
canseira. No tem descanso. Deve ser por isso. O filho no negava, no
sentia canseira. Foi assim, que estou contando, como iniciou. No dia
seguinte, de novo, outra vez. O pai desconfiou. Ele pensava: Por que os
dois esto sempre saindo assim no mato? Est acontecendo alguma coisa.
Ele falou para o filho mais novo: Filho, eu quero que voc siga sua
me, procure a trilha por onde eles se foram. Voc tem que ser beija-flor.
Ento o filho transformou-se em beija-flor e saiu rpido.
Ele procurou, procurou. O irmo estava pegando fruto de buriti de
novo, no buritizal, e colocando dentro da cesta. E falou para a me: Me,
essa folha de buriti est to bonita! Posso tirar?. Pode. O que voc vai
fazer com isso? O que voc vai comer com isso? Voc no vai tirar nada. A
me falou isso, ela j adivinhou o pensamento do filho, antigamente eles
tinham poder para isso. A me deve saber j tambm o que o menino ia fazer
com essa palha de buriti. J est sabendo. Os dois estavam fazendo sexo, e o
beija-flor voando acima deles reconheceu os dois. Quando acabou de ver foi
embora para casa, voltou. Foi assim.
79
O pai perguntou se ele tinha visto alguma coisa: Sim, eu pensei que
eles iam s pegar a fruta do buriti. Eles estavam fazendo sexo. Ento o pai
ficou bravo, muito bravo. Saiu rpido para pegar o talo de buriti. Amarrou
os talos para dar uma surra nos dois. Preparou para bater: Deixa eles
chegarem, vou dar uma surra nos dois, falou assim. Fica quieto a. J est
tudo pronto, tudo preparado, debaixo da esteira, tudo escondido, os talos de
buriti, e ele estava s esperando eles chegarem.
tardezinha eles chegaram trazendo buriti. O pai levantou, pegou
no brao do filho e bateu, bateu, bateu bastante, quebrando os talos de buriti
at deixar no toco. Pegou outra vareta, foi batendo, batendo, batendo
78
Menino que est se preparando para entrar no H, pr-adolescente com idade por volta de 11 anos.
79
Numa outra verso desse mito, sobre o menino que se transformou em beija-flor, Jernimo disse: Voltou
aonde deixou o arco. E foi para casa com o arco. (Talvez aquele arco fosse alguma coisa para se tornar beija-
flor).( GIACCARIA, B. e HEIDE, A, 1975a. p. 117). Assim, novamente, ele remete ao poder da madeira.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
202
mesmo, at deixar no toco tambm. Ento a me falou: Se tiver alguma
coisa que voc est sabendo, pode bater em mim!. Ele pegou no brao da
mulher, bateu, bateu bastante, s deixava o toco. Pegava outro talo e batia,
batia bastante mesmo. Ento ele soltou, tinha s o talo tambm. Os dois
chorando, chorando.
Quando eles terminaram de apanhar, escureceu. Ficou noite. Os dois
ficaram deitados, juntos. Esperaram escurecer. Todo mundo dormiu. De
mansinho, sem barulho, eles foram embora, saram escondido, fugiram. Eles
foram comendo buriti, por onde achavam aonde as mulheres tambm
coletavam. Demorou, no foi rpido assim. Um dia, as mulheres da aldeia
resolveram ir ao buritizal, pegar fruta. Iam em grupos, ento viram rastro de
anta. Voltaram e os homens perguntaram por que elas tinham voltado sem
buriti. Elas responderam que as antas estavam comendo todo o buriti, tudo
que caa, as antas comiam. Deram essa notcia: Ns vimos rastros de anta,
j deram nome de anta uhdo.
Ento o marido foi preparar flechas para matar os dois. Foi assim
que ele preparou a flecha. Esse o incio da caada, o incio do bicho
tambm. a primeira anta, antes no tinha anta. Ele preparou o arco,
terminou de fazer flecha, ele se pintou todo. Depois saiu, todo pintado.
Chegou no varjo onde tem buriti. Quando chegou, viu a trilha da anta.
Tudo pisado, correndo para c e para l. Viu se era trilha daquele dia: Essa
de hoje. Ento rastreou quando eles saram do cerrado. Ento ele
comeou a assoviar, assoviar, ih, ih. A anta atendeu. Ela veio correndo. A
fmea j estava com todo o plo de anta, a me tinha se transformado toda
em anta. Ele deu flechada e ela fez aquele barulho, uh! Ento vem o macho
tambm, ele deu uma flechada e o macho deu aquele grito humano, atsai! O
filho tinha s uma parte se transformado em anta, era metade bicho metade
humano. O pai no ficou com d no, matou mesmo. Quando ele terminou
de matar, gritou o grito quando mata anta: ah!ah!ah! Foi o primeiro grito de
aviso quando mata anta. Ele gritou e foi atendido. Da aldeia responderam,
ke! ke! ke! ke! Era um grito de quando mata anta, quando algum mata
anta, tem que gritar. Ento entenderam que tinha sido matada a anta e
responderam o grito dele. Ele foi respondendo, eles correram, correram l.
Chegou todo mundo. Distriburam as carnes. Foi o incio da distribuio das
carnes. Fizeram forquilha para assar. O comeo foi assim. Distriburam
todos os pedaos, fizeram cestas para levarem para a aldeia para as famlias
comerem. Assim o incio de levar as carnes para a aldeia, e na aldeia vo
comer tudo.
Quando chegaram, o filho mais novo, aquele que tinha virado beija-
flor, ficou contente, correndo, alegre. Perguntou para o pai dele: Pai, o que
isso? Que carne essa? a carne de sua me! Deu uma reposta forte,
o menino ficou sem graa, mas comeu.
Foi da a primeira criao da anta. Quando a anta fmea e o macho
morreram, do sangue dela que espalhou vo surgir as antas. Agora tem anta.
Foi assim a histria da anta.
(Adaptao do texto de SHAKER, 2002, p. 239 a 242)
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
203
Figura 5: obtida no site do Instituto Socioambiental.
Esse mito nos fala no apenas da criao da anta, mas tambm da primeira caada
anta, do surgimento do modo de aviso tribo, da resposta, da primeira diviso da carne dos
animais caados. A anta, assim como outros animais (ver o caso da ona e do tamandu em
mito anteriormente narrado), foi criada a partir da transformao de seres humanos. A me e o
filho mais velho transformaram-se definitivamente em antas, mas o filho mais moo, o beija-
flor, voltou a ser menino. Os Parinaia tambm se transformavam em animais e depois
voltavam a ser Auwe. O sangue derramado na terra deu origem a outras vidas: animal no
caso da me e do menino, e vegetal no caso dos Parinaia. Animais e vegetais nasceram a
partir dos Auwe-xavante; as histrias antigas comprovam a ligao entre estes e a natureza.
A criao de animais e vegetais deu-se a partir da prpria Terra, e no de um poder que est
no Cu; os criadores eram antepassados poderosos que viviam at o momento em que seus
poderes se manifestaram como qualquer Auwe.
A anta uma caa muito ambicionada pelos Auwe, sua matana motivo de alegria
na aldeia, pois a carne abundante para quase todos os habitantes. Por essa razo, no desenho
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
204
colocado no incio deste item, a anta atinge um tamanho to grande. A proporo que ali se
coloca no se refere ao tamanho fsico do animal, mas importncia deste para o povo
(SILVA, 2005). Outras caas importantes so o veado, o tamandu e a queixada (porco do
mato). Aps a narrao da Histria da Anta Abazeireh Rowasuu , os Auwe
explicaram a Shaker que quem mata avisa dessa maneira: ahhhh! Ahhhh! Quem ouviu na
aldeia faz: Ke!Ke! Os gritos so diferentes. Vm um monte de gente. E os mais velhos vm
fazendo eeeh! eeeh! Os mais velhinhos. J sabemos, tem que esperar o velho chegar.
(SHAKER, 2002, p. 256).
80
A caada atual, os gritos emitidos, a diviso da carne reeditam o
acontecimento mtico, atualizando o tempo antigo e revelando uma complexa dimenso
temporal.
A figura colocada no incio deste item tambm tem muito a nos dizer sobre a
organizao espacial dos Auwe-xavante. Nela, como em outras figuras feitas por pessoas
desse povo, algumas caractersticas podem ser percebidas. Tomemos primeiro a casa auwe
um espao especial, visto que no cho da casa, no ponto onde de manh cedo o sol bate
primeiro, que ela [a me] enterra a placenta e o sangue, selando, assim, seu compromisso com
esse espao que seu, e com a vida (SILVA, A. L. 1983, p. 55). A casa, como antes
ressaltado, tradicionalmente, tem uma forma que lembra o Mito do Arco-ris. Embora hoje
muitas casas tenham um outro formato com base retangular , nos desenhos elas se
mantm na forma original, o que pode ser observado em todas as figuras que ilustram este
item. O centro da casa ou da circunferncia que o seu cho est marcado pelo fogo. ele
que lembra aos que freqentam esse espao essencialmente privado raramente algum
convidado a entrar na casa o lugar de devem ocupar na famlia. No interior da casa todos
os lugares tm a mesma importncia, pois a distncia da fonte de calor e aconchego que o
fogo a mesma, mas tm tambm suas particularidades. Silva, A. A (2005, p.116/119)
explica minuciosamente o espao que os membros da famlia ocupam no interior da habitao
que dividida entre o casal mais velho (sogros), as filhas casadas e seus familiares, as
filhas solteiras e os filhos solteiros e, quando necessrio, o espao da filha noiva ,
80
Um dia, enquanto eu conversava com um dos velhos da aldeia de gua Branca, ouvimos um grito. Ele
levantou-se imediatamente, tomando suas flechas, disse-me Queixada!, e ps-se a correr, gritando tambm.
Muitos corriam na sua frente, o animal estava bastante prximo da aldeia. Fiquei onde estava. Momentos depois
ele voltou, disse-me que no conseguiram matar o animal, e continuamos nossa conversa. Confirmou-se para
mim o fato citado por muitos que convivem com os Auwe de que o grito do caador indica a direo onde ele e
a caa esto e qual foi o animal morto ou avistado. A intensidade do grito indica a que distncia da aldeia este se
encontra. s vezes o caador, como expediente para fazer-se ouvir, sobe numa rvore, invariavelmente, analisa a
direo do vento para emitir o som. A resposta da tribo indica quantos ouviram, e o caador fica sabendo quanta
ajuda ter. Os velhos fazem a diviso da carne, que no dever ser tocada at que cheguem. O grito destes indica,
para aqueles que esperam a sua chegada, a que distncia esto.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
205
ressaltando a existncia de uma marcao cultural para os lugares a serem ocupados por cada
membro da famlia. Tanto quanto a famlia a unidade primordial da sociedade auwe, as
casas so o espao fsico primeiro dessa cultura e esto presentes na maioria das figuras que
retratam o espao.
As figuras que mostram toda a aldeia ressaltam a sua circularidade, bem como a do
mundo auwe e o fogo como elemento que marca o seu ponto central. Mas a figura abaixo
no se restringe aldeia, ela vai um pouco alm, mostrando o rio como elemento
demarcatrio da fronteira entre o mundo auwe e o mundo dos waradzu (brancos) e o
incio do espao em que estes vivem.
Figura extrada de GIACCARIA e HEIDE (1975a)
O rio a reta logo ao lado da aldeia e tudo depois dele segue a disposio retilnea
exceto a linha demarcatria mais exterior, que permite que o mundo assuma a mesma forma
que a da casa auwe, associando este ltimo ao Mito do Arco-ris. Do outro lado do rio
onde esto as fazendas dos waradzu, as rvores esto dispostas em linha reta e tambm uma
reta que delimita a rea. Em conjunto, as figuras aqui colocadas ilustram o espao fsico
auwe, acentuando a sua circularidade o que est em confluncia com a marcao de um
espao social tambm circular, como ressaltado no captulo dedicado descrio do modo de
ser e viver desse povo. Em particular, esta ltima figura revela-nos que os Auwe percebem a
importncia da linha reta na cultura waradzu (no indgena).
Finalmente, pela sua capacidade de informar-nos mais acerca dos significados das
formas circulares, entre os vrios ritos da cultura xavante, destaco o de cura - o dasi waiwere.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
206
Ilustrao 4
Para os xavantes, os principais responsveis pelas doenas so os espritos maus e a
doena reside no sangue. Segundo Giaccaria (1990), tradicionalmente, quando algum membro da
aldeia fica doente, os homens iniciados se renem para o Dasi Waiwere como forma de contribuir
para a sua cura.
O rito de cura, como narrado pelo pesquisador salesiano, comea ao entardecer, quando os
participantes saem da mata e se colocam em semicrculo na frente da casa do doente; este
deitado numa esteira no limiar da porta da casa, onde permanecer toda a noite, isto , todo o
tempo que dura a cerimnia (GIACCARIA, 1990, p. 130) As duas extremidades do semicrculo
so ocupadas por dois caadores, que so aqueles que levam os objetos sagrados na
extremidade direita, fica um Danhimire (indivduos da direita) e na esquerda um Danhimie
(indivduos da esquerda). Com essa formao, executam o cntico ritual e, ao final deste, os
caadores (que representam os espritos) passam um por vez na frente do doente e,
individualmente, comeam a inspirar como se estivessem sugando e movimentando as mos como
se estivessem puxando algo para si e no final fazem o gesto de atirar longe o que simbolicamente
recolheram do doente. (idem, p. 130/131)
Em seguida o canto recomea e continua a noite toda. Depois do nascer do sol ocorrem
vrios acontecimentos que, segundo as anlises de Giaccaria, repetem simbolicamente o
concebimento, a gestao, o nascimento e a reintegrao do indivduo na vida familiar e social. Ao
narrar o rito de cura Auwe-xavante, esse autor nos faz notar vrios detalhes, encontrando
mensagens e smbolos. Contudo, ele opta por analisar com maior profundidade a oposio entre o
semicrculo dos homens e o crculo-base da casa. Nessa anlise, ele diz que
O crculo aberto na cultura xavante representa o universo, mundo dos
espritos, a aldeia, o mundo dos homens, a vida. O crculo fechado
representa a terra, a casa, o mundo das mulheres, o tero, a tumba, a
morte (no sepulcro o morto colocado na posio fetal, os elos, crculos
fechados, do sol e da lua so interpretados como sinais de morte).
(GIACCARIA, 1990, p.137)
Para, em seguida, afirmar tambm que nesse rito no somente representada a oposio de
todos esses elementos, mas tambm a unio deles. Como na unio sexual h o concebimento do
filho, nesse rito, na unio dos elementos simbolizados no crculo aberto e no fechado, h o
reconcebimento do doente. (idem, p.138). Ainda nessa ocasio Giaccaria reafirma que na cultura
auwe a semi-esfera representa o universo, o mundo dos espritos, a aldeia, o mundo dos homens,
a vida; e o crculo representa a Terra, a casa, o mundo das mulheres, o tero, a tumba, a morte.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
207
Atrevo-me a estender as anlises de Giaccaria, ressaltando que o fato de o doente
permanecer deitado numa esteira no limiar da porta da casa durante toda a noite tambm tem
importante significado simblico. A esse respeito Giaccaria (1990, p. 133), diz: Sua posio
nesse estado ambgua: no est nem dentro, nem fora da casa, est presente, mas ao mesmo
tempo est ausente (simbolicamente seu esprito est caando). Assim, o doente, mais do que
estar nem dentro nem fora da casa, est entre uma semi-esfera a casa como era antigamente
, que representa a vida, e um semicrculo dos homens que participam do ritual que
representa a morte. Desse modo, a posio ambgua da qual Giaccaria nos fala representa,
simbolicamente, o estado de sade do doente, que est entre a vida e a morte.
Desse modo o rito reafirma o observado nos mitos, isto , a importncia simblica das
formas circulares e o apreo circularidade que, juntamente com a nfase na relao ntima
entre natureza, o sagrado/poder criador, e o humano, caracteriza o smbolo primordial da
cultura xavante.
6.2.7 Mitos, Arte e criao de sentidos
No segundo captulo deste trabalho, ao colocar em foco os sonhos dos Auwe, citei
trechos decorrentes das narrativas de Jernimo, s quais novamente recorrerei. Agora,
entretanto, o foco outro.
O Senhor desceu novamente para lhes falar. Trazia numa mo o chocalho e
na outra, urucu. Ele veio para animar os Xavante para continuar a fazer a
festa do waia e tambm lhes ensinou o canto. Mostrou como estava
enfeitado. Insistiu com eles para continuarem as festas, para que todos
cresam nele. [...]
- Vocs devem modificar logo as festas.
- De quem so estas?
- Essas festas so de vocs mesmos. As festas foram dadas para vocs.
Fui eu quem marcou o que vocs devem fazer em suas tribos. Vocs so
Xavante autnticos. De vocs o waia.
(GIACCARIA e HEIDE, 1975, p.237 e 238)
Nesse trecho faz-se fortemente presente como j salientei o Deus cristo, mas o
ancio xavante tambm fala do chocalho, do urucu, do canto, do enfeite e das festas de seu
povo.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
208
So chamados de festa os ritos, os momentos nos quais os ensinamentos mticos so
revividos; o tempo primordial, atualizado; os ensinamentos, transmitidos: tem-se, por
exemplo, a festa do waia, a festa da corrida de buriti, a festa da nomeao das mulheres, a
festa da furao de orelhas, entre outras. O chocalho utilizado nas festas para acompanhar
alguns cantos, cujo ritmo tambm marcado pelo arrastar dos ps e por instrumentos de
sopro. Os corpos so pintados de vermelho e preto. A cor vermelha obtida de uma pasta
produzida a partir do urucu, por meio de um processo relativamente demorado e trabalhoso
por isso Jernimo diz que Deus trazia o urucu em suas mos.
O canto e a dana inexistem isoladamente. O ritmo dos cantos sempre o mesmo, mas
as palavras variam, pois sempre os sonhos podem inspirar novos cantos. Assim, cantos novos
e antigos so utilizados; algumas vezes sons e palavras no podem ser explicados ou
traduzidos, os Auwe-xavante dizem simplesmente que eles fazem parte da cultura ou da
tradio. Os enfeites comeam a ser preparados desde o momento em que os homens
idosos, aps decidirem qual a data adequada para a realizao da festa, determinam a sua
confeco. Durante a festa a dana ocupa lugar especial, pois por meio dela e da msica, no
uso do prprio corpo, que se estabelece a ligao entre o cotidiano e o passado mtico. A pele
na qual esto pintados os smbolos clnicos, bem como outras pinturas de poder, um dos
principais veculos dessa ligao.
a partir da importncia que assumem na vida dos Auwe que a dana e o canto
podem ser considerados sua arte principal. tambm a partir desse contexto que se origina a
minha afirmao de que a pele um dos rgos do corpo que mais se envolve na criao de
sentido pelos Auwe, e no o olho como no caso grego ou o ouvido, no caso da cultura
rabe, como anteriormente referido. A prpria festa a expresso da religiosidade desse
povo, cujos preceitos se fazem presentes por meio da tradio ou da cultura.
6.2.8 Teseu questiona E um exemplo de Matemtica?
Como visto, a anlise das cosmologias mticas permite-nos tanto reafirmar algumas
das revelaes de Spengler a respeito das culturas grega e ocidental, quanto acrescentar
outras. Ela nos permite, sobretudo, uma maior aproximao aos modos de ser e saber dos
Auwe. Contudo, importante lembrar que os conhecimentos indgenas precisam ser olhados
como nos aconselha Feyrabend (1977, p. 375-380), isto , a sua compreenso no vir por
meio da comparao passo a passo, da equiparao das idias indgenas com as nossas, ou da
sua reconstruo a partir dos conhecimentos reconhecidos e valorizados nas outras culturas.
Isso seria um empecilho para o reconhecimento de um saber diferente por essa razo que
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
209
aqui no est presente uma das categorias fundamentais do estudo de Spengler, a saber:
Matemtica.
Pelo exposto nos itens anteriores e tambm no segundo captulo penso ter sido
possvel perceber a existncia de um conjunto de idias e de conhecimentos relativos
classificao, inferncia, ordenao, explicao, contagem e localizao espacial e
temporal que se origina, vive e se renova a partir das necessidades de sobrevivncia e
transcendncia dos Auwe. Mas esse conjunto difere daqueles que tm sido reconhecidos
como Matemtica, pois o smbolo primordial dos Auwe-xavante no se encontra plasmado
em nenhuma das subdivises da Matemtica. Em vista disso, ao contrrio de Spengler, no o
associarei a nenhuma das partes da Matemtica e continuarei a falar, especificamente, numa
Etnomatemtica dos Auw: a Etnomatemtica Parinaia, na qual esto presentes os elementos
destacados nas categorias de anlise aqui consideradas.
6.2.9 Um outro olhar
Apresentei at o momento algumas categorias que servem para percebermos a
existncia de relaes entre Etnomatemtica e mitos, mas necessrio reconhecer que elas
no do conta de esmiuar um mito; nem eu buscaria isso, pois nele o que mais atrai no so
as relaes parciais que percebemos com alguns saberes, fazeres, tcnicas, valores e mesmo
sentimentos. Ainda assim, penso ser interessante buscar um olhar diferente daquele que at
agora dirigi aos mitos auwe, sem tentativas de estabelecer comparaes, mas que tente
ressaltar, de forma conjunta, algumas das relaes por mim observadas. Para esse exerccio
tomei o mito Wapt Robtsamiwa adaptao da narrativa de Jernimo a Giaccaria e Heide
(1975a, p. 74 a 82) ; grifei alguns pontos que me pareceram especialmente interessantes e
depois de alguns trechos; apontei, numa caixa de texto, o que percebi acerca das relaes que
busco identificar e compreender.
81
Wapt Robtsamiwa
Antigamente ele ficava no H e fazia coisas maravilhosas. O nome dele
mohi. Ele tirava as abboras, ele tirou vrias qualidades de alimentos, tirou
o car e tambm a abbora do jacar. Quando ele tirou abboras do jacar, o
pai o pintou; depois as levou na frente das casas, porque o pai tinha-lhe
ordenado. Bonitas abboras, abboras maduras ele tirou. So essas que
81
Peo desculpas queles que porventura venham a ler este trabalho por quebrar o ritmo do relato mtico -
afinal, uma boa histria no deve ser interrompida na busca por explicaes, pois ela no fala no s nossa
razo, mas tambm aos nossos sentimentos mais profundos. Por outro lado, agradeo ao Prof. Sebastiani por
acompanhar-me no exerccio de empreender este outro olhar para os mitos.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
210
plantavam na roa. Para no deixar perder a semente, plantavam s aquela
qualidade. Secavam as sementes dela, para que pudessem plantar outra vez.
Eram as abboras que os jacars comiam.
Notemos que o personagem principal, mohi, apesar de ter poderes
especiais, vivia no mesmo espao que os outros adolescentes de seu povo,
submetendo-se recluso da educao tradicional, no havendo, portanto,
distines outras entre ele e seus companheiros de faixa etria. Tambm como
manda a tradio, quando ia lhe acontecer algo especial um rito de passagem ,
seu pai o pintou. O momento era especial porque ele iria embora de sua tribo,
mostraria o seu poder ao povo xavante, revelando-lhes alimentos que eles
desconheciam e que mohi j revelara ao seu povo e que este plantava em suas
roas.
Em paralelo, foram colocados alguns conhecimentos prticos relativos ao
necessrio cuidado com as sementes de abbora para as produes futuras.
Os Romhotsiwa que faziam coisas maravilhosas eram muitos.
Antigamente havia muitos que achavam os mantimentos. Os nossos
antepassados contam assim. Aquele acabou de pintar e levou as abboras
para a frente das casas.
- Como que vou levar?
- Leve as duas no colo mesmo.
No colo mesmo, no colo mesmo. E correu para mostrar na frente das
casas.
- Quem aquele que est levando no colo aquela coisa?
- No criana?
- Olhe, olhe, ele vai mostrando aquela coisa.
- Acho que cabaa.
- abbora.
No incio desse trecho est a referncia a dois tempos. Primeiro se fala de
um tempo mtico, quando muitos seres poderosos viviam; os acontecimentos ocorridos
naquela poca foram narrados aos xavante pelos antepassados. Depois se fala no
tempo efetivamente vivido, na convivncia com esses antepassados que narravam as
histrias acerca dos romhtsiwa.
Observemos que, mesmo sendo um romhotsiwa, mohi pediu conselhos ao seu
pai, mais velho e mais sbio, sobre o modo como deveria transportar as abboras. O
seu pai disse-lhe para transport-las no colo e ele correu com elas nessa posio.
Como o fez, se s se consegue levar abboras no colo quando se est sentado?
Voltaremos mais tarde a essa questo. Observemos ainda que ele no reconhecido
pelos xavante e que ele veio de um outro lugar, trazendo-lhes algo desconhecido a
abbora.
O homem foi dizendo estas palavras:
- Wate mari, mari, h h, wate mari, h h, wate mari, wate mari.
Aquele que est vivendo por baixo de ns, com seu mantimento,
com seu mantimento.
Ficou mais perto, mais perto. Foram olhando, foram olhando.
- Agora ns comeremos essa comida. E ns falaremos mal, e ns
falaremos mal da comida feia para comer coisa boa. Com coisa vermelha.
Quem deu as abboras porque teve d da comida dos xavantes a
gente que vive debaixo das guas. Por cima tem cabea, olho, mo igual aos
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
211
homens, por baixo no tem perna, mas como peixe. A gua passa por cima,
por baixo tudo seco, igual ao cu. O jacar criao deles, tambm a
sucuri. Vivem s debaixo dos rios muito grandes. Quando as crianas
desobedecem s mes e ficam fazendo muito barulho na gua, essas pessoas
as puxam por baixo at a casa deles para lhes dar medo, depois as mandam
de volta.
Finalmente um homem Auwe-xavante reconheceu mohi como um ser que veio
do fundo das guas. Ento, novos elementos da cosmologia so apresentados, pois no
fundo dos rios, l onde vive o povo de mohi, tudo seco, como no cu. Mas, ao
contrrio do que ocorre no mito da moa-estrela que havia vindo do cu, neste mito a
forma fsica do personagem difere dos xavante porque ele no possui pernas, mas
como um peixe. Ento, para vir at os xavante, ele correu por entre as guas,
emergiu sentado por isso pde trazer as abboras no colo. Apesar de verem um
ser diferente deles prprios, os antigos auwe no se assustaram, nem o trataram
como a um deus, mas saudaram-no, felizes pelo alimento que lhes trouxe e tornaram-
no um membro da tribo revelando uma integrao entre o sobrenatural e o
cotidiano.
Nesse trecho tambm existe uma referncia cor vermelha especial para
o povo xavante e sempre utilizada nas pinturas rituais. A sua presena na abbora
fez com que essa logo fosse reconhecida como bela e boa.
Veja que, segundo o mito, os seres que moram nos grandes rios interferem na
vida dos Auwe, auxiliando as mes na educao das crianas desobedientes; isto no
ocorreu antigamente, quando existiam muitos romhotsiwa, nem no tempo dos
antepassados, mas acontece na atualidade. Desse modo, o mito nos fala muito sobre a
concepo de tempo mista e mtica dos Auwe.
- Vo olhando, vo olhando. Coisa esquisita, coisa esquisita se
revelou para ns. Para comermos.
No fim os Daamawaywa bateram o p: to, to, to, to, to, to. Agora
isso no parar mais. Essa foi a primeira vez que fizeram Datsiprabu.
Assim, nesse contato mais ntimo dos antigos Auwe com os seres que vivem nos
grandes rios, pela interveno de mohi, nasceu um rito que dever ser mantido para
sempre. Logo abaixo percebemos que ele ficou morando entre os Auwe, casando-se e
tendo filhos.
Conta-se assim. S ele, mohi, que foi vivendo muito tempo com
os outros. E quando ficou velho, os filhos mandavam ele. Sim, j est velho,
j est velho. Ento os filhos mandaram:
- Pai, pea outra vez car, que estou com fome.
- Com fome mesmo? Porque me mandou?
- Por que estou lembrando da outra vez que voc fez.
- Vamos.
Antes ele ia sem nada. Esperava um pouco e sentava-se. Depois
falava aos seus netos.
- Afastem-se da gua. Afastem-se da gua. Deixem-me sozinho.
Antes de cair na gua, batia o p primeiro no cho: to, to, to, to, to...
para os que estavam debaixo da gua escutassem. E desceu. Caiu na gua,
mergulhando. O p dele brilhava debaixo da gua. Ele no ficava bem
dentro da gua. Os netos pensaram que tivesse morrido. Quando se cansaram
de esperar, deixaram o seu vov sozinho e foram para casa.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
212
mohi, que veio ainda adolescente para junto dos Auwe, havia se tornado velho.
Foi-lhe solicitado que voltasse para junto de seu povo para trazer mais alimentos,
revivendo um acontecimento que ocorreu num outro tempo e que foi lembrado pelos
filhos que obviamente no o presenciaram; lembram-no por meio de narrativas
do mito. Para isso mohi precisou ficar sozinho e comunicar-se com os povos das
guas que lhe permitiram descer, fazendo com que suas pernas fossem substitudas
pelos membros antigos pois o p dele, note que no foi dito ps, brilhava
debaixo dgua, como acontece com as escamas. Note, em especial, que a paragem
mtica habitada pelo povo de mohi ficava nas proximidades da aldeia, pois no
narrado que agora idoso ele tivesse passado por dificuldades ou demora para
chegar ao rio.
Aquela gente foi pondo a comida para ele.
- Voc, para que que veio?
- Vim aqui para fazer nada. Eu vim porque estava com fome.
- Se est com fome, o que voc vai comer?
- No sei, no sei o que vou comer.
- Vamos matar a fome. Matar a fome.
Primeiro deram comida cozida, abbora cozida.
- D-me tambm car cozido.
E acabou de comer. Ficou farto de alimento e foi beber gua.
- Essa a nossa gua mesmo. disse o velho.
E ele tomou a gua.
- Como que vai ser? Vai voltar logo, vai voltar logo?
- Sim, sim, vou voltar logo, vou voltar logo. Eu vim s para pedir, s para
pedir o alimento. Quando eu pedir a comida, faam assim mesmo, assim
volto logo, volto logo.
- Assim mesmo.
- O que voc est querendo?
- Estou querendo outra batata mole, mais mole.
Foram escolhendo batatas grandes. E puseram em cima car cozido. E deram
em uma cuia grande para levar. Debaixo da gua h cuias grandes. Por isso
pediram para entregar de volta a cuia.
- Pode ir, pode ir. Vai levando a cabaa nas costas, e depois traga para
c outra vez, traga para c outra vez. Peo de volta porque gosto dela.
O dono da casa abriu a porta.
- Pode sair.
Ele deu uma carreira para sair. Foi indo, indo, indo e saiu para fora da gua.
Deixou a cuia no barranco. E se lavou, lavou, e acabou de se lavar, e levou
para casa. Os filhos dele ficaram olhando. Tambm os netos dele.
mohi j no mais tinha o poder romh, precisou pedir ao seu povo a
comida. Obtendo-a, voltou para a tribo xavante. A segunda emerso de mohi
narrada com mais detalhes que a primeira, visto que isso j no lhe to
natural. Agora os alimentos so acondicionados em objetos cuias que
sero levadas nas costas, no mais no colo.
Note que seu povo tambm mora em casas e usa cuias. Observemos
ainda que o mito mantm nesse trecho uma preocupao bastante prtica. As
batatas, alm de cozidas, estavam especialmente moles por essa razo
foram acondicionadas em cima dos cars tambm cozidos. Ocorre que os cars,
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
213
mesmo cozidos, no ficam to moles quanto as batatas e no seriam amassados
com o seu peso assim os alimentos no ficariam estragados.
Veja que mohi acabou de sair das guas, mas lavou-se, e agora seus
filhos e netos estavam perto olhando. Ele lavou-se nas guas superficiais onde
os prprios Auwe-xavante se lavam, no na gua que os seres que vivem
embaixo dos rios utilizam aquela da qual ele bebeu durante sua visita. Esta
uma das razes pelas quais a gua dos rios valorizada no s porque
necessria sobrevivncia dos Auwe, mas tambm porque ela um elemento
de ligao entre os eles e esse povo que no passado lhes trouxe a abbora e o
car. A gua dos rios tambm deve ser respeitada como a morada de antigos
romhotsiwa, mohi em especial, e tambm porque esse povo ainda hoje habita
por l.
- Olhe, o vov trazendo alguma coisa.
- O que ?
- A comida para vocs comerem.
- sozinho que voc vai comer aquela coisa?
- Batata...!
- Como o vov faz coisas maravilhosas!
- Tome!
Vo repartindo essa coisa cozida. Vo cortando, vo cortando. Na
ponta, corte para o seu filho, corta para o seu filho. Aquela batata grande, d
para os nossos genros. Depois eles repartem entre si. Os genros comiam
coisa gostosa, porque o sogro deles fazia coisas maravilhosas. Os outros
contam assim, quando j ficou velho. Tambm ele viveu com outros. Viveu
muito tempo. Os outros falam. O nome desse que fazia milagres mohi.
Tirava batatas. Tambm tirava os cars. O car de dentro da chuva. Tambm
com a chuva.
Aqui se faz referncia forma como os Auwe-xavante fizeram a diviso da
comida extrada da natureza, mas no caada uma tradio a ser mantida. A
deferncia especial para com os genros deve-se ao respeito pela outra
metade clnica, pois eles pertencem metade contrria do sogro.
Este trecho tambm nos revela que com essa visita ao seu povo mohi
readquiriu pelo menos parte de seus poderes, visto que ele no mais precisar
ir ao fundo dos rios pedir comida, ele a tirar de dentro da chuva.
J ficou velho mesmo. Quando ficava s chovendo, ficava s a
chuva, mandavam ele. No toa que chove. Mas a gente faz um
movimento com ela. Tambm esse vento, no toa que sopra. Tambm
como aquele. Quando comeava no tempo da chuva, ele fazia bem. Quando
eles iam de Dzmori (caada com as mulheres) ficava s a chuva. Pede para
parar a chuva.
- Espere, espere.
- Est certo. Por que me manda?
Foi-se preparando, se preparando e acabou de se preparar. E passou
nas costas urucu. Ps o colar no pescoo e acabou de pr. E ficava s a
chuva, chuva, s a chuva. Ele foi olhando para ver. Foi falando com a chuva.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
214
mohi agora est mais velho, os Auwe-xavante esto com fome, pois devido
chuva constante no conseguem caar, lanam-lhe ento um desafio. Ele dever
trazer no mais abboras ou cars, mas sim carne de caa e agora ele se
prepara de uma forma diferente, como para um ritual, usando urucu e colar. Ele
se preparou do mesmo modo como os homens Auwe-xavante o fazem e agora o
misterioso, o sobrenatural, no ocorrer longe, mas vista de todos, dentro do
territrio da aldeia xavante.
- Vai logo sair? diz o filho ao pai.
- Espere, espere, estou olhando, porque a carne de veado fmea leve.
Precisa pegar o veado macho.
S ele que v, no h outro que v igual a ele. Os filhos dele tambm
olharam na direo, quando o pai olhava. Um casal de veado est correndo.
Pegou a flecha e caram, o casal caiu. Ainda est esperando. Pronto. E saiu
correndo. Foi jogando o brao para a direita e para a esquerda. Assim foi
correndo, correndo, correndo (os wayarada imitam essa corrida, quando
vo buscar os pssaros no aw). E pegou os dois pelas pernas. Junto com
eles levou a lenha para cozinhar a carne. Foi arrastando os dois. A chuva foi
diminuindo, diminuindo.
- Olhe, o mohi est arrastando dois veados.
- Vamos. Venham saindo para tirar os couros. Para matar a fome.
- De quem so esses que voc pegou? Ns estamos olhando sem ver
ningum.
Havia gente correndo atrs. Eles vo comendo a carne, enquanto
chove. A chuva parou de jorrar. E parou de uma vez. para isso que ele
pegava a caa. A chuva parava com isso, porque tirava a caa do dono da
caa, que a chuva.
Entre os homens e mulheres da tribo, somente mohi, filho do povo das
guas dos rios, poderia ver e caar no tempo das chuvas. Nessa poca do
ano a caa pertence a um outro povo, da gua da chuva. Esse povo, que
come enquanto chove, no se alimenta de abboras ou cars como o povo
de mohi, mas sim de carne. Tirar-lhes a caa foi uma forma de fazer
parar de chover para que, por sua vez, os Auwe tambm pudessem se
alimentar de caa. Desse modo, esse mito nos revela que as guas so
elemento de ligao entre os Auwe e pelo menos dois povos o que
habita o fundo dos rios e os que se movem por meio da chuva. Outro mito,
citado anteriormente, fala de um outro povo que habita os lagos. Note
que os filhos de mohi tambm viram alguma coisa, eles tero seus
prprios filhos e assim, por vrias geraes e na atualidade, a tradio
ser mantida e o povo xavante imitar ritualmente a corrida que ele
empreendeu para caar os veados.
A carne da caada feita para o waya no pode ser comida pelas
crianas, mulheres e wayar, porque daria vmito e daware (dores fortes
nas costelas); s os wayarada podem comer. Contam assim para os outros.
Essas coisas no se param de contar. O conto s assim que se conta.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
215
Ao final do mito so colocados alguns tabus alimentares, bem como a
importncia de que o mito se mantenha, dessa forma e continuamente.
Saliente que esse mito nos revela pelo menos alguns elementos:
da teogonia auwe com sua ascendncia, incluindo seres diferentes e poderosos
como mohi, originrio das guas, meio homem e meio peixe;
da sua concepo de tempo mista e mtica que separa o tempo dos poderosos do
tempo dos antigos e do atual, mas que permite uma integrao entre eles por meio de
ritos e na relao com as guas;
de uma concepo de espao onde diferentes povos, sobrenaturais ou no, vivem e
relacionam-se;
daquilo que considerado como discurso verdadeiro, a ser mantido e enunciado como
forma de explicar fatos e de orientar ritos e hbitos notadamente alimentares, de
caa e do prprio cultivo de abboras;
da relao entre os seres humanos, o sagrado e a natureza, em especial, da relao dos
Auwe com diferentes fontes de gua;
do valor da solidariedade ilustrada pela atitude tanto de mohi com relao aos
Auwe-xavante, oferecendo-lhes um tipo de comida que era privilgio de seu povo,
quanto dos Auwe-xavante para com mohi, acolhendo-o e tornando-o um dos seus
e do respeito ao espao e ao tempo de cada povo.
Finalmente, importante reafirmar que a um mito cabem mltiplas interpretaes; que ele
fala a cada um de ns diferentes coisas em diferentes pocas; que h nele muito mais do que
inicialmente se revela.
6.3 Sntese acerca das relaes apontadas
O dilogo observado entre Apolo, Fausto e os Parinaia ou talvez entre o moderno
Teseu e o Minotauro ofereceu uma resposta questo de pesquisa que se tornou a mola
propulsora para este trabalho Como a Etnomatemtica dos Auw-xavante se relaciona
com seus mitos e ritos?.
As anlises permitem responder a esta questo, dizendo que a Etnomatemtica dos
Auwe-xavante se relaciona intimamente com seus mitos e ritos, visto que fundamentos seus
esto plasmados, so visceralmente intrincados, aos mitos fundantes e, tambm, a alguns ritos
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
216
desse povo. Mas faz-se necessrio salientar que as categorias que emergiram s so realmente
compreensveis em conjunto com as outras e que outros estudos podem propor novas
categorias que nos levem a nos acercar melhor dessa e de outras diferentes Etnomatemticas
em toda a sua complexidade. De todo modo, apresento no quadro abaixo uma sntese dos
resultados encontrados. Esse tipo de recurso naturalmente redutor, pois nele no nos
possvel perceber o carter rizomtico dos diferentes aspectos analisados. Mas um quadro ,
tambm, um recurso didtico interessante, por permitir-nos retomar de forma rpida e
sinttica alguns aspectos por isso ele foi aqui utilizado, mas com a ressalva de que todas as
clulas que separam as diferentes categorias analisadas so permeveis, esto interligadas
entre si.
Quadro-sntese de alguns aspectos que se fazem presentes nas cosmologias mticas e
esto relacionados s Etnomatemticas
Culturas/
Aspectos
Grega -
Apolnea
Ocidental -
Faustiana
Auwe-xavante
-Parinaia
O tempo Predomina o
tempo cclico.
Concebido
como uma semi-
reta ascendente
e quase infinita.
,
simultaneament
e, circular e
linear.
Os
nmeros
Foram
utilizados para
a criao da
Terra, faziam
parte de um
mundo perfeito
e podiam ser
captados
pelos filsofos.
Foram criados
por Deus e
dados aos
seres humanos
para que estes
pudessem
marcar o tempo
que se relaciona
aos rituais.
Criados pelos
Auwe, servem
para agrupar
segundo
qualidades
caractersticas.
O espao Espao
prximo
diferenciado,
distribudo em
nveis.
Mundo
organizado em
esferas
concntricas. O
espao divino,
totalmente
diverso e
superior, s
poder ser
atingido pelo ser
humano que,
seguindo os
passos
determinados,
torne-se
merecedor dessa
Indistino
entre os espaos
sagrado e o
cotidiano. O
mundo do
povo que no se
v, o das
estrelas, e o
dos Auwe so
organizados
circularmente.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
217
honra.
As
formas
A estrela
pentagonal, os
slidos
platnicos e a
esfera
destacam-se.
Est mais
relacionada
semi-reta
ascendente.
O crculo, a
semi-esfera e o
semicrculo.
O
smbolo
primordial
Ligado
afirmao do
finito e
negao do
infinito, da
imagem
plstica do
Universo,
esttica e
atemporal.
Relaciona-se noo de
infinito.
nfase na
relao ntima
entre natureza,
o
sagrado/poder
criador e o
humano.
Apreo
circularidade.
Ligao
com a
realidade
Predominncia
do espao
prximo.
Forte noo
temporal e do
espao infinito.
Predominncia
de um espao
qualitativo e de
uma
temporalidade
mista.
Teogonia
e
religiosida
de
Os vrios
deuses, com
caractersticas
humanas,
habitavam nas
proximidades e
interagiam com
os seres
humanos de
maneira muito
prxima.
Jav, o nico
Deus, habita o
mais alto do
Cu. Ele possui
caractersticas
inatingveis
pelos seres
humanos.
Os antepassados
poderosos
viviam
com/como os
outros membros
de seu povo, at
que o seu poder
se manifestasse
numa das
paragens
mticas.
O poder Foi roubado
dos deuses por
um outro deus.
Deus deu algum
poder aos
homens, que so
superiores a
todos os outros
seres da
natureza,
devendo
domin-los.
O poder nasce
nas/com as
pessoas, seres
da natureza
como os outros
animais.
O fogo
como
smbolo
do poder
No incio
instrumento
para dominar e
subjugar a
natureza e os
animais.
Depois, torna-
Est
concentrado nas
mos divinas e
utilizado para
indicar a Sua
presena, os
caminhos a
No war torna-
se smbolo de
um poder que
diariamente
compartilhado
entre os homens
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
218
se smbolo da
igualdade entre
os cidados; de
um poder
dividido.
serem seguidos
ou, ainda, como
instrumento de
castigo para
aqueles que O
desobedecem.
Quando de
posse dos
homens, torna-
se smbolo de
controle da
natureza.
iniciados.
O
discurso
verdadeiro
Nasce a partir
do prprio
enunciado,
construdo a
partir da
reflexo e
avaliado por
todos segundo
o seu sentido, a
sua forma, o
seu objeto.
domnio de
todos.
proferido por
aqueles
considerados
especialistas no
assunto. Sua
validade baseia-
se nos estudos
tericos, em
conjunto com o
uso de tcnicas
de observao
cientfica.
domnio de
poucos, que se
avaliam.
Nascem nos
mitos e
renovam-se por
meio das
modificaes
que se do no
interior da
prpria cultura -
por meio de
sonhos e
observaes e
por
modificaes
outras causadas
pelos contatos
interculturais.
domnio de
todos (homens
iniciados).
A
verdade
sobre si
mesmo
A verdade do
sujeito est nas
palavras
anunciadas aos
cidados da
polis e julgada
por eles. Seu
objetivo a
democracia.
As formas de
acesso
verdade sobre si
mesmo esto no
exame de
conscincia e
nas prticas de
confisso (antes
ao padre, depois
ao psiclogo e
ao professor).
Objetivam a
transformao
por meio da
expiao e da
vigilncia de si
por si mesmo.
Est na palavra
vivenciada; a
no-contradio
julgada pelos
pares e,
principalmente,
pelos ancios.
Seu objetivo a
boa
convivncia, o
(con)viver
solidrio.
A viso
dos povos
acerca de
si
Reflexivos,
pesquisadores
e descobridores
de uma
Inicialmente
obedientes a um
Deus perfeito
que procuram
Criadores,
criativos e
astuciosos.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
219
mesmos
como
produtor
es de
saber.
realidade mais
perfeita que
est alm da
que se mostra.
imitar,
praticavam uma
cincia
contemplativa,
conscientemente
alinhada com o
mito cristo.
Posteriormente,
colocam-se no
centro, como
controladores
do mundo e
geradores de
saber que lhes
permitisse isso.
Assim, o mito,
embora
desacreditado,
ainda o seu
fundamento.
Os
valores
Fixados
segundo uma
vertente
individualista,
eles se referem
afirmao da
vida (atual) por
meio da
satisfao das
paixes, da
busca pelo
prazer.
A convivncia
consensual na
comunidade
que orienta a
fixao de
valores.
Antigamente a
renncia e o
ascetismo,
relacionados
busca pela vida
eterna, eram os
maiores valores,
enquanto que
atualmente eles
se referem ao
cumprimento do
dever
relacionado ao
mercado de
trabalho.
So institudos
tanto a partir da
pessoa quanto
da comunidade.
A solidariedade
faz com que o
respeito ao
outro e
natureza seja
o principal
valor.
Esses resultados indicam que um conhecimento mais profundo a respeito das
diferentes Etnomatemticas deve tambm contemplar a anlise dos mitos que as fundamentam
(enquanto discurso primeiro, como salientou Durand). Isso reserva aos pesquisadores da rea
um grande trabalho, pois hoje me parece que, para o maior conhecimento de uma
Etnomatemtica, no basta apenas revelar as idias presentes nas prticas sociais, realizar uma
etnografia cultural e social; torna-se tambm necessria a realizao de uma etnografia do
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
220
imaginrio, a revelao dos elementos fundantes da Etnomatemtica que se pretende
conhecer.
O meu encontro e dilogo com o Minotauro deu-se prximo sada do labirinto
embora agora eu veja que a edificao possui mais de uma porta de sada.
Se a sua explorao revelou diferentes possibilidades, o mesmo ocorre quanto ao
momento de abandon-lo; percebo que o sair do labirinto tambm exige uma tomada de
deciso. Uma pesquisa, tal como um mito, pode ir se desdobrando... O estudo transformou-se:
ao adensar-se a trama e ao enredar-me no estudo primeiro a que me dispus, ele deixou
vislumbrar no s a existncia de diferentes exemplos de produo do sentido e suas
complexidades, mas tambm indicou encontros culturais muitas vezes conflituosos
notadamente em ambiente escolar. Por essa razo, permanecerei um pouco mais no interior do
labirinto. Eu, Teseu, no um heri grego, mas sim uma professora/pesquisadora formadora de
professores de Matemtica, sinto necessidade de pensar sobre o que o reconhecimento da
existncia de relaes entre conhecimentos etnomatemticos, mitos e ritos tem a dizer
Educao Matemtica e s pesquisas do Programa Etnomatemtica em reas indgenas.
Contudo, antes de embrenhar-me nessa reflexo ou talvez na tentativa de compartilhar
uma reflexo que se deu de forma paralela execuo da pesquisa e tessitura de seu relato,
lembro-me do Estrangeiro.
Ele, como eu, um explorador que numa outra poca, num outro lugar, empreendeu
uma viagem de descobertas junto a outro povo, de cultura completamente diversa sua.
Ele, como os homens e as mulheres Auwe, pertence a um povo que no atribui um
nmero (como o concebemos) aos seus filhos ou aos membros de sua famlia.
A Ele, como talvez a vrias pessoas de diferentes povos, causa estranhamento nosso
modo de conceber e utilizar os nmeros...
Embora Ele seja somente um personagem criado por uma antroploga, ela o construiu
a partir de suas pesquisas e aprendizagens na frica. Odile colocou, em seu personagem, algo
do que viu, ouviu e compreendeu acerca dos povos com os quais conviveu e da sua forma de
conceber e utilizar os nmeros.
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
221
Invadiremos uma pequena parte das experincias e reflexes do Estrangeiro,
personagem representante dos povos africanos pesquisados por Odile Journet.
E voc?
- Eu?, respondeu sorrindo o Estrangeiro, eu nasci por volta de ...
(Je suis um n vers...)
- Nariz verde? (Um nez vert?), repetiu a interlocutora, j sob o
encanto manifestadamente extico das fricas que ela confundia um pouco
com suas lembranas do western. Mas o fato de o Estrangeiro pertencer
desconhecida tribo dos Narizes Verdes (Nez-Verts) o impedia de falar a sua
idade? Isto o impede de dizer sua idade?, perguntou ela.
O Estrangeiro deu um grande suspiro: Isto me impede de ter uma
idade, respondeu ele, induzindo gentilmente a curiosa a ler a lista de
vinhos. Naquela noite ele no estava com vontade de contar, mais uma vez,
como o fato de no existir um cartrio nas proximidades, quando do seu
nascimento, o tinha privado de uma data de aniversrio e como, mais tarde,
ele tinha sido registrado como nascido por volta de 1950 [pois ele nascera
no tempo dos Brancos, algumas luas depois da ltima sada da mscara
Apow]. Ele estava saturado e vagamente incomodado com o curioso ritual
familiar que se obstinava, desde o comeo da festa de aniversrio, a medir
graus de envelhecimento por datas precisas independentes de todo
acontecimento marcante, datas que no correspondiam a nenhum sentido.
Todo mundo em torno da mesa tinha passado por isso, como que para
coroar esta festa da aritmtica. J bem antes da festa, a Sra. Blanchard, sua
simptica anfitrioa, tinha contado o nmero de convidados (nunca se viu
festas em que se conta por antecipao o nmero de participantes?); este
nmero tinha sido multiplicado pelo nmero de servios para se determinar
o nmero de pratos, pelo nmero dos vinhos para as taas. E, sobretudo,
tinham colocado com o maior cuidado as velas no bolo, velas que
lamentavelmente se derretiam sobre os restos do queijo Gruyre, ao lado da
pilha de pratos sujos.
Quando de sua chegada, ele no tinha sido informado desses
costumes locais, esquecidos ou talvez ignorados pelo velho missionrio
letrado que tinha, com cuidado, zelado pela sua educao (ah! as doces
lies na varanda... ah! a voz um pouco engasgada do padre Colas, lendo e
comentando seus autores favoritos, Bousseut, Montesquieu, Chateubriand,
Balzac...). Ele pensou, inicialmente, que estava diante de um torneio no qual
o vencedor seria aquele que totalizasse mais pontos. Mas no, nenhum
respeito ou admirao beneficiava o vencedor. s vezes acontecia at o
contrrio. Tratava-se, antes, de um rito de contagem que comeava muito
cedo. Muito antes do primeiro dente, muito antes da primeira velinha, o
Estrangeiro tinha ouvido vizinhos, vizinhas, pessoas na rua, parentes ou
amigos dos Blanchard falarem de seus bebs respeitando invariavelmente o
seguinte cdigo: nmero de dias, de semanas, equivalente -
aproximadamente em gramas ao peso (eram pesados da mesma forma
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
222
como fazem os aougueiros), nmeros de centmetros na horizontal, etc.
Ser que contavam os fios de cabelo? perguntava-se o Estrangeiro. Os
sobrenomes, os nomes apareciam apenas incidentalmente e a ttulo
secundrio, e menos ainda a filiao [o Estrangeiro tinha um nome secreto -
que apenas ele e seu irmo de sangue conheciam, o nome de sua famlia
que era muito longo, o nome pelo qual sua famlia o chamava, e o nome que
os homens de sua idade utilizavam quando se dirigiam a ele]. Esta estranha
mania de contar bebs, anos, convidados, quilos, calorias, centmetros,
quilmetros, tempo de trabalho, tempo de descanso... como se contava
dinheiro no comeo tinha assustado o Estrangeiro. Esta mania pouco
simptica seria inofensiva?
No me conte! noli me numere!
Contar seres, tempos, medir qualidades..., isto j no seria chamar
demais a ateno para si mesmos? No seria provocar ms intenes? No
seria fix-las, aprision-las na incompletude do instante? No seria postular,
por um golpe de fora obscuramente perpetrado e incessantemente
renovado, a insignificncia de sua identidade e de suas qualidades
particulares?
O Estrangeiro ficou doente com tudo isso. Quantificar, medir,
enumerar crianas, pessoas singulares, sejam elas iniciadas ou no, sejam
elas idosas ou jovens, nascidas pelo esprito da terra ou da gua... tudo isto
era absurdo, e sobretudo e isto o Estrangeiro horrorizado tinha tentado
explicar a seus indiferentes amigos, terrivelmente arriscado. Que horror,
que escndalo, se suas mes, suas tias ou suas avs fossem obrigadas a dizer
o nmero de seus filhos: cont-los, como se fossem vend-los.
Somente a morte e suas divindades contam. O Estrangeiro, nesses
primeiros dias, repetia, para conjurar a sorte, esta prece ioruba que um dia
lhe havia sido ensinada:
Morte que conta sem cessar, voc que conta sem cessar, no me conte.
Fogo que conta sem cessar, voc que conta sem cessar, no me conte.
Vazio que conta sem cessar, voc que conta sem cessar, no me conte.
Riqueza que conta sem cessar, voc que conta sem cessar, no me conte.
Dia que conta sem cessar, voc que conta sem cessar, no me conte.
Contar os mortos, certamente esta sociedade se excede nisso! Eles
podem at ser previstos. Na noite do fim-de-semana com maior nmero de
mortes do ano o Estrangeiro tinha acompanhado longos debates na
televiso. Dos quinhentos mortos previstos, faltavam cinqenta. Cinqenta
tinham escapado avidez do monstro. Alguns pareciam se felicitar, mas
para o Estrangeiro era assustador. Nos dias seguintes, ele se recusou a usar
o automvel e at hesitou em sair rua: os usurios no teriam que pagar
seu tributo na semana seguinte? At quando Moloch concederia o crdito de
cinqenta vtimas que lhe deviam? O Estrangeiro chegou a pensar que ele
no era o nico a raciocinar dessa forma. Aconselharam os usurios em
sursis uma medida de exorcismos: portar uma bandeira branca. Muitos
deles o faziam. E nisto o Estrangeiro reconhecia o medo.
Tudo era ameaador. Contar com tal preciso os gramas e os
centmetros humanos, eis o que decorria diretamente da feitiaria
antropofgica. O fato de se falar publicamente destas medidas, escrev-las
conscienciosamente nos cadernos sem preocupao de escond-las,
expunha furiosamente aqueles que se submetiam a estas prticas ao apetite
dos comedores de almas. Estes deviam se dar por felizes enquanto os
meios de se apropriarem das energias vitais fossem acessveis: onde h mais
carne, onde h mais sangue e energia. Assim, viam-se mes trabalharem
para que suas crianas fossem as mais gordas (tinham-lhe ensinado a
desconfiar dessa palavra e a s utiliz-la parcimoniosamente) ou, como elas
Captulo 6: Encontro com o Minotauro
Wanderleya Nara Gonalves Costa
223
diziam, bem de sade... orgulharem-se, exp-los, ao passo que elas
prprias, provavelmente com a finalidade de se protegerem, seguiam
regimes para emagrecer! Que abominvel comrcio se tramava por detrs
desses gorduchinhos bochechudos? O Estrangeiro suava frio.
Depois ele se tranqilizou: visto que no tinha nem idade precisa nem
filho e que, at onde conseguia lembrar, nunca tinha subido numa balana,
ele no seria uma vtima fcil. Era necessrio, ainda, compreender...
(JOURNET, Odile. Um outro olhar, 1995. p.265/268 - adaptao)
Captulo 7: Na Cmara dos Espelhos Educao Matemtica em
Escolas Indgenas
O rei dos minotauros. Pablo Picasso.1958.
Estudantes Auwe-xavante .
Uma anlise satisfatria da dominao e subordinao das sociedades
modernas deveria sem minimizar a importncia das classes dar
ateno a outras divises igualmente fundamentais, tais como aquelas
entre sexos, entre grupos tnicos e entre estados-nao.
(THOMPSON, 1995).
Eu, Teseu, herona como outros tantos professores de Matemtica,
declaro que, tendo-me aventurado no labirinto, encontrei o Minotauro.
Destemida que sou, falei com ele que se mostrou amigo. Confiou-me
alguns segredos. Disse-me que antes dele existiram outros e que
muitos de seus antepassados tiveram a cabea decepada por heris e
heronas professores e professoras. Ele no se lembra do nome deles,
pois foram muitos. Apesar da sanha dos heris e heronas, esse
minotauro no o nico de sua espcie, outros sobreviveram; existem
outros labirintos, habitados por outros minotauros. Tambm existem
novos heris e heronas, novos professores e professoras. Os heris e
heronas professores e professoras de Matemtica sero bem-vindos a
essas edificaes, pois os minotauros, como os Xavante, acreditam em
seus sonhos. Em seu sonho eles viram um futuro no qual os saberes dos
minotauros sobreviventes e dos teseus convivero; no qual seus
antepassados sero honrados e respeitados. No sonho dos minotauros,
os saberes de seus antepassados revivero, se eles prprios
sobreviverem e encontrarem, em cada Teseu que os visitar, um(a)
aliado(a).
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
226
Captulo 7: Na Cmara dos Espelhos
Wanderleya Nara Gonalves Costa
227
niciei este trabalho, observando que a palavra alma contida em seu ttulo era, de
certo modo, uma provocao que me ocorreu ao refletir no somente a partir da
histria particular dos Auwe-xavante, mas tambm acerca da forma como se deram as
relaes entre ndios e europeus no perodo Brasil-Colnia. Naquele momento fiz um convite:
o de focalizarmos as etnomatemticas indgenas e refletirmos sobre nossa atuao como
professores, formadores e/ou consultores em escolas indgenas ou no-indgenas. Lembro que
tambm chamei a ateno para a questo da identidade.
O convite foi aceito? Voc chegou a efetuar tais reflexes? Eu o fiz, mas adiei o
compartilhamento do que refleti, para tratar mais especificamente da questo de pesquisa que
orientou este trabalho. A referida questo, a seu modo, pode tornar esta reflexo mais
profunda e direcionada para a perspectiva simblica (no sentido junguiano e da Antropologia
Simblica) da Educao Matemtica quase sempre relegada a um segundo plano, quando
no completamente esquecida. Agora partilharei essas minhas reflexes por meio de um
captulo que tambm possui um ttulo simblico.
Os espelhos simblicos ou no encontram espao nas narrativas clssicas
sobre os primeiros encontros entre portugueses e ndios e foi da que veio a inspirao
para o uso desta metfora. Os espelhos so vidros que apenas refletem, invertem os lados e
no permitem a viso do Outro, pois atrs de cada vidro feito espelho h uma pelcula
prateada que impede a transparncia, a interao com esse Outro. Devido a essas
caractersticas, penso que o nome Cmara de Espelhos inspirador para a discusso acerca
da Educao Escolar para o Indgena.
As reflexes e discusses a serem expostas no dizem respeito, especificamente, ao
povo xavante pois, como explicitei anteriormente, meu objetivo maior neste trabalho
contribuir para a formao de professores que iro atuar num ambiente onde diferentes povos
e culturas se relacionam cotidianamente e onde se torna importante e necessria a
desnaturalizao de prticas discursivas que colaboram para a manuteno da situao
marginal na qual se encontram os povos indgenas brasileiros.
Para refletirmos a partir desse contexto mais amplo, inicialmente, relembraremos uma
parte da Histria do Brasil
82
. Relembremos tambm que no perodo medieval as tradies
82
Um amigo que concordou em ler uma verso preliminar deste trabalho sugeriu-me a excluso da parte
histrica deste captulo (primeiro item). Ele considerou desnecessria uma incurso num passado to longnquo;
em certa medida, segundo compreendi, ele temia que o presente, ainda hoje to cheio de problemas e embates,
no ficasse suficientemente ressaltado. Ainda assim decidi manter este trecho. Para isso senti-me apoiada por
Foucault, que falava sobre a existncia de dois tipos de livros: o Livro Verdade cuja produo ocorre no
I
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
228
gregas e judaicas fundiram-se, gerando uma viso do Outro, do selvagem, associado idia
de maldio, do satnico, Queda do Homem (WOORTMANN, 2004). Assim, se os
gregos no revelaram sensibilidade para as diferenas, no buscavam a compreenso do
Outro, as atitudes dos europeus que aportaram nas Amricas tambm no favoreciam a
alteridade. Tal como os gregos consideravam reprovveis aqueles que tinham costumes
diferentes dos seus como viver em florestas ou desertos e no em reas cultivadas, ou o
nomadismo ao invs da vida na polis , os portugueses tambm reprovaram o modo de ser,
de viver e de pensar dos povos indgenas. Colocavam-se, ento, como modelos a serem
imitados, isto , como imagens a serem obtidas no espelho indgena por meio da adoo de
modos de vestir, de falar, de ser, de emocionar-se, de pensar e de agir semelhantes aos seus;
enfim, por meio da imitao da cultura portuguesa.
Tem sido mais comum que a Histria do Brasil seja contada a partir desse encontro
cultural e de uma forma clssica na qual temos a seqncia cronolgica de
acontecimentos histricos, o relato das aventuras que protagonizaram a descoberta com
seus signos de romance cavalheiresco, com suas vises profticas dos infernos na
representao do novo mundo, com esprito de misso e converso. Quando assume essa
forma, a Histria do Brasil inicia-se com a chegada de hericos navegadores portugueses no
ano de 1500. Logo eles se deram conta de que haviam descoberto uma terra grande e bela,
com promessas de muitas riquezas. Os habitantes dessa terra sem nome, sem dono e sem
passado estavam ali como peas do cenrio, desprovidos de qualquer direito, at mesmo o de
poderem continuar sendo o que sempre haviam sido (GAMBINI, 2000, p. 21). Entre eles,
viam-se mulheres nuas e disponveis que, seduzidas por presentes tais como espelhos, logo se
uniriam aos seus senhores, dando incio concepo do povo brasileiro. Mas observemos
que existem outras formas de narrativa histrica alm da clssica, uma das quais
inspirada em Foucault na qual so colocados em foco a invaso, a converso compulsria,
o processo constitutivo do poder colonial e os processos internos de submisso.
Em particular, adotarei um tipo de narrativa histrica que Subirats (1994) chamou de
dialtica da colonizao. Nesse caso, duas possibilidades narrativas justapem-se, reforam-
se e explicam-se mutuamente. Ao faz-lo, chamo a ateno para o fato de que na Histria do
Brasil o termo invaso foi substitudo por descobrimento, o que lhe d uma aura mgica e
sentido de enunciar verdades que conhecemos ou descobrimos e o Livro Experincia cuja escrita
transmite os sentidos, as relaes que construmos na busca pelas verdades que enunciamos. Penso que, quando a
pesquisa compreendida como um vagar orientado por um labirinto, quando a anlise rizomtica, o seu relato
deve ser, o mais prximo possvel, do Livro Experincia. nesse sentido que se torna importante a manuteno
destes dois itens, visto que os estudos realizados para escrev-los foram importantes para as descobertas que
fiz.
Captulo 7: Na Cmara dos Espelhos
Wanderleya Nara Gonalves Costa
229
potica, constituindo o mito de origem do povo brasileiro. Tambm importante atentar que
antes de 1500 j existia uma histria brasileira: vrios povos aqui viviam, criando e recriando
cultura, protagonizando a histria desta terra. Mas, ainda assim, comearei a me referir
histria brasileira a partir de 1500, chamando ateno para a sua dimenso simblica. Nesse
caso, o que mais importa no a histria como momento cronolgico dos acontecimentos,
mas sim o advento constitutivo no apenas das significaes de smbolos que foram e ainda
so importantes ao longo do perodo histrico, mas tambm dos embates entre eles
(DURAND, 1996, p.88/89).
7.1 O mito de origem do povo brasileiro e alguns embates simblicos
na construo da Cmara de Espelhos
No incio da invaso portuguesa no Brasil, com o objetivo de defender interesses
ultramarinos comuns, o rei de Portugal, D. Manuel I o Venturoso (cujo reinado ocorreu de
1495 a 1521) aliou-se Espanha, selando seu compromisso por meio do casamento com
Isabel, filha dos reis da Espanha. Como condio para o enlace foi-lhe exigido purificar
Portugal dos judeus. Foi assim que estes se viram obrigados a converterem-se ao cristianismo,
sendo ento batizados e tornando-se os chamados cristos-novos
83
. Naquele momento estava
presente em Portugal (mas no s l) o firme propsito de substituir crenas, valores,
significados e nomes dos povos subordinados por outros de origem crist. No caso dos ndios,
a questo no era substituir nomes, mas dar algum, pois
[...] o homem selvagem permanece inominado na ilha de Vera Cruz e na
Carta de Caminha, existindo para o marinheiro como um corpo significante,
aqum e alm da linguagem fontica. Sempre visto e apontado com o dedo.
Compete ao rei e ao papa dar-lhe significado, faz-lo entrar numa lngua
crist, numa teia de significados que determinam inapelavelmente o seu
nome e destino histrico. O corpo significante do indgena, para ter nome,
requer as benesses de uma lngua crist, requer a presena do representante
de Deus na Terra escolhida pelo rei, requer a cerimnia do batismo cristo.
Assevera Caminha: "E, por isso, se algum vier, no deixe de ser logo de vir
clrigo para os batizar". O processo de individualizao do selvagem tarefa
nica e exclusiva do papa que, por reciprocidade (no por doao, como
equivocadamente est em algumas bulas), a delega ao rei e sua lngua [...].
(SANTIAGO, 1995, p. 471).
83
Isso, contudo, no impediu que em 1506 eles fossem massacrados em Lisboa e os sobreviventes procurassem
refgio na Holanda.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
230
Se o Papa detinha o poder sobre as almas, o Soberano era o dono das terras e dos corpos. Essa
diviso de poderes foi o acordo ao qual chegaram aqueles que representam o que Foucault
(1994) chamou de poder pastoral e poder de soberania.
O poder pastoral, segundo ele, designa o poder do pastor sobre as ovelhas, um tipo de
poder no qual o Papa (pastor) e os catlicos (ovelhas) dependem um do outro: o Papa/pastor
tem poder sobre todas elas mas um poder que lhe exige estar pronto a qualquer sacrifcio
para salv-las, e seu dever conduzi-las vida ps-morte. O poder pastoral, ao ser exercido,
combina procedimentos que dizem respeito ao conjunto da populao e outros que atingem os
indivduos de maneira a sujeit-los e a faz-los produzir uma verdade ou um discurso sobre si
mesmos. Foucault assinala que o poder de soberania valeu-se da lgica do poder pastoral, mas
o poder poltico cuidaria da salvao do indivduo aqui mesmo, neste mundo, e dissociando-se
da idia de piedade e salvacionismo. O dever do rei era manter e se possvel ampliar os
domnios geogrficos e polticos que lhe legaram seus antepassados.
Os marinheiros, como sditos do rei e fiis Igreja, tinham o poder de batizar
acidentes geogrficos. Realmente, ao longo do tempo os marinheiros portugueses foram
nomeando terras e rios brasileiros, procurando mapear as terras invadidas. E ento, se
examinarmos os primeiros mapas das terras brasileiras, muitos deles traados antes de 1530,
percebemos que a conscincia europia aplicou o melhor de sua razo para
lidar com o desconhecido, isto , lanou mo de nome e linhas, pois a
realidade recm-descoberta s existia para o conquistador na medida em que
pudesse ser chamada de alguma coisa e localizada com alguma preciso num
mapa geral do mundo. [...] O nome de batismo e a linha reta, enquanto
smbolos de uma atitude apostlica associada a uma vontade frrea que no
conhece adaptao a outra realidade alm de si mesma, foram as
verdadeiras armas psicolgicas da conquista. (GAMBINI, 2000, p. 43)
grifo meu.
Nota-se ainda que
A primeira tentativa portuguesa de impor alguma estrutura ao caos tropical
foi o regime das Capitanias, em 1534. Diante da dificuldade prtica de
administrar por vias diretas o territrio, a Coroa fez doaes fundirias a
sditos distintos e leais que colonizariam o territrio por conta prpria,
recebendo para tanto poderes especiais e o ttulo de capito. Nesse episdio
percebe-se novamente o poder da linha reta, verdadeira antecipao das
cartesianas. A Coroa portuguesa traou as linhas horizontais a partir da
costa, nica realidade tangvel e povoada de ndios, avanando para oeste
rumo ao desconhecido, talvez at onde se encontrasse o Paraso. O papa
Alexandre VI traou mais tarde uma ativa vertical, o Meridiano de
Tordesilhas, para resolver uma acirrada disputa e manter em paz os dois
poderios do mundo catlico. A terra imemorialmente possuda j estava
assim mapeada distncia, com suas linhas de corte cirrgico, mas os
ndios no sabiam de nada. Essas linhas invisveis eram to poderosas como
Captulo 7: Na Cmara dos Espelhos
Wanderleya Nara Gonalves Costa
231
a nova conscincia que logo se apossaria deles. (GAMBINI, 2000, p. 48)
grifos meus.
Assim, vrios povos indgenas que, como os Auwe-xavante, pensavam o espao
circularmente passaram a ser vistos como intrusos nas terras retilneas agora consideradas
domnio do Rei de Portugal e de seus signatrios. De incio alheios a esse fato, com o tempo
os povos indgenas foram informados a seu respeito. Para tanto muito contriburam os
clrigos cuja vinda j havia sido solicitada na Carta de Caminha. Eles pertenciam
Companhia de Jesus, criada por Incio de Loiola.
Este, durante a convalescena de um ferimento ocorrido em 1521 na cidade de
Pamplona , decidiu dedicar-se ao servio de Cristo. Mais tarde, por meio de seus Exerccios
Espirituais, atraiu companheiros que junto com ele fizeram votos de pobreza, de castidade e
de obedincia e de uma peregrinao a Jerusalm. Com problemas para realizar a
peregrinao a Jerusalm e na nsia de dar maior agilidade e eficcia ordem por ele fundada,
Loiola suprimiu a obrigatoriedade de algumas prticas tradicionais e, em troca, deu nfase
obedincia, reforando o princpio da autoridade e da hierarquia e introduzindo um voto
especial de obedincia ao Papa (que, lembremos, era aliado do Rei)
84
. Mais tarde, mesmo que
no oficialmente, o voto de pobreza seria esquecido e graas s muitas doaes recebidas
as mais vultosas entre elas eram do rei de Portugal a Ordem tornar-se-ia muito rica, o
que contribuiu para que a Companhia de Jesus conquistasse e fortalecesse um grande poder
poltico e econmico.
Mas o fato que a religiosidade de Incio de Loiola que orientava os jesutas era
subordinada maior glria de Deus, cujo representante na terra era o Papa. Por essa razo,
tanto ele quanto seus companheiros deviam obedincia total ao Papa, numa disciplina
semelhante militar. Essa disciplina era fruto dos Exerccios Espirituais, descritos num
manual que levava esse nome e que pretendia criar uma mentalidade de luta contra os
adversrios da Igreja no mundo, alm de servir como instrumento psicolgico para o
treinamento das almas. De certa forma, os exerccios espirituais podem ser identificados
como "mtodos que permitem o controle minucioso das operaes do corpo, que realizam a
84
Durante o Imprio Romano a Igreja era considerada fora-da-lei, o que s comeou a mudar em 312 com o
imperador Constantino. Ele foi o primeiro representante do poder de soberania que utilizou o poder pastoral
para consolidar sua posio. De fato, Constantino resolveu usar a f crist como fator de unidade para o seu
imprio cada vez mais fragmentado; em troca ele fez grandes doaes financeiras para a construo de
magnficas igrejas. Anos depois o papa Gelsio (que ocupou o cargo de 492 a 496) teria escrito ao imperador
bizantino Anastcio: Existem, augusto imperador, dois poderes principais que governam o mundo: a autoridade
dos bispos e o poder real. Dentre eles, o poder sacerdotal o mais importante (LOPES, R. J. 2007).
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
232
sujeio constante de suas foras e lhes impem uma relao de docilidade-utilidade, so o
que podemos chamar as disciplinas " (FOUCAULT, 1994, p. 126).
Esses processos disciplinares que nos sculos XVII e XVIII se tornaram frmulas
gerais de dominao possuem uma origem esparsa que se deu a partir de uma
multiplicidade de processos que foram se repetindo, imitando, apoiando uns sobre os outros,
nos exrcitos, nos conventos, nas oficinas e distinguindo-se quanto ao campo de aplicao.
(FOUCAULT, 1994, p. 127). Com o tempo, esses processos, aos poucos, foram convergindo
e esboando uma fachada de um mtodo geral, conveniente tanto ao poder pastoral quanto ao
poder soberano. Tais mtodos fundamentavam a ao dos seguidores de Loiola, inclusive no
que se refere sua ao educativa, pois as normas para a formao religiosa na sua Ordem
determinaram tambm, a partir das idias contidas nos exerccios espirituais, a organizao
das escolas jesuticas. V-se, pois, que do ponto de vista do soberano portugus os clrigos
jesutas constituam um grupo interessante a ser enviado s novas terras para iniciar um
processo de educao escolar.
Ao trazer os jesutas para o Brasil em 1549 , o rei de Portugal pretendia,
principalmente, manter a ordem entre os prprios portugueses. Na Europa, nessa mesma
poca sculo XVI, momento scio-histrico da inveno da imprensa e da Reforma , a
diferenciao entre as classes sociais estava ficando cada vez mais exacerbada aps sculos de
feudalismo. A elite e a Igreja Catlica percebiam a importncia de manter ideologicamente
seu domnio. Entretanto, importante deixar claro que na sua atuao no Brasil os jesutas
estavam preocupados com a converso de almas, no em utilizar seus mtodos para tornarem-
se agentes civilizatrios ou dominadores
85
. Mas eles prprios j haviam se tornado corpos
dceis, isto , corpos manipulveis, modelados, treinados, obedientes
86
(FOUCAULT, 1994,
p.125). Assim, aqueles homens, que na sua maioria aqui desembarcaram jovens e idealistas,
acreditavam-se amorosos, munidos de uma misso e, baseados nessa certeza, comearam a
85
Anos mais tarde, j em 1895, o bispo salesiano Dom Lasagna escrevia: "Refiro-me converso e civilizao
dos pobres indgenas que, como filhos desherdados da famlia brasileira, gemem ainda na mais completa abjeo
e barbrie nesse solo abenoado da ptria comum. Pois sabido por todos que se encontram ainda aos centenares
e milhares as tribus dos infelizes selvagens disperses pelas immensas mattas do interior, os quaes esperam h
seculos uma mo benefica que chegue at s profundezas de suas miserias, para levantal-os dignidade de
homens e de christos, e incorporal-os ao resto da nao. Estimulam-me a esta empresa os prodgios de zelo e
valor que j se realizaram para esse mesmo fim to sublime nos sculos decorridos, e que ainda hoje se esto
realizando nos sertes do Brazil pelo heroismo de venerandos e intrpidos missionrios." (citado por
CASTILHO, 2000, p. 37).
86
Por uma questo de nfase, neste momento, tal como Foucault muitas vezes, deixo de lado os processos
psicolgicos de insubordinao, os conflitos internos pelos quais passaram os jesutas e que, por vezes, so
percebidos em suas cartas.
Captulo 7: Na Cmara dos Espelhos
Wanderleya Nara Gonalves Costa
233
destruir a identidade cultural dos indgenas, inaugurando um processo que no arrefeceu no
decorrer de mais quatro sculos. (GAMBINI, 2000, p. 147).
Nas escolas que tinham fundado, os jesutas recebiam filhos de portugueses e os
desses com as ndias, mas sua ao voltava-se prioritariamente para pequenos ndios que
depois lhes serviriam como mensageiros capazes de converter os ndios adultos. Nas
proximidades dos aldeamentos indgenas, os jesutas agrupavam meninos "apartados dos pais,
aos quais se aplicava a pedagogia do esquecimento da origem e da emulao da identidade do
mestre.(GAMBINI, 2000, p. 174). Como numa Cmara de Espelhos, esse tipo de educao
exigia a reproduo, a devoluo exata do ensinado. Como numa Cmara de Espelhos, esse
tipo de educao no pedia trocas, crescimento, criatividade, apenas imitao. A pedagogia
missionria adotada dizia criana ndia: "Esquea quem voc , quem so seus pais e de
onde voc veio. Isso tudo no vale nada. Abandone sua identidade, desvencilhe-se de sua
alma, olhe para mim, espelhe-se em mim, queira e fique igual a mim.(idem grifo meu)
Esse tipo de educao foi bastante eficaz: a estratgia utilizada de separar as
crianas dos pais era importante, visto que a famlia vem a ser a primeira instituio a
imprimir usos e posturas aspirando consolidar seus valores e suas atitudes em relao a
questes sociais, econmicas e morais vigentes (BELLO, 2000, p.9). junto famlia que,
geralmente, a criana passa a ter conscincia das vrias funes que dever assumir
(FOUCAULT, 1996, p.14). Dessa forma, compreende-se, pois, que as escolas jesutas
tivessem comeado a matar a cultura indgena a partir dos membros mais novos da sua
sociedade.
O trabalho dos jesutas no se resumia educao das crianas; eles atuavam tambm
na catequizao dos adultos, procurando moldar crenas, atitudes, modos de compreender e
de viver. Nessa poca j no existiam dvidas de que os ndios possuam alma, que estavam
"decididamente includos na lei natural da potncia humana anloga a Deus" (PCORA,
1995, p.425). A esse respeito vale ressaltar que para os exploradores das riquezas brasileiras
era interessante que os ndios fossem declarados sem alma (semelhantes a animais, no a seres
humanos) para que aqueles pudessem fazer com eles o que bem quisessem, explorar seu corpo
no trabalho ou mat-los, pois seu corpo era um invlucro de nada. Mas os religiosos catlicos
contrapunham-se a isso e, a partir do dia-a-dia das colnias, surgiu a necessidade de um
documento oficial da Igreja, esclarecendo que ndios tambm possuem alma. Foi nesse
contexto que o Papa Paulo III, em 1536, editou a bula Sublimis Deus, na qual afirmava que
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
234
os ndios eram humanos e tinham alma.
87
Essa posio adotada pela Igreja, por sua vez,
supunha evidentemente que os ndios fossem dotados de entendimento e capacidade de
aprendizado, ou pelo menos de imitao de comportamentos desejveis. Assim, eles tinham
uma rotina a ser seguida:
Todos os dias da semana, acabada a orao, se dir logo uma missa a que possam
ouvir os ndios antes de irem s suas lavouras [...] a qual acabada se ensinaro aos
ndios em voz alta as oraes ordinrias: a saber, Padre-Nosso, Ave-Maria, Credo,
Mandamentos da Lei de Deus, e da Santa Madre Igreja; e os Sacramentos, acto de
contrio e confisso, geralmente os dilogos do catecismo breve, em que se contem
os mistrios da f. Acabada esta doutrina iro todos o nossos para a Escola [...] aonde
aos mais hbeis, se ensinaro a ler e escrever, e havendo muitos se ensinaro tambm
a cantar, e tanger instrumentos para beneficiar os ofcios divinos; e quando menos se
ensinar a todos a doutrina crist...
(Pe. Antnio Vieira, Regulamento das Misses, sc. XVII, apud Amoroso, 2001, p.
133)
E ento, nesse contexto, diz Gambini (2000, p. 104): "todos os deuses, todos os
espritos, toda a transcendncia e significado foram aniquilados pelos jesutas, que causaram a
runa da alma nativa. Embora, claro, os religiosos conseguissem, pelo menos, manter vivos
os corpos dceis indgenas
88
pois nem mesmo suas vidas interessavam aos (outros)
exploradores das riquezas brasileiras, visto que eles no se submetiam escravido.
De todo modo, observa-se que mapas, escolas e atitudes apontam o fato de que os
jesutas e muitos portugueses influenciados por sua religiosidade viviam segundo uma
retido de carter, obedecendo a uma hierarquizao retilnea, buscando cumprir
retamente sua misso de evangelizar e salvar almas e de tornarem-se os modelos a serem
imitados, imagens a serem obtidas nos espelhos indgenas. Vislumbra-se tambm a
importncia que o smbolo da linha reta assumia para os clrigos jesutas no Brasil-Colnia.
89
Esse era o cenrio para o embate psicolgico entre estes e aqueles que desde que nascem
so educados para viver em grupo, numa comunidade que se completa circularmente,
executando danas circulares, vivendo em aldeias circulares, num mundo semi-esfrico. Este
momento representa a colocao da pedra fundamental para a construo da Cmara de
Espelhos, isto , para a constituio de um tipo de educao escolar que por sculos tem sido
oferecida aos povos indgenas. Foi esse, de certa forma, o incio do confronto entre dois
87
Naquele tempo uma bula papal contava muito mais do que na atualidade, e a Sublimis Deus hoje considerada
por muitos juristas como a primeira declarao universal dos direitos humanos.
88
Aqui tambm h uma questo de nfase ao se falar do corpo dcil, pois muitas vezes o indgena mostrava-se
indcil, inclusive fugindo das misses.
89
Cerca de trinta anos aps os jesutas, outras ordens religiosas, entre as quais esto os franciscanos, os
beneditinos e carmelitas, fixaram-se no Brasil, inclusive assumindo funes educacionais. Mas sua influncia no
processo de colonizao e na constituio de um modelo de escola no foi to grande quanto a dos religiosos da
Companhia de Jesus.
Captulo 7: Na Cmara dos Espelhos
Wanderleya Nara Gonalves Costa
235
smbolos, duas maneiras de pensar, de viver e, tambm, de matematizar e de educar. As
culturas indgenas, desvalorizadas desde o primeiro momento em ambiente escolar,
continuariam a s-lo...
Como se pode perceber por meio das citaes de sua obra apresentadas at aqui,
Gambini (2000), um psiclogo junguiano, d especial ateno ao embate entre os smbolos da
cultura europia que se relaciona linha reta (e infinitude) e as culturas indgenas
relacionadas s formas circulares. Em especial, para ilustrar o embate que se d a partir da
ao educacional escolar, ele focaliza alguns episdios acontecidos no sculo XVI e
protagonizados pelos educadores jesutas. Entre esses episdios esto alguns que primeira
vista parecem meros detalhes, mas, tal como Foucault (1994, p.128/129), vale ressaltar que:
Em todo caso, o detalhe era j h muito tempo uma categoria da teologia e do
ascetismo: todo detalhe importante, pois aos olhos de Deus nenhuma imensido
maior que um detalhe, e nada h to pequeno que no seja querido por uma dessas
vontades singulares. Nessa grande tradio da eminncia do detalhe viriam se
localizar, sem dificuldade, todas as meticulosidades da educao crist, da pedagogia
escolar ou militar, de todas as formas, finalmente, de treinamento. Para o homem
disciplinado, como para o verdadeiro crente, nenhum detalhe indiferente, mas menos
pelo sentido que nele se esconde que pela entrada que a encontra o poder que quer
apanh-lo.
O primeiro detalhe analisado por Gambini refere-se marginalizao do tembet
pedra redonda e polida que era inserida num orifcio perfurado no lbio inferior dos jovens
ndios, em cerimnia ritual, como sinal de virilidade, de individualidade, de compromisso
com o grupo e com suas tradies. "Quando ensinava os meninos a rezar, o padre Navarro
dizia que o tembet devia ser removido, porque impedia a pronncia correta da lngua
portuguesa. O resultado desse gesto a retirada da pedra redonda que simbolizava o self
era um menino doutrinado, capaz de repetir palavras sem sentido. (GAMBINI, 2000, p.147).
Esse resultado, at certo ponto, era esperado e desejado pelo mestre, pois o poder
disciplinador tem como funo maior adestrar, dominar comportamentos, conferir os efeitos
do poder (FOUCAULT, 1994). Era este o objetivo maior da educao oferecida aos ndios: o
adestramento para a utilidade nova sociedade que se formava.
Um segundo episdio foi ressaltado por Gambini a partir de um pequeno comentrio
que o Padre Anchieta, chegado ao Brasil em 1553, fez numa de suas cartas: Um dia,
repreendendo-o eu por estar a fazer um cesto no domingo, trouxe-o no dia seguinte escola e
queimou-o diante de todos por o ter comeado no Domingo (GAMBINI, 2000, p 148). Como
se observa, esse episdio diz respeito substituio de uma concepo circular do tempo, mas
prxima da natureza, por uma outra concepo, linear e arbitrria.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
236
No seu cotidiano os ndios reservam tempo para pescar, caar, produzir enfeites e,
tambm, simplesmente, para no fazer nada. Mas eles no reservavam, como seus educadores,
um determinado dia (o domingo) para somente vivenciar sua religiosidade. Esse modo de
viver contrastou radicalmente com o pensamento dos jesutas, primeiro por esse modo de
reverenciar o sagrado e depois porque foi a partir da tentativa rigorosa de empregar bem o
corpo dcil, disciplinado, de evitar o cio, que as ordens religiosas se tornaram mestras de
disciplina, especialistas do tempo, grandes tcnicas do ritmo e das atividades regulares
(FOUCAULT, 1994, p. 137).
O princpio presente nas ordens religiosas era o da no-ociosidade; era proibido perder
um tempo que contado por Deus. O cio, habitual aos ndios, era considerado um grave erro
moral; por isso eles tiveram que se submeter a um novo modo de gerenciar o tempo,
baseado num mito completamente diferente dos seus. Assim, na escola, os conhecimentos dos
invasores foram tomados como verdadeiros e aceitveis, enquanto o saber indgena foi
considerado repudivel. Outros mitos e smbolos, diferentes dos seus, lhes foram apresentados
como os de direito e os verdadeiros. O fato ilustra a afirmao de Foucault (1996, p.10) de
que a histria no cessa de nos ensinar o discurso no simplesmente aquilo que traduz
as lutas ou os sistemas de dominao, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual
nos queremos apoderar. Anchieta no queimou apenas um cesto, ele imps um novo discurso
que a partir de ento deveria ser considerado o verdadeiro. Ele queimou um modo de
pensar, de agir e de o ndio relacionar-se com a natureza, com um conceito de tempo, com a
divindade e, em ltima instncia, com os smbolos que a circularidade e a retido evocam.
Por meio desse episdio percebe-se ainda que
no interior de um discurso, a separao entre o verdadeiro e o falso no
nem arbitrria, nem modificvel, nem institucional, nem violenta. Mas se
nos situamos em outra escala, se levantamos a questo de saber qual foi, qual
constantemente, atravs dos nossos discursos, essa vontade de verdade que
atravessou tantos sculos de nossa histria, ou qual em sua forma muito
geral, o tipo de separao que rege nossa vontade de saber, ento talvez
algo como um sistema de excluso (sistema histrico, institucionalmente
constrangedor) que vemos desenhar-se. (FOUCAULT, 1996, p.14).
Esse sistema de excluso ainda sobrevive. verdade que o poder pastoral desenvolvido na e
pela Igreja comeou a perder o seu vigor j no sculo XVIII, quando, a partir do nascimento
do Estado moderno, o poder disciplinar foi institudo denotando tambm um
enfraquecimento do poder de soberania.
[...] O poder disciplinar se apresentou como uma sada econmica e eficiente
para a crescente dificuldade de levar o olhar do soberano a toda parte, numa
Captulo 7: Na Cmara dos Espelhos
Wanderleya Nara Gonalves Costa
237
sociedade europia que se complexificava, crescia e se espalhava pelo
mundo afora. De certa maneira, o poder disciplinar permitiu que a lgica do
pastoreio se expandisse do mbito religioso das relaes entre o pastor e
suas ovelhas para o mbito sciopoltico mais amplo. Mas, ao acontecer tal
expanso, o soberano pde ser mandado para casa, pois as tecnologias
disciplinares j poderiam dar conta do controle social. A entrada de um novo
dispositivo ptico que teve na arquitetura panptica seu suporte material
tornou o olhar do rei um anacronismo, muito menos eficiente e
econmico. (VEIGA-NETO, 2005, p. 81/82)
Nesse contexto Igreja e Estado afastavam-se cada vez mais. Por outro lado, a escola j havia
sido reconhecida como um eficiente e econmico agente de adestramento. Desse modo, por
sculos, o poder disciplinador continuou a servir-se dela para educar o cidado dcil, a
utilizar-se da cincia para conformar e doutrinar esse cidado e a utilizar-se do Estado para
dominar o corpo social (FOUCAULT, 1970, p.131) do qual ele parte. Entretanto, os anos
70 do sculo XX trouxeram consigo grandes mudanas na sociedade ocidental, observveis na
cincia, na economia, na poltica e na cultura. Tais mudanas abalaram as instituies
religiosas, a famlia, a empresa, a escola, a universidade e o Estado todas essas instituies
foram denunciadas como mquinas de poder e de represso da liberdade e da personalidade
individual.
Face s mudanas ocorridas, antigos poderes enfraqueceram-se e novos poderes
apareceram. Em particular, ao chamar a ateno para a crtica sistemtica das instituies,
Comblin (2007) destaca que o sistema educacional passou a ser denunciado como opressor,
tanto pela maneira de impor e exercer autoridade sobre os jovens, como pelo vazio de
contedo que quer impor. Num outro plo, esse mesmo autor destaca que a crtica s antigas
instituies deu lugar ao fortalecimento das entidades econmicas. Hoje em dia, analisa ele,
cada vez mais, o poder pertence s multinacionais que conseguem colocar a seu servio o
Estado, o sistema de ensino e o trabalho cientfico. As empresas multinacionais, ressalta,
dirigem todo o sistema de informao e de comunicao, todo o sistema de publicaes e de
transmisso de mensagens. Essa nova forma de poder no menos excludente que as outras;
ao contrrio, ela afasta todos os que como muitos ndios no se submetem sua
racionalidade instrumental e eficcia funcional. Por essa razo que, ao observarmos a
histria da educao escolar para os povos indgenas, esses deslocamentos de poder, de
saber e de orientar as relaes com o Outro no podem ser esquecidos, visto que foram
eles que nos levaram a oferecer um determinado modelo de imagem a ser obtida no espelho
de todos os povos, notadamente naquele espelho colocado em ambiente escolar.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
238
Ferreira (1992, p.164) diz que a histria da educao escolar entre os povos indgenas
no Brasil pode ser dividida em quatro fases distintas
90
. A primeira delas identifica-se com
aquele perodo em que a escolarizao dos ndios esteve a cargo exclusivo de missionrios
catlicos (no s jesutas, mas pertencentes a vrias ordens). A segunda fase, diz ela, foi
marcada pela criao do SPI (Servio de Proteo Indgena), em 1910, e estende-se poltica
de ensino da FUNAI (Fundao Nacional do ndio) e sua articulao com o Summer Institute
of Linguistics (SIL) e outras misses religiosas no catlicas. Por sua vez, o incio da terceira
fase teria sido marcado pelo surgimento de organizaes indigenistas no governamentais e
pela formao do movimento indgena organizado em fins da dcada de 1960 e nos anos
1970, ainda na poca da ditadura militar. A ltima fase, diz Ferreira, ocorre devido a uma
iniciativa dos prprios povos indgenas, a partir da dcada de 1980, e visa definir e autogerir
os processos de educao escolar formal que ocorrem em seus territrios.
De forma geral, h que se reconhecer que a segunda e a terceira fase da educao
escolar para os povos indgenas tinham como finalidades integrar o ndio, tir-lo do seu
estado selvagem para civiliz-lo e transform-lo em mo-de-obra para a produo
mineradora, madeireira, agrcola ou pecuria, e, principalmente, liberar suas terras. Assim, a
escola continuou produzindo os efeitos colonizadores presentes na primeira fase e levando a
problemas tais como dependncia e marginalizao. A quarta fase merece uma anlise
especial, notadamente porque o Estado e at mesmo as empresas tem proferido
discursos de apoio aos projetos indgenas de autodeterminao e de valorizao cultural, mas
devemos pensar at que ponto suas prticas discursivas no continuam a oferecer espelhos
aos povos indgenas.
7.2 Ainda o embate entre duas maneiras de educar
Do que foi dito pudemos perceber que a educao escolar imposta aos ndios fundou-
se em prticas discursivas e no discursivas que tinham como principal objetivo desvalorizar,
negar sua cultura e transform-lo em no-ndio. Hoje, na quarta fase pela qual passa a
educao escolar para os ndios, muitos educadores no ndios envolvidos nessa rea
90
Reconheo ser problemtica a diviso da histria da educao indgena em etapas lineares, evolutivas,
fixamente estabelecidas e excludentes a partir de claras rupturas , principalmente quando s primeiras se
outorga um carter negativo e s ltimas, positivo. Mas, ainda assim, adotarei esse modo de referir
historicamente a esta questo destacando, contudo, que em todas as etapas no excludentes, no lineares e no
evolutivas possvel identificar tanto aspectos positivos quanto negativos.
Captulo 7: Na Cmara dos Espelhos
Wanderleya Nara Gonalves Costa
239
educacional, notadamente os religiosos catlicos
91
, tm procurado modificar mais
profundamente sua atuao, indo alm do uso da lngua materna ou da introduo da arte
indgena no currculo. Por exemplo, em sua relao com os Auwe-xavante, os padres
salesianos tm procurado compreender os smbolos presentes no pensamento mtico desse
povo, como demonstra, em particular, o trabalho de Pe. Georg Lachinitt (2001) embora
no tenha cessado a tentativa de cristaniz-los. Esse fenmeno deve-se, em parte, ao fato de
que a prpria Igreja Catlica, notadamente ps-conclio Vaticano II, colocou como um de
seus objetivos a denncia s agresses sofridas pelos ndios e o apoio s suas reivindicaes e
direitos. Mas as maiores mudanas que tm ocorrido com relao educao devem-se,
principalmente, ao do prprio movimento indgena, ao fato de que, apesar de terem sido
catequizados por centenas de anos, os ndios no consideram como discurso verdadeiro aquele
transmitido pelas igrejas ou pela escola.
Outros educadores que no se ligam educao missionria tambm tm feito um
caminho paralelo e, dessa forma, por exemplo, foi possvel citar, no captulo 1, algumas
pesquisas realizadas por educadores matemticos junto a diferentes povos indgenas, inclusive
junto aos prprios Auwe-xavante. Muitos dos trabalhos realizados por tais educadores esto
relacionados formao de professores indgenas o empenho na formao desses
professores passa pelo atendimento s reivindicaes indgenas de que a educao matemtica
escolar em suas escolas deva se dar a partir da sua prpria atuao.
A maioria dos trabalhos de interveno e pesquisa dos educadores voltados para
estudos do Programa Etnomatemtica no tem desconsiderado o fato apontado por Hall
(2000) de que a identidade de um povo cambiante, est sempre em (re)construo. Ao
contrrio, existe um reconhecimento de que hoje grande parte das culturas indgenas
resultado do hibridismo cultural de sua condio fronteiria com a dita cultura ocidental.
Assim, na Etnomatemtica se reconhece que toda identidade cultural passvel de mudanas
a partir da interao com o Outro e que esse fato gera diferenciaes, (re)criaes. Decorre da
a idia presente nesses trabalhos de que necessria a anlise crtica da negociao de
significados que se realiza a partir da educao escolar, inclusive no que se refere
Matemtica. Em vista disso, os educadores (e/ou consultores) que atuam na formao de
professores indgenas e que assumem uma postura inspirada pelo Programa Etnomatemtica
tomam para si a tarefa de ensinar conceitos matemticos que tm sido universalmente
difundidos e valorizados, mas, tambm, de modificar (e s vezes at mesmo romper com)
91
Falo sobre as misses catlicas pelo fato de que, como disse no captulo 2, so elas que esto presentes na rea
auwe-xavante por meio da ordem dos salesianos.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
240
formas de ensino, mtodos, contedos e posturas fixados historicamente no ambiente escolar.
Nessa modificao considera-se a importncia de chegar a uma negociao satisfatria entre
diferentes formas de matematizar e educar.
Mas esse novo tipo de encontro cultural em curso na educao matemtica escolar
voltada para os interesses indgenas no pode perpetuar o erro de desconsiderar as ntimas
relaes que se estabelecem entre o pensamento lgico e o mtico, entre razo e emoo ou a
existncia de diferentes smbolos e valores que inclusive na aula de Matemtica se fazem
presentes. Nesse caso, faz-se necessrio que na sua atuao o professor formador (ou o
consultor) tenha um cuidado especial no sentido de estar aberto para a compreenso e para
o dilogo que o levaro a perceber que a escola crava no corpo e na alma de professores
(consultores e estudantes) um sinal, um estigma, um padro de conformao a "verdades",
sejam elas matemticas, mticas, afetivas, disciplinares, de excluso, esttica, cientfica,
dentre outras.
Nossa alma scio-histrico-cultural depositante de verdades e de discursos. Nosso
corpo , por sua vez, o depositrio de marcas e de sinais que nele se inscrevem e que nele se
fixam, a partir de muitos embates, tcnicas e instituies. Assim se observa, por exemplo, que
se no passado colonial o uso de castigos fsicos como instrumento pedaggico era aceito
nos colgios jesutas pelos filhos dos portugueses, o mesmo no ocorria por parte dos
pequenos ndios
92
. Hoje, de forma semelhante, faz-se necessrio compreendermos que, por
trs de um simples gesto como entrar ou sair da sala de aula pela janela (como fazem os
pequenos Auwe na escola da aldeia ver captulo 2) e da aceitao desse gesto por parte
do professor, h uma forma de conceber o poder como centrado no professor ou distribudo
igualmente para todos; uma maneira de cuidar de si mesmos como pessoas obedientes
confinadas a um corpo dcil, cujo lugar a ser ocupado o professor deve determinar, ou como
pessoas criativas e livres que devem determinar suas prprias aes; uma forma de ligao
com a realidade que distingue os diferentes ambientes ou que os integra; e um discurso de
verdade que se relaciona ao pensamento mtico de um povo, entre outros.
Tanto o convvio com os Auwe-xavante quanto um olhar mais amplo sobre a histria
do contato com os ndios brasileiros me levam a perceber que, como professores de
Matemtica/formadores/consultores que observam uma postura etnomatemtica,
importante compreendermos tambm (e levar compreenso) que na escola indgena muitas
92
Santos (2007), baseando-se em Mattos (1958, p. 56), diz que j nas primeiras palmatrias indgenas em grande
nmero fugiam das escolas dos padres para suas aldeias e no mais retornavam, o que teria sido responsvel pelo
fechamento de algumas das primeiras escolas jesutas, por falta de alunos.
Captulo 7: Na Cmara dos Espelhos
Wanderleya Nara Gonalves Costa
241
vezes imprimimos ao processo de ensino e aprendizagem um determinado tipo de emoo que
pode no ser o que est costumeiramente presente nesse tipo de ocasio. importante,
sobretudo, compreendermos que nessas escolas estamos falando no somente de um
conhecimento matemtico que lhes aliengena, mas tambm de um conhecimento que se
funde (ou pelo menos relaciona-se) com um pensamento mtico diferente do deles.
De fato, a Matemtica escolar atravessada por dispositivos discursivos que, alm de
conhecimentos, veiculam valores, emoes, crenas, mitos, smbolos e representaes; enfim,
veiculam uma determinada forma cultural ou uma estrutura de poder cultural. Os conceitos e a
forma de abord-los carregam ecos de outros significados e, desse modo, a Matemtica
escolar auxilia na produo de sentidos que ultrapassam o mbito da disciplina. Por essa
razo, um ensino de Matemtica que respeite e valorize as diferentes identidades, bem como a
posio de sujeito assumida pelas pessoas de diferentes povos, deve perceber claramente seu
prprio significado. A importncia de faz-lo reside no fato de que, mesmo sendo defensor do
reconhecimento e da valorizao da diversidade das Etnomatemticas, o prprio fazer
pedaggico dos professores (e/ou consultores) que se inspiram no Programa Etnomatemtica
pode veicular, dentre outros, apenas um tipo de relao entre conhecimentos etnomatemticos
e mitolgicos, entre razo e emoo, e apenas uma estrutura de poder bem como uma viso
nica de realidade possvel.
Com relao viso de realidade, lembremos que foi uma revitalizao, uma
reativao de seu lugar na sociedade que levou a escola, e principalmente a Universidade, a
aceitar discursos (teses, dissertaes, artigos) que criticam a veiculao e a valorizao apenas
do conhecimento cientfico, em prol dos conhecimentos locais, desqualificados,
marginalizados pela academia, como as Etnomatemticas de diferentes povos. Entretanto, a
Universidade sempre foi local de produo e veiculao do conhecimento cientfico, que de
maneira mais geral nega, por exemplo, suas relaes com o pensamento mtico e com a
dimenso emocional e afetiva. Cabe-nos, ento, questionar se no temos sido conformados
por essa prtica. Devemos desconfiar de nossas prprias produes, da maneira como os
saberes que estamos gerando so incorporados pela Universidade como instrumento de uma
forma de poder contempornea. Pensemos mais, por exemplo, acerca do discurso que, mesmo
valorizando conhecimentos etnomatemticos indgenas, os tem dilacerado, considerando
apenas aqueles conhecimentos presentes ou gerados em prticas cotidianas e ignorando que
esses povos no separam radicalmente conhecimentos prticos de conhecimentos mticos.
Pensemos, sobretudo, se ao ensinarmos Matemtica aos ndios no nos temos alinhado a uma
perspectiva economicista que propaga a importncia de os povos indgenas apreenderem
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
242
aqueles conhecimentos para que possam ser aderidos ao mercado, para que possam
comercializar sua produo agrcola ou, principalmente, para que transformem suas aldeias
em plo turstico para gerao de renda.
Em especial reflitamos, sobretudo, acerca do fato de que Estado e empresas, ao
falarem sobre preservao da cultura ancestral aliada a um processo educacional escolar,
esto implementando prticas discursivas que procuram impor aos povos indgenas sua
incluso no mercado de turismo. Essa proposta no busca solucionar estruturalmente a
desigualdade social, mas dizer aos ndios que eles apenas no morrero de fome se tomarem
os no-indgenas como espelho e, ao faz-lo, estudarem como ns, pensarem como ns,
quantificarem como ns, produzirem mercadorias como ns e consumirem como ns,
enquanto, concomitantemente, preservarem sua cultura para que os turistas possam apreci-la.
No temos tentado uma reviso radical das propostas para o nosso relacionamento
com os povos indgenas, de modo a afastar-nos dos erros do passado. Mesmo por meio de
uma educao que se pauta no reconhecimento dos saberes indgenas, muitas vezes
continuamos a tentar encontrar formas de aproxim-los, pelo menos em alguns pontos, da
nossa prpria maneira de ser inclusive da nossa forma de racionalidade e emocionalidade.
De certo modo, conformamo-nos com a idia de que a nica maneira possvel de viver
para eles e para ns adequar-nos situao mais ampla que a economia nos impe. Nesse
sentido, trocando a catequese pela escola, apenas arranhamos os espelhos que compem a
Cmara de Espelhos, mas no a destrumos.
De fato, se no passado colonial o que protegia os corpos indgenas era o batismo, em
geral, o nosso fazer atual parece alinhar-se ao entendimento de que hoje o saber escolar pode
e deve ser um anteparo para que os povos indgenas possam sobreviver realidade
socioeconmica que se mostra como inevitvel (a penria, situao de fome constante, uma
parte gritante dessa situao). Penso que muitas vezes decorre da o discurso de que o estudo
da Matemtica um instrumento poderoso para auxiliar na sobrevivncia dos povos
indgenas, pois, como salientado em alguns trabalhos, em especial alguns da dcada de 1990,
o ensino da Matemtica escolar os supre de conhecimentos que os tornam capazes de negociar
com os brancos as riquezas dos recursos naturais de que dispem, seus artesanatos, algum
excedente de produo agrcola e agora proporciona aos no-ndios o prazer de
acompanh-los em suas danas, de assistir a seus rituais. Assim, contribumos para tir-los
do cio e torn-los produtivos.
Mas continuemos a fazer um paralelo entre o que aconteceu no passado com relao
educao indgena e as propostas atuais que valorizam seus etnoconhecimentos. verdade
Captulo 7: Na Cmara dos Espelhos
Wanderleya Nara Gonalves Costa
243
que se, por um lado, a atuao jesutica destruiu grande parte da alma indgena, tambm
impediu que muitos ndios fossem massacrados. E verdade que hoje a educao escolar para
os ndios que se pauta pelas propostas do Programa Etnomatemtica possui tanto
aspectos positivos quanto negativos.
Ela refora as razes culturais indgenas, valoriza seus saberes ancestrais, coloca em
foco, aceita e valoriza diferentes modos de ser e de pensar, sem ter como objetivo a venda de
um produto extico, mas em busca do aumento da auto-estima de muitos povos e do
fortalecimento de estratgias para que eles possam lutar pelo que consideram importante.
Mas, por outro lado, o ensino de Matemtica, mesmo nesses moldes, fortalece o discurso de
que importante o aprendizado da nossa Matemtica para instrumento de sobrevivncia na
sociedade mercantil globalizada. Nesse caso, o ensino de Matemtica tem se tornado uma
eficiente tecnologia de conformao ao que apresentado como a nica realidade econmica
e social possvel e, ao mesmo tempo, tem servido como propagador da nossa cultura
93
em
vrias das suas faces.
a partir desse tipo de reflexo que penso ser necessria uma radical modificao na
postura do educador matemtico, habituado a no reconhecer que sua ao contm elementos
negativos cultura indgena e, tambm, a negar a relao entre o pensamento mtico e o
lgico-matemtico, entre afetividade e aprendizado. Essa minha afirmao no deve ser
entendida como um posicionamento contra o ensino de Matemtica para os povos indgenas,
pois hoje ele ainda tem sido realmente necessrio para a preservao dos corpos, mas, sim,
como um clamor pela inveno de novas formas de estarmos nas aldeias.
Por sua vez, penso que o pesquisador das Etnomatemticas indgenas, ontem
persuadido de que para conhec-las era necessrio to-somente olhar para as prticas sociais,
tambm ter que mudar essa atitude. Isso significar o deslocamento de uma prtica, uma
reformulao nas abordagens das pesquisas do Programa Etnomatemtica em reas indgenas,
no sentido de considerar a subjetividade das vrias Etnomatemticas.
Nesse contexto importante salientar que as identidades indgenas so mltiplas e,
embora um olhar superficial faa parecer que em sua maioria elas possuem a circularidade
como smbolo primordial, seus mitos, sua concepo de nmero, suas formas de medir, entre
outras caractersticas, so diferentes entre si. Creio que essas pequenas diferenas, ao se
93
Um exemplo nesse sentido foi relatado pela minha orientadora, a Profa. Maria do Carmo Domite, em
informao pessoal em fevereiro de 2007. Ela, que coordenadora de um programa de formao de professores
indgenas do Estado de So Paulo, chamou ateno para o fato de que, cada vez mais, estes professores solicitam
aos seus alunos que fiquem, durante todo o perodo das aulas, sentados nas cadeiras e que saiam pelas portas em
filas ordenadas. Observa-se, pois, a conformao dos seus corpos segundo a nossa cultura.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
244
cruzarem, produzem, pelo menos, minsculas e complexas relaes que nunca so iguais para
os diferentes povos e que no podem ser classificadas de forma muito rgida ou segundo as
mesmas categorias. Desse modo, as relaes estabelecidas entre as Etnomatemticas e os
mitos das vrias naes indgenas podem (ou devem) ser diferentes daquelas apontadas para o
caso dos Auwe-xavante. Afinal, o enigma contido em cada labirinto permanece, pois, como
disse Clarice Lispector, A explicao do enigma a repetio do enigma. Decorre da a
importncia de que outros estudos possam explorar tais relaes.
Parafraseando Geetz (2001, p.68), direi que, ao faz-lo, aqueles que pesquisam as
Etnomatemticas devero aceitar que por vezes as diferenas entre os pensamentos mticos
dos povos indgenas e as relaes entre estes e suas Etnomatemticas podero ser sutis e,
ento, seus textos talvez se tornem mais sagazes, ainda que menos espetaculares. De todo
modo, no falar apenas de Etnomatemtica ou Etnomatemticas indgenas, mas nomear esses
conhecimentos, como por exemplo, de Etnomatemtica Parinaia, mais do que relevar ou
reconhecer sua "natureza", reconhecer ou talvez indicar seu lugar social, inserindo-os numa
rede de discursos estratgicos. Assim, talvez, os conhecimentos etnomatemticos dos Auwe-
xavante no fiquem dispersos anonimamente em toda uma rede, mas sejam acentuadas suas
particularidades e reconhecido o vnculo existente entre seus mitos e seus outros
conhecimentos.
94
Talvez isso represente a quebra de um dos espelhos da Cmara e, quem
sabe, um fator importante para a sua destruio e a constituio de uma nova Cmara, um
novo espao escolar construdo para o dilogo, para o entendimento entre os diferentes.
Essa destruio faz-se necessria, pois ressalto que os espelhos embaam o olhar mais
acurado para a realidade que nos envolve. preciso desembaar este nosso olhar, na tentativa
de enxergar o real e represent-lo o melhor possvel nas suas contradies, na sua
ambigidade, na sua descontinuidade. necessrio reconhecer e lidar com a incompletude de
nossas aes e pesquisas, como forma de garantir uma atitude de procura e de no-
cristalizao de uma imagem, de um fazer ou de um pensar. A partir da, resta assumir uma
atitude de abertura e de aceitao de diferentes relaes existentes entre o crer, o sentir, o
pensar e o fazer que costumam escapar observao comum.
necessrio, enfim, uma mudana que implique a destruio da Cmara dos Espelhos
e a construo de um novo espao educacional que favorea a assuno dessa atitude. E nesse
novo espao a ser construdo, ao destituirmos da imagem de modelo a nossa maneira de ser,
94
Vale, ainda, lembrar a questo da dicotomia criticada por Woordward (2000) e Hall (2000) e tratada no
captulo 3. Naquela ocasio, foi trazida para o bojo deste trabalho a idia de que as identidades so relacionais, e
no dicotmicas.
Captulo 7: Na Cmara dos Espelhos
Wanderleya Nara Gonalves Costa
245
de saber, de fazer, de pensar e de sentir; a aparente firmeza; a solidez; a segurana e a
estabilidade da nossa imagem, lembremos de olhar para o Outro e permitir que ele nos olhe
colocando-nos frente diversidade, instabilidade e imprevisibilidade desse contato que
pode ser de conflito, de confronto, mas tambm de troca e interao. Quem sabe
conseguiremos construir um modo de olhar que, no se limitando a uma imagem de espelho,
leve tomada de atitudes que no submetam os educandos indgenas reproduo, ao
espelhamento, mas que permitam e estimulem tanto a reapropriao quanto o desvio; o
respeito e a valorizao, mas tambm a desconfiana e a resistncia. De fato, penso que se
possa favorecer a expresso dos conflitos e at do no-saber que guia (e guiar) nossos atos
nessa construo de saber estar com o Outro, saber esse construdo em conjunto, nesse
prprio estar.
Talvez, para isso, devamos fazer como sugere Gauthier (1999): resgatar a ligao entre
sabor, saber e sabedoria. Sabor, explica ele, diz respeito apreciao da diversidade da
experincia humana, quase sempre recoberta pelo discurso da universalidade. Saber refere-se
a todo um conjunto, no qual os diferentes processos de abstrao desempenham um papel
central. Sabedoria, diz esse autor, a unio singular, em um ser humano, de sabores e saberes,
o que permite a este relacionar-se com a Natureza inteira inclusive com o Outro.
Ento, com certeza, devemos ter presente que nenhum discurso inerentemente
libertador ou opressivo. A condio libertadora de qualquer discurso terico uma questo de
investigao histrica, no de proclamao terica, como nos alertou Sawicki (citada por
GORE, 1994, p.9).
...at mesmo os mais bem-intencionados atos
de interveno como foi, sob certo ngulo,
a obra jesutica trazem em si um potencial
destrutivo.
Gambini (2000)
Concluso: Fora do labirinto A experincia de percorr-lo
O Minotauro. George Frederic Watts, 1885
Ancio xavante
Se ouvirmos o mito, aparecero outros traos que, noutras
pocas, esto em ressonncia com problemticas nascentes
e ainda mal formuladas, pelas quais a metfora do labirinto
voltar a ser uma espcie de rampa de lanamento da
teoria. Ddalo adora voltar ribalta.
(Enciclopdia Einaudi, v. 8, 1988, p. 272)
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
248
Concluso: Fora do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
249
sada a porta principal (Boca Livre, 1992, Faixa 3)
Transponho uma das portas de sada do labirinto. Olhando para trs verifico
que empreendi uma viagem de formao e de descoberta, experimentando uma maneira
prpria de compreender o espao no qual estava. Nele nunca me senti uma prisioneira; ao
contrrio, num vagar livre busquei caminhos...
Por ora, um ltimo olhar para o labirinto
Intimamente, como professora de Matemtica, tenho procurado compreender o
pensamento matemtico a partir do enfoque da diversidade cultural. Talvez pretensiosamente
durante minha trajetria eu tenha tentado me aproximar da busca apontada por Prigogine
(1997):
Queremos mostrar que as cincias matemticas da natureza, no momento em
que descobrem os problemas da complexidade e do devir, se tornam
igualmente capazes de compreender algo do significado de certas questes
expressas pelos mitos, religies e filosofias; capazes tambm de melhor
avaliar a natureza dos problemas prprios das cincias cujo objeto o
homem e as sociedades humanas. (PRIGOGINE, 1997, p.25)
Essa busca, bem como estudos relacionados ao Programa Etnomatemtica e situaes
vivenciadas no meu cotidiano enquanto moradora na regio da cidade de Barra do
Garas/MT, levou-me a uma aproximao com os povos Be-bororo e Auwe-xavante. A
partir de um estudo inicial, formulei aquela que seria a minha questo de pesquisa durante o
doutorado: Como a Etnomatemtica dos Auwe- xavante se relaciona com os mitos e ritos
desse povo?
Esta questo proporcionou-me uma excurso dentro do labirinto que so o pensar e o
sentir humanos. Para respond-la procurei estudar a nossa capacidade de produzir e
manipular smbolos. Mas essa busca insere-se num movimento maior, mais complexo, que
trata de reunir novamente o crebro, o corpo e o mundo. Trata-se mesmo de assumir que as
formas simblicas, as tradies histricas, os artefatos culturais, os cdigos neurolgicos, as
presses ambientais, as inscries genticas e coisas similares atuam em conjunto. GEERTZ
(2001 p. 176). Aps esse estudo primeiro, para um maior entendimento dos smbolos e dos
mitos, trilhei o caminho da Semitica. Posteriormente, no emaranhado de caminhos de que
dispunha, encontrei-me naqueles abertos pelos psiclogos junguianos. Seus princpios
pareceram-me promissores, Jung ofereceu uma interessante definio de smbolos, alm de
A
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
250
reconhecer a importncia dos mitos, dos sonhos e da afetividade. Mas encontrei tambm na
Psicologia uma incansvel busca por ressaltar as similaridades do pensamento humano,
destacando a diversidade como superficial e a universalidade como profunda. No convencida
por tais explicaes, decidi trilhar o caminho dos antroplogos, ouvir o que diziam a respeito
dos conhecimentos particulares, prprios de cada grupo humano.
verdade que, inicialmente (se observarmos a Histria da Antropologia), tal como os
semiticos e os psiclogos junguianos, os antroplogos destacavam as similaridades das
vrias culturas para, depois de algum tempo, afirmar que o que os seres humanos tm em
comum no , afinal, o aspecto que nos deve chamar a ateno, pois o importante a
diversidade cultural. No caso das mitocosmologias, dizem, o que realmente importa no o
que as narrativas podem afirmar acerca das similaridades entre os seres humanos, mas sim o
que dizem sobre o modo especial de cada povo explicar o mundo, seu prprio comportamento
e o dos outros seres vivos. Mas, antes que eu pudesse me acomodar nessa explicao, ouvi os
ecos dos gritos de Foucault. No, dizia ele, insuficiente perceber as diferenas entre as
produes culturais dos vrios grupos, importa explicitar a forma como se d a constituio
do sujeito; explicitar as relaes de poder, as prticas discursivas e no-discursivas que nos
levam a ser o que somos. Sim, concordou Hall, isso verdade. Contudo, disse ele, devemos
lembrar sempre que ns no somos, ns nos transformamos a cada momento, isto , a
identidade no nica, nem fixa, nem completamente coerente.
Ouvi a todos esses autores, eles se tornaram importantes no meu caminhar, apoiando e
orientando as minhas descobertas. Outros autores, outras reas de estudo acenavam-me,
apontando diferentes possibilidades de explorao do labirinto, vrias possibilidades de
complementao do estudo. Mas seguir esses outros caminhos era uma forma de tornar o
labirinto intransponvel, um eterno vagar, uma busca sem fim. Os caminhos que escolhi para
trilhar j me apontavam uma grande cmara e uma possvel sada do labirinto. Decidi, ento,
transpor a porta que levaria Cmara das Matemticas Simblicas de Spengler.
O historiador Spengler assinalava a existncia de mltiplas Matemticas (ou
Etnomatemticas) relacionadas diversidade cultural, alma, identidade, aos
sentimentos, aos gostos, ao smbolo primordial de cada povo. Ele tratou especialmente da
Matemtica Apolnea, da Matemtica Faustiana e da Matemtica Mgica. Para descrever os
elementos fundantes das diferentes Matemticas, Spengler analisou historicamente as redes
simblicas nas quais esses conhecimentos estavam inseridos. Na sua rede vrios ns
foram considerados: arte, arquitetura, concepo de tempo e de nmero, dentre outros. Mas
Spengler no tratou dos mitos criao cultural que, ao longo dos caminhos trilhados na
Concluso: Fora do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
251
Psicologia, Antropologia e at mesmo na Sociologia, teve sua importncia reafirmada. Tratei,
ento, de ressaltar, na rede simblica, esse n analisando-o a partir dos mitos
cosmolgicos. Essa anlise, rizomtica, tornou-se possvel porque histria e mitos foram por
mim compreendidos como narrativas que se entrecruzam, imbricam-se, confundem-se,
fundamentam-se ou limitam-se.
A partir da, a anlise das cosmologias gregas dos pr-socrticos aqui entendidas
como mitocosmologias e da cosmologia mtica ocidental-crist veio reafirmar as
caractersticas apontadas por Spengler para a Matemtica Apolnea e para a Matemtica
Faustiana, confirmando a possibilidade de usar os mitos para detectar elementos fundantes das
diversas Etnomatemticas. Pude, ento, voltar-me atentamente para os mitos auwe,
procurando, principalmente a partir deles mas sem desconsiderar a histria, os ritos e
outras prticas cotidianas dos Auwe-xavante tentar compreender os conhecimentos
etnomatemticos desse povo em suas mltiplas relaes. Para tanto, de um lado, utilizei-me
de estudos de religiosos (em especial Giaccaria e Heide) e antroplogos (em especial Shaker)
acerca dos mitos desse povo. Por outro lado, resultados de uma pesquisa anterior que realizei,
bem como aqueles encontrados por colegas (Silva, em especial) ofereceram os dados acerca
dos conhecimentos etnomatemticos auwe. A esses conhecimentos dei um nome: Parinaia
os criadores. A partir de ento tomei categorias de anlise que me foram sugeridas pelos
estudos de Spengler, pelos escritos de Foucault e pelos prprios mitos: tempo, nmeros,
espao, formas, smbolo primordial, ligao com a realidade, teogonia e religiosidade, poder,
o fogo como smbolo de poder, o discurso verdadeiro, a verdade sobre si mesmo, valores, a
viso dos povos acerca de si mesmos como produtores de saber.
Na anlise no tomei em separado, como uma das categorias, a dimenso afetivo-
emocional mas procurei enfatizar que ela est sempre presente, em qualquer das categorias
consideradas, pois ela parte do pensamento, fundamental na constituio do sujeito e de
seus saberes.
Cada uma das categorias consideradas no bojo do trabalho foi analisada para o caso da
Matemtica Apolnea, da Matemtica Faustiana e da Etnomatemtica Parinaia, na tentativa
de apontar relaes entre elas e as mitocosmologias grega, ocidental-crist e auwe-xavante,
respectivamente. A principal razo para no me fixar apenas na Etnomatemtica Parinaia,
mas tomar tambm as outras duas (Etno)matemticas, esteve no fato de contrapor-me ao
discurso de que nelas o mythos e o logos esto separados, enquanto somente nos
conhecimentos indgenas essa relao se faz presente. Desse modo, a anlise conjunta foi uma
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
252
tentativa de evitar, nesse contexto, uma viso preconceituosa acerca do pensar (e sentir)
indgena.
Alguns dos resultados obtidos foram:
1. Ao focar as relaes entre mitos, concepo de tempo e concepo de nmero:
observei que nas cosmologias mticas gregas predomina a concepo de um
tempo cclico e que os nmeros so concebidos como independentes e
preexistentes aos seres humanos e prpria Terra. Na cosmologia crist-
ocidental o tempo concebido como uma semi-reta ascendente e quase
infinita, enquanto os nmeros so concebidos como criao divina. A
mitocosmologia auwe-xavante revela uma concepo mista do tempo
simultaneamente circular e linear, mensurvel e imensurvel ; revela ainda
que para esse povo o nmero (qualitativo) visto como uma criao dos
prprios Auwe-xavante.
2. Quando o foco de anlise foram as relaes estabelecidas entre mitos, teogonia,
religiosidade e espao, observei, para o caso grego, que estava presente a
concepo de um espao prximo, diferenciado, distribudo em nveis. Por sua
vez, a teogonia ocidental-crist trouxe a idia de um espao dividido em dois
grandes nveis: terreno e celeste. A distncia entre esses espaos aproxima-
se do infinito e pode ser associada idia da semi-reta ascendente, o que, de
certo modo, justifica a importncia da linha reta para o modo de pensar
faustiano (ocidental-cristo). Para os Auwe existe uma distino qualitativa do
espao (no em nveis); isso se reflete, inclusive, numa organizao circular do
espao e na importncia simblica do crculo, da semi-esfera e do semicrculo.
3. Ao analisar as mitocosmologias focalizando as relaes de poder, observei que
nas cosmologias gregas e ocidental-crist o ser humano aparece como nico
herdeiro de parte de um poder divino e, portanto, superior aos outros animais.
Numa posio diversa, a cosmologia auwe-xavante fala de um poder nascido
nas/com as pessoas, que so seres da natureza como os outros animais. Isso
gerou diferentes posies frente gerao de saberes: voltada para o domnio
da natureza e para uma explorao enriquecedora, por um lado, e para o
cuidado para com a natureza e para a explorao necessria, por outro.
4. Ao me deter nas cosmologias gregas e ocidentais-crists, percebi diferenas e
aproximaes entre os discursos verdadeiros, produzidos a partir da reflexo e
da observao, respectivamente. O discurso verdadeiro grego julgado a partir
Concluso: Fora do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
253
do prprio enunciado avaliado por todos segundo o seu sentido, a sua
forma, o seu objeto. O discurso verdadeiro ocidental-cristo produzido e
avaliado pelo uso adequado de tcnicas cientficas e referncias bibliogrficas.
Ele impe ao sujeito que conhece uma certa posio, um certo olhar e uma
certa funo; e tende a exercer presso e poder de constrangimento sobre
outros discursos, excluindo-os ou mascarando-os. Os discursos verdadeiros dos
Auwe-xavante fundam-se nas histrias antigas narradas pelos seus ancestrais,
nos sonhos dos velhos, nas observaes e nas reflexes que se do a partir da
dinmica cultural interna ou a partir do contato. Eles dizem respeito,
principalmente, a valores, a saberes e a prticas e so avaliados de acordo com
o respeito tradio, ao experienciado e ao observado.
5. Ao atentar para os discursos que falam da relao do sujeito consigo mesmo e
com os outros, conclu que podem ser entendidos como uma tcnica de guia
espiritual. No caso grego, ele era voltado para a convivncia dos cidados e
dizia respeito ao conhecimento e ao ensino de verdades sobre o mundo e a
natureza, sobre as leis da cidade e sobre a verdade, os estilos de vida, as ticas
e estticas da existncia. O conhecimento de si e a verdade sobre si mesmo, nas
culturas ocidentais-crists, tratam, principalmente, da submisso da pessoa a
Deus, do discpulo ao mestre ou dos saberes e fazeres ao mtodo cientfico. No
caso dos Auwe-xavante, o discurso sobre si mesmo aproxima-se do
observado entre os gregos quanto ao contedo e forma de enunciao; mas
dele afasta-se quanto validade. A validade no est no enunciado em si, mas
no confronto deste com as aes dirias daquele que profere o discurso. Esse
pode ser um dos grandes pontos que diferenciam a lgica auwe-xavante da
nossa lgica.
Alm dos resultados destacados acima, a anlise comparativa realizada apontou
outros. Em conjunto eles me levam a afirmar que a Etnomatemtica dos Auwe-xavante, a
Parinaia, tal como a Matemtica Apolnea e a Faustiana, est fortemente relacionada aos
mitos e ritos do povo que a produziu e produz. A partir da, estabeleci um olhar, ainda que
rpido e superficial, para os processos educacionais a que so submetidos os povos indgenas,
o que me levou a perceber que essas diferentes relaes tambm ali se fazem presentes. O
reconhecimento desse fato, bem como de que a escola e a Matemtica veiculam, alm de
conhecimentos, valores, crenas, mitos, smbolos e representaes, levaram-me a perceber a
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
254
importncia de que assumamos que a capacidade humana de conhecimento envolve no s o
crebro, isto , a razo em sua interao com o meio, mas tambm a emoo, a sensibilidade,
a intuio, a imaginao e as crenas. A partir da, ressalto que:
Os estudos dos mitos fundantes podem revelar-nos cosmovises diferentes das
nossas, capazes de gerar diferentes maneiras de pensar, de sentir e de atuar. Por sua
vez, tal fato leva-nos a desconstruir nossas certezas a respeito do nosso prprio pensar,
sentir e atuar e a refletir acerca dos diferentes modos, conscientes e inconscientes,
pelos quais reproduzimos tcnicas de dominao da nossa prpria cultura na relao
com outras.
Aos pesquisadores acerca das Etnomatemticas indgenas no basta realizar uma
etnografia cultural e social; torna-se tambm necessria a realizao de uma etnografia
do imaginrio.
O professor, o formador de professores e/ou consultor que atua segundo a perspectiva
de respeito e valorizao dos diferentes conhecimentos etnomatemticos deve tambm
perceber e deixar claras as diferenas fundantes entre tais conhecimentos,
ressaltando, inclusive, os mitos a eles subjacentes.
Todos aqueles que de alguma forma procuram auxiliar no dilogo entre as diferentes
Etnomatemticas devem assumir uma postura de busca constante pela compreenso
dos smbolos nelas presentes, priorizando-os em relao aos signos.
Nesse contexto vale lembrar a afirmao de que h momentos na vida que a questo
de saber se possvel pensar diferente de como se pensa e perceber distinto de como se v
indispensvel para seguir contemplando ou refletindo (FOUCAULT, 1996-a, p.12). Assim,
reafirmo que, apesar de sua breve histria, aqueles que atuam sob o abrigo do Programa
Etnomatemtica devem repensar suas prticas em contextos indgenas pois elas contm
no s acertos, mas tambm erros. Sobretudo, devemos nos lembrar do alerta de Foucault
(1985, p. 96) de que
Os discursos, como os silncios, nem so submetidos de uma vez por todas
ao poder, nem opostos a ele. preciso admitir um jogo complexo e instvel
em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito de
poder, e tambm obstculo, escora, ponto de resistncia e ponto de partida
de uma estratgia oposta. O discurso veicula e produz poder; refora-o, mas
tambm o mina, expe, debilita e permite barr-lo... No existe um discurso
do poder, de um lado e, em face dele, um outro, contraposto.
Feitas as sugestes que, creio, podem auxiliar no sentido de que a Educao
Matemtica que ocorre junto s populaes indgenas (e outras) venha a respeitar a alma, a
Concluso: Fora do labirinto
Wanderleya Nara Gonalves Costa
255
identidade simblica dos diferentes povos, encaminho-me para a porta de sada. Mas ainda h
tempo para desculpar-me frente queles que esperavam aqui, de fato, conhecer a alma Auwe-
xavante.
Penso que minha escrita no pode, verdadeiramente, dar a conhecer a alma desse povo
pois ela, a minha escrita, bem mais restrita do que o olhar-ouvir-sentir que pode
proporcionar esse conhecimento. Escrever ou ler os mitos auwe-xavante no nos leva a
vivenci-los. As anlises feitas sobre eles no transmitem os seus mistrios e fascnios. Para
isso necessrio, pelo menos, estar na aldeia; ouvir um dos ancios falando com a luz do luar
refletida nos cabelos brancos e o claro da fogueira avermelhando o seu corpo; presenciar os
gestos, as pausas, a modulao da voz, as onomatopias levando-o a incorporar as
personalidades dos personagens mticos e perceber os efeitos nos ouvintes. Nada que eu
diga ou escreva pode dar uma boa idia do som das risadas no rio e da alegria de fisgar um
peixe ou obter sucesso na caada. Conhec-los implica usar os sentidos, a emoo, a intuio
e, tambm, a razo tudo isso gera um concentrado que evanescente e sensvel. Esse
concentrado diz respeito a toda uma histria, mas tambm deve exprimir o que ocorre a cada
dia, falar da ligao com a terra e com as plantas e animais que ali vivem, do canto e do
encanto tanto quanto da penria, da fome, da falta de segurana no transporte e da falta de
sade.
A narrativa das danas noturnas no retrata a emoo de quem delas participou; falar
sobre a msica auwe-xavante no traz o seu eco na mata, o som dos ps em interao com a
Terra fazendo o acompanhamento a palavras que nunca sero traduzidas. Muito da alma
Auwe-xavante tambm est relacionada aos rios necessrios sua vida e transcendncia;
luz do sol que permite o conhecimento amplo do ambiente que os cerca; ao escuro da noite
que lhes traz o frescor; aos astros que fazem companhia aos jovens que resolvem dormir na
praa central da aldeia; s aves que os despertam; s sementes que, brotadas, lhes trazem
alimentos e que colhidas antes disso os enfeitam; s rvores e animais muitos deles
antepassados mticos seus e companheiros constantes. Principalmente, sei que somente eles
podem descrever sua prpria alma. sabendo de tudo isso que fao o que me foi solicitado
por ancios na reunio do war da aldeia de gua Branca: escrevo agora a mensagem que
consideraram importante que eu enunciasse a todos na Universidade e na cidade: Ajudem-
nos a cuidar da natureza; todos precisamos dos rios.
De todo modo, trago como principal marca da minha explorao pelo labirinto na
companhia dos Auwe-xavante o respeito por esse povo e a provisria certeza de que
existem, sim, diferenas ora marcantes ora sutis nas relaes que so estabelecidas pelas
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
256
diversas culturas ao suprir suas necessidades de contar, de explicar, de medir, de cuidar de
si, dos outros, da natureza, dos deuses , de classificar, de jogar, de exercer o poder ...
necessidades, enfim, de sobreviver, de transcender e de conviver. Penso que tais diferenas,
sejam elas marcantes ou sutis, esto inextricavelmente unidas forma de conceber o mundo, a
vida, os seres humanos e a divindade. Entretanto, mesmo que as diferenas se apresentem de
forma sutil, elas existem e a sua desconsiderao no pode ser vista como normal, legtima ou
inevitvel. A perpetuao desse discurso violenta a alma dos Outros.
Colocar um ponto final neste trabalho apresentando apenas estas certezas pequenas
e provisrias, e no grandes concluses, no me afeta tanto quanto a princpio poderia
parecer. Afinal, Geertz (2001) alertou-me contra a paixo pela completude, pela certeza e pela
sntese totalizadora, dizendo que, nas iniciativas de considerar as diferenas do pensamento
humano h muito mais maneiras de errar do que de acertar. E, disse ele, uma das maneiras
mais comuns de errar nos convencermos de que acertamos de que as diferentes maneiras
de pensar esto explicadas, de que desvendamos os segredos, e de que podemos, enfim,
escrever a ltima palavra.
A ningum dado percorrer mais que uma parte
infinitesimal do palcio. Alguns conhecem apenas os
pores. Podemos perceber alguns rostos, algumas vozes,
algumas palavras, mas o que percebemos nfimo.
nfimo e precioso ao mesmo tempo.
BORGES, vol. 2, p. 545
Bibliografia
Wanderleya Nara Gonalves Costa
257
Bibliografia
ABENSOUR, M e outros. Tempo e Histria. So Paulo: Companhia das Letras/ Secretaria
de Cultura, 1992.
ALLEAU, Ren. A cincia dos smbolos. Lisboa: Edies 70, 1976.
ALMEIDA, M. W. B. Simetria e entropia: sobre a noo de estrutura de Lvi-Strauss. Rev.
Antropologia. So Paulo, vol 42 n.1-2, 1999. Disponvel em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77011999000100010>.
Acesso em 27 de maro de 2006.
ALVES, Rubem, Filosofia da cincia, introduo ao jogo e suas regras. So Paulo:
Brasiliense, 1983.
AMOROSO, M. R. Mudana de hbito: catequese e educao para ndios nos aldeamentos
capuchinhos. In: SILVA, A.L. e FERREIRA, M. K. L. (org.). Antropologia, histria e
educao: a questo indgena e a escola. So Paulo: Global, 2001.
ANDRADE, S.A., COSTA,W.N.G. e DOMINGUES, K.C. Ethonomathematics: a
genealogical and archaeological look at mathematics. In: Anais ICEm3. Auckland, Nova
Zelandia, 2006. Disponvel em: <www.math.auckland.ac.nz/~poisard/ICEm3/ICEm3.html>.
Acesso em dezembro de 2006.
ANGOTTI, Jos Andr Peres. Ensino de cincias e complexidade. Disponvel em:
<http://www.ced.ufsc.br/men5185/artigos/angotti_ensino_de_ciencias.htm>. Visitado em
outubro de 2005.
ARANTES, V. A. Afetividade e cognio: Rompendo a Dicotomia na Educao. 2003.
Disponvel em: <www.hottopos.com/videtur23/valeria.htm>. Acesso em maro de 2007.
AVENS, Robert - Imaginao realidade. O Nirvana ocidental em Jung, Hillman, Barfield
e Cassirer. Petrpolis: Vozes, 1993. (Coleo Psicologia Analtica)
BARBOER, R, A. Portal da Existncia. Primeiros Filsofos. In: Os pr-socrticos e o
sentido do Universo. Editora Edio Filosofia Especial Escala. Ano 1, n. 2. 2007. p. 72-79
BARROS, Edir Pina. Reflexes sobre escolar indgena na conjuntura atual. In: Conselho de
Educao Escolar Indgena de Mato Grosso. Urucum jenipapo e giz: educao escolar
indgena em debate. Cuiab/MT: Entrelinhas, 1997.
BARTHES, Roland . Mitologias. 5. ed. So Paulo: Difel, 1982.
BARTON, B.D. Matemtica e Linguagem: Divergncia ou Convergncia? In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE ETNOMATEMTICA. 1 Anais. So Paulo:
FEUSP/CBEm1. 2000, p.104-108.
BECKER, Oskar. O pensamento matemtico. Sua grandeza e seus limites. So Paulo:
Helder, 1965.
BELLO, S. E. L., Educao Matemtica indgena: um estudo etnomatemtico com os ndios
Guarani-Kaiow do Mato Grosso do Sul. 1995. Dissertao (Mestrado em Educao) - Setor de
Educao, Universidade Federal do Paran/UFPR, Curitiba.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
258
BELLO, S. E.L. Etnomatemtica: relaes e tenses entre as distintas formas de explicar e
conhecer. 2000. Tese (Doutorado em Educao) Faculdade de Educao, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas.
BENEDETTI, S.C.G. Entre a educao e o plano de pensamento de Deleuze &Guattari:
uma vida... 2007. Tese (Doutorado em Educao) Faculdade de Educao, Universidade
de So Paulo, So Paulo.
BZIAU, J.Y. A lgica universal. In: DA COSTA, N. C. O conhecimento cientfico. So
Paulo: Discurso Editorial, 1997.p. 146-150.
BHABHA, H. Narrando a nao. IN: ROUANET, M. H. (org.). Caderno da Ps/Letras.
Rio de Janeiro: UERJ, 1997.
BICUDO, M.A.V. e BORBA, M. C (org.) Educao Matemtica: Pesquisa em
Movimento. So Paulo: Cortez, 2004.
BLANCH, R. e DUBUCS, J. Histria da Lgica. Lisboa: Edies 70, 2001.
BORGES, Jorge Luis. Obras completas. So Paulo: Globo, 1998.
BORGES, L. C. Evoluo do registro do tempo. In: Scientific American Brasil, N. 14,
Edio Especial Etnoastronomia, p.38-45. So Paulo: Duetto, 2006.
BOYER, C. B. Histria da matemtica. So Paulo: Edgard Blcher, 1974.
CALVINO, I. As cidades invisveis. So Paulo: Companhia das Letras, 1990.
CAMARGO, Dulce Maria Pompo e ALBUQUERQUE, Judite Gonalves de. Projeto
Pedaggico Xavante: Tenses e rupturas na intensidade da construo curricular. Caderno
Cedes, Campinas, v. 23, n. 61, p. 338-366, dezembro 2003. Disponvel em:
<http://www.cedes.unicamp.br> . Consultado em abril de 2006.
CAMARGO, R.M.S. Primeiros filsofos. In: Os pr-socrticos e o sentido do Universo.
Edio Filosofia Especial. Ano 1, n. 2. 2007. So Paulo: Escala. p. 24 a 31.
CAMPBELL, J. e MOYERS, B. O poder do mito. So Paulo: Palas Athena, 1990.
CAMPBELL, J. Para viver os mitos. 9. ed. So Paulo: Cultrix, 2000.
CAMPOS, Mrcio DOlne. Etnocincia ou etnografia de saberes, tcnicas e prticas? In:
SEMINRIO DE ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA DO SUDESTE, 1, 2001. Rio
Claro. Anais. Rio Claro, UNESP, 2002. 48-90.
CAPRA, F. O Ponto de Mutao. So Paulo: Cultrix, 1991.
CARVALHO, J.C.P. Imaginrio e cultura escolar: um estudo culturanaltico de grupos de
alunos em etno-escolas e numa escola urbana. Revista de Educao Pblica. Cuiab, v. 3,
n. 4. jul. dez 1994.
CARVALHO, J.C.P. Imaginrio e mitodologia: hermenutica dos smbolos e estrias de
vida. Londrina: Editora da UEL, 1998.
CASSIRER, Ernest. Ensaio sobre o Homem Introduo a uma filosofia da cultura
humana. So Paulo: Martins Fontes. 2001.
CASTORIADIS, C. As encruzilhadas do labirinto 1. Rio de Janeiro: Paz e Terra S/A,
1987.
CHAU, M. Introduo histria da filosofia. So Paulo: Brasiliense, 1994.
Bibliografia
Wanderleya Nara Gonalves Costa
259
CHOVELON, Pe. Hiplito, FERNANDES, Me. Francisco e SBARDELLOTTO, Pe. Pedro.
Do primeiro encontro com os xavante demarcao de suas reservas. Campo Grande:
MSMT - UCDB, 1996.
CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988.
COMBLIN, J. As grandes incertezas na Igreja atual. REB-Revista Eclesistica Brasileira
265, p. 36 a 58, jan. 2007.
COPELLI NETO, C. Soberania da Razo. Primeiros Filsofos. In: Os pr-socrticos e o
sentido do Universo. Edio Filosofia Especial. Ano 1, n. 2. 2007. So Paulo: Editora
Escala. p.16-23.
COSTA, W. N. G. A tessitura de uma perspectiva terica para estudos que tomem como
foco o pensamento lgico/matemtico e o mtico. In: III SEMINRIO INTERNACIONAL
DE PESQUISA EM EDUCAO MATEMTICA. Anais. guas de Lindia: SBEM,
2006.
COSTA, W. N. G. De criao divina a instituio humana: as relaes entre matemticas e
mitos. Zetetik - FE/UNICAMP. V. 14, n.26, jul/dez. 2006 pp.07-28.
COSTA, W. N. G. O problema das relaes entre o pensamento mtico e o pensamento
lgico nos estudos etnomatemticos. In: VII REUNIO DE DIDTICA DA
MATEMTICA DO CONE SUL. Anais. guas de Lindia, 2006.
COSTA, W. N. G. O significado das formas circulares na cultura dos Auwe Uptabi. In:
XI CIAEM CONGRESSO INTERAMERICANO DE EDUCAO MATEMTICA,
2003. Anais. Blumenau, 2003. vol. 1.CD-ROM.
COSTA, W. N. G. Os ceramistas do Vale do Jequitinhonha: uma investigao
etnomatemtica. 1998. Dissertao (Mestrado). Faculdade de Educao. Universidade
Estadual de Campinas, Campinas.
CUCHE, D. A noo de cultura nas cincias sociais. So Paulo: EDUSC, 1999.
DAMBROSIO, U. Etnomatemtica elo entre as tradies e a modernidade. Belo
Horizonte: Autntica, 2001.
DAMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemtica. So Paulo: tica, 1998.
DAMBROSIO, Ubiratan. Transdisciplinaridade. So Paulo: Palas Athena, 1997.
DAMBROSIO, U. Gaiolas epistemolgicas: habitat da cincia moderna. In: II
CONGRESSO BRASILEIRO DE ETNOMATEMTICA. Anais... Natal/RN, abril de 2004.
p. 138.
DA COSTA, N. C. O conhecimento cientfico. So Paulo: Discurso Editorial, 1997.
DAMSIO, A. R. O erro de Descartes emoo, razo e crebro humano. 7 ed., Lisboa:
Publicaes Europa-Amrica, 1994 (1996), (Coleo Forum da Cincia, 29).
DAMSIO, A. R. O mistrio da conscincia. So Paulo: Companhia das Letras, 2000.
DASEN, P. R. Cross-cultural Piajetian Research: a summary. Journal of Cross-cultural
Psychology, 1972.
DAVIS, P& HERSH, R. O sonho de Descartes. Lisboa: Difuso Cultural. 1988.
DELEUZE, G. e GUATTARI, F. Mil plats - capitalismo e esquizofrenia, v.1. Rio de
Janeiro: Editora 34, 1995.
DELEUZE, Gilles. Lgica do sentido. So Paulo: Perspectiva / USP, 1974.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
260
DESCARTES, R. Regras para a direco do esprito. Lisboa: Editorial Estampa, 1971.
DULEY, G. O silncio da Acrpole, Freud e o Trgico. Uma fico psicanaltica. Rio de
Janeiro: Forense Universitria, 2002
DURAND, G. A imaginao simblica. So Paulo: Cultrix, Editora da Universidade de So
Paulo, 1988.
DURAND, G. Campos do imaginrio. Lisboa: Instituto Piaget, 1996.
DURAND, G. LImaginaire. Essai sur les sciences et la philosophie de limage. Paris:
Hatier, 1994.
DURAND,G. O universo do smbolo. In: ALLEAU, Ren. A cincia dos smbolos. Lisboa:
Edies 70, 1976. p. 252 a 267.
ELIADE, M. Tratado de Histria das religies, 2. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1998.
ELIADE, Mircea. Funo dos mitos. In CLARET, M. O poder do mito. Livro Clipping.
So Paulo: Martin Claret, s/d.
ELIADE, Mircea. Mito e realidade. So Paulo: Perspectiva, 1972.
ENCICLOPDIA EINAUDI / Lgica-Combinatria. Volume 13. Lisboa, Portugal:
Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1988.
ENCICLOPEDIA EINAUDI. Vol. 8. Labirinto Memria. Lisboa, Portugal: Imprensa
Nacional Casa da Moeda, 1988.
ERIKSON, E. Ontognie de la ritualisation chez lhomme. In: J. HUXLEY (d.). Le
comportemem rituel chez lhomme et lanimal. Paris: Gallimard, 1971.
EVANS-PRITCHARD, E.E. Os nuer. So Paulo, SP: Perspectiva, 1978.
EVES, H. Introduo Histria da Matemtica. Campinas, SP: Editora da Unicamp,
2004.
FERREIRA SANTOS, M. Crepusculrio: conferncias sobre mitohermenutica e educao
em Euskadi. So Paulo: Zouk, 2004.
FERREIRA, E. S. Cidadania e Educao Matemtica. Educao Matemtica em revista.
Blumenau: SBEM, n. 1 (12 18), 1993.
FERREIRA, E. S. A Matemtica-Materna de algumas tribos indgenas brasileiras. In:
ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE HISTRIA DA MATEMTICA. Coimbra,
Portugal, 1993.
FERREIRA, E. S. Racionalidade dos ndios brasileiros. Scientific American Brasil. Edio
especial Etnomatemtica. So Paulo, p.90-93, 2005.
FERREIRA, M. K. L. Da origem dos homens conquista da escrita: um estudo sobre
povos indgenas e educao escolar no Brasil. So Paulo. 1992. Dissertao (Mestrado em
Antropologia Social) Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras, Universidade de So
Paulo, So Paulo.
FERREIRA, M. K.l L. Com quantos paus se faz uma canoa! Braslia: MEC, 1994.
FERREIRA, M. K.L. Idias matemticas de povos culturalmente distintos. So Paulo:
Global, 2002.
Bibliografia
Wanderleya Nara Gonalves Costa
261
FERREIRA, R. Educao escolar indgena e etnomatemtica: a pluralidade de um
encontro na tragdia ps-moderna. 2005. Tese (Doutorado em Educao) Faculdade de
Educao, Universidade de So Paulo, So Paulo.
FEYRABEND, P. Contra o mtodo. 3. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989.
FIDALGO, Antnio. Semitica, a lgica da comunicao. Disponvel em:
<http://ubista.ubi.pt/~comum/fidalgo_logica_com_p2.html>. Acesso em agosto de 2005.
FLEURI, Reinaldo Matias. Multiculturalismo e interculturalismo nos processos educativos.
In: Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa. Encontro Nacional de Didtica e
Prtica de Ensino ENDIPE. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. p. 67-81.
FOUCAULT, M. A ordem do discurso. Traduo de L. F. de A. Sampaio. 6. ed. So Paulo:
Loyola, 2000.
FOUCAULT, M. A Ordem do Discurso. Traduzido de (L Ordre du discours, Leon
inaugurale ao Collge de France prononce le 2 dcembre 1970, ditions Gallimard, Paris,
1971.) Disponvel em: <http://www.unb.br/fe/tef/filoesco/foucault/ordem.html>. Acesso em
novembro de 2006.
FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. 4. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1987.
FOUCAULT, M. Coleo Leituras Filosficas. 2. ed. So Paulo: Loyola, 1996.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir. 11. ed. Petrpolis: Vozes, 1994.
FOUCAULT, M., A arqueologia do saber. Petrpolis: Vozes, 1972.
FOUCAULT, M. Histria da sexualidade. Vol 1. A Vontade de Saber. 7. ed. Rio de
Janeiro: Graal, 1985.
FRENCH, S. Uma racionalidade adequada para os humanos. In: DA COSTA, N. C. O
conhecimento cientfico. So Paulo: Discurso Editorial, 1997. p. 223-225
FUO, Fernando Freitas. O sentido do espao. Em que sentido, em que sentido? 2 parte
(1). Disponvel em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq049/arq049_02.asp>.
Visitado em dezembro de 2004.
GAMBINI, Roberto. Espelho ndio: a formao da alma brasileira. So Paulo: Axis Mundi:
Terceiro Nome, 2000.
GARDNER, H. A nova cincia da mente: uma histria da revoluo cognitiva. So Paulo:
Edusp, 1995.
GARNICA, A.V.M. Um tema, dois ensaios: mtodo, histria oral, concepes, educao
matemtica. 2005. Tese (Livre Docncia) Faculdade de Cincias, Universidade Estadual
Paulista, Bauru.
GAUTHIER, J. O que pesquisar entre Deleuze-Guatarry e o candombl, pensando o mito,
cincia, arte e culturas de resistncia. In: Revista Educao e Sociedade, ano XX, n 69,
dezembro 1999.
GEERTZ, C. A interpretao das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara, 1989.
GEERTZ, Clifford. Nova luz sobe a antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
GERKEN, C. H.S. e GOUVA, M. C. S. Imagens do Outro: a criana e o primitivo nas
cincias humanas. Educao em Revista. Belo Horizonte, n. especial, set/2000.
GIACCARIA, B. Xavante ano 2000: reflexes pedaggicas e antropolgicas. Campo
Grande MS: UCDB, 2000.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
262
GIACCARIA, B. e SALVATORE, C. Iniciao xavante Danhono. Campo Grande:
MSMT-UCDB, 2001.
GIACCARIA, B. e HEIDE, A. Jernimo Xavante conta. Campo Grande: Casa da Cultura,
1975.
GIACCARIA, B. e HEIDE, A. Jernimo Xavante sonha. Campo Grande: Casa da Cultura,
1975.
GIACCARIA, B. e HEIDE, A. Xavante povo autntico. 2. ed. So Paulo: Editora Salesiana
Dom Bosco, 1984.
GIACCARIA, B. Pedagogia xavante: aprofundamento antropolgico. Campo Grande:
Misso Salesiana de Mato Grosso, 1990.
GOERGEN, P. Educao e valores no mundo contemporneo. Educao e Sociedade,
Campinas, vol. 26, n. 92, p. 983-1011, Especial out. 2005. Disponvel em:
http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: outubro de 2006
GOLDMANN, L. A criao cultural na sociedade moderna. So Paulo: Difuso. Europia
do Livro, 1972.
GONALVES, M. A. Etnografia do mito - Mitologia e sociedade pares. Disponvel em:
<http://www.ifcs.ufrj.br/~marco/Minhas_Webs/projeto_mito-cnpq.htm>. Visitado em
fevereiro de 2004.
GORE, J. M. Foucault e Educao: fascinantes desafios. In: SILVA, T. T. (Org.). O sujeito
da educao. Estudos foucaultianos. Petrpolis, RJ: Vozes, 1994.
GOULD, S. J. A falsa medida do homem. So Paulo: Martins Fontes, 1991.
GREEN, D. Os diferentes termos numricos das lnguas indgenas do Brasil. In:
FERREIRA, M. K.L. Idias matemticas de povos culturalmente distintos. So Paulo:
Global, 2002.
GUINZBURG, C. Mitos, emblemas, sinais. So Paulo: Companhia das Letras, 1989.
GUIRRA, M. C. S. Saussure e Bakhtin - duas vises de signo lingstico. Disponvel em:
<http\\www.ufmt.br/barra/barra.htm>. Acesso em julho de 2004.
GUSDORF, G. Mito e metafsica. So Paulo: Convvio, 1979.
HALL, S. Da dispora: identidades e mediaes culturais. Belo Horizonte: Editora da
UFMG; Braslia: Representao da UNESCO no Brasil, 2003.
HALL, S. A identidade cultural na ps-modernidade. Traduo de Tomas Tadeu da Silva
e Guaracira Lopes Louro. 9. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.
HALL, S. Identidade cultural. Fundao Memorial da Amrica Latina. Secretaria de
Estado da Cultura. Governo de So Paulo. So Paulo, 1997.
HALL, S. Quem precisa de identidade?. In: SILVA, T. T. (org.). Identidade e diferena: a
perspectiva dos estudos culturais. Petrpolis, RJ: Vozes, 2000.
HAVT, A. e outros. Labirinto: metfora do Conhecimento- Como conhecemos? Como nos
educamos? Disponvel em: <http://www.patio.com.br/labirinto/epenn.htm>. Acesso em
dezembro de 2004.
HILLMAN, J. Voltando aos invisveis. In: HILLMAN, James. O cdigo do ser: uma busca
do carter e da vocao pessoal. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
Bibliografia
Wanderleya Nara Gonalves Costa
263
ISAAC, P. A. M. Drama da educao escolar indgena be-bororo. Cuiab: Ed. UFMT,
2004.
JACOBI, J. Complexo, arqutipo, smbolo na psicanlise de C. G. Jung. So Paulo:
Cultrix, 1990.
JONES, C.V. Finding order in history learning: defining the history and pedagogy of
mathematics. In: Proceedings. In: REUNIO DO GRUPO INTERNACIONAL DE
ESTUDOS SOBRE RELAO ENTRE HISTRIA E PEDAGOGIA DA MATEMTICA
HPM, 25-27 de julho de 1994, Anais... Blumenau, 1994. p. 35-45.
JOURNET, O. 1995. Um outro olhar. IN: BESSON (org). A iluso das estatsticas. So
Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1995. p.265/268
JUNG, C. G. Psicologia da religio ocidental e oriental. Obras Completas, vol. XI,
Petrpolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1988.
JUNG, C. Psicologia e religio. 5. ed. Petrpolis: Vozes, 1995.
JUNG, C. G. O Homem e seus smbolos. 5. ed. So Paulo: Nova Fronteira, 1990.
KAST, V. A dinmica dos smbolos - fundamentos da psicoterapia junguiana. So Paulo:
Loyola, 1997.
KIRK, RAVEN e SCHOFIELD. Os filsofos pr-socrticos: histria crtica com seleo de
textos. Lisboa: Fundao Calouste Gulbekian, 1994.
KNIJNIK, G & WANDERER, F & OLIVEIRA, C de O. Etnomatemtica Currculo e
formao de professores. Santa Cruz do Sul: ED.UNISC, 2004.
KNIJNIK,G. Cultura, matemtica, educao na luta pela terra. 1995. Tese (Doutorado
em Educao) Faculdade de Educao, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre.
LACHNITT, G. Iniciao crist entre os xavante. 1993. Dissertao (Mestrado em
Teologia) Pontifcia Faculdade de Teologia N. S. da Assuno, So Paulo.
LACHNITT, G. Smbolos na iniciao crist entre os xavante. 2001. Tese (Doutorado em
Teologia) Pontifcia Faculdade de Teologia N. S. da Assuno, So Paulo.
LACHNITT, G. Alguns aspectos da cultura do povo xavante. 2002. (texto digitado,
impresso e no publicado).
LACHNITT, G. Romnhitsiubumro - Dicionrio xavante-portugus. 2. ed. Campo
Grande: MSMT, 108 p. 2003.
LADRIERE, J. A articulao do sentido. Traduo e prefcio de Salma Tannus Muchail.
So Paulo: EPU, Ed. da Universidade de So Paulo, 1977.
LAUAND, L. J, Cincia e Weltanschauung - a lgebra como Cincia rabe. In: Projeto
Cincia para o Brasil (PCpB). Disponvel em: <http://www.ciencia.pro.br/ .
http://www.hottopos.com.br/notand5/algeb.htm>. Acesso em outubro de 2005.
LVI-STRAUSS, C. Tristes trpicos. Trad. Rosa Freire dAguiar. So Paulo: Cia. das
Letras, 1996.
LVI-STRAUSS,C. Mito e significado. Lisboa: Edies 70, 1997.
LVI-STRAUSS,C. O cru e o cozido. (Mitologias v.1). So Paulo: Cosac & Naify, 2004.
LINS, R. C. Epistemologia e Matemtica. Boletim de Educao Matemtica, ano 9,
especial 3, p35-46, 1994.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
264
LINZT, R. Histria da Matemtica. Blumenau: FURB, 1999.
LOPES DA SILVA, A. Xavante: casa-aldeia-ch-terra-vida. In: NOVAES, S. C. (org.)
Habitaes indgenas. So Paulo: Nobel/ Ed. da Universidade de So Paulo, 1983.
LOPES DA SILVA, A. Mitos e cosmologias indgenas no Brasil: breve introduo. In:
GRUPIONI, D.B. (org.). ndios no Brasil. So Paulo: Secretaria Municipal de Cultura,
1992.
LOPES DA SILVA, A. Novos tempos, velhas histrias. Revista Brasileira de Cincias
Sociais, vol.14 n.40, So Paulo, jun. 1999.
LOPES DA SILVA, A; LEAL FERREIRA, M. K. (org.) Antropologia, histria e
educao: a questo indgena e a escola. So Paulo: Global, 2001.
LOPES DA SILVA, A; GRUPIONI, L. D. B.(org) A temtica indgena na escola. Braslia:
MEC/MARI/UNESCO, 1995.
LOPES, E. Fundamentos da Lingstica contempornea. 14.ed. So Paulo: Cultrix, 1995.
LOPES, L. P. M. e BASTOS, L. C. (org.) Identidades: recortes multi e interdisciplinares.
Campinas, SP: Mercado das Letras, 2002.
LOPES, R.J. O imprio do Vaticano. In: Aventuras na Histria. So Paulo: Editora Abril,
edio 45. Maio de 2007. p. 26-33
LOURENO, E. Portugal como destino seguido de mitologia da saudade. Lisboa:
Gradiva, 1999.
LOWY, M. Ideologia e Cincias Sociais. So Paulo: Cortez, 1986.
MACHADO, R. (Org.). Microfsica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. (Edio com
base em textos de Michel Foucault).
MATTEI, F.J. Pitgoras e os pitagricos. So Paulo: Paulus, 2000.
MATURANA H. Da Biologia Psicologia. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1996.
MCLEOD, R; MITCHELL, V. Aspectos da lngua xavante. Braslia: Summer Institute of
Linguistics, 1977.
MEDEIROS, S.L.R. O dono dos sonhos. So Paulo: Razo Social Empreendimentos
Editoriais Ltda, 1991.
MORAIS, A. As concepes de Lgica e a Educao Matemtica: reflexes e prticas,
2005. Tese (Doutorado em Educao) - Faculdade de Educao, Universidade de So Paulo,
So Paulo, 2005.
MORAIS, R. (org.) As razes do mito. Campinas: Papirus, 1988.
MORIN, E. Cincia com conscincia. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
MORIN, E. Introduo ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 1990.
MORIN, E. O Mtodo 3. Porto Alegre: Sulina, 1999.
MORTARI, C. A. Introduo Lgica. So Paulo: Editora UNESP/Imprensa Oficial do
Estado, 2001.
NAPOLITANI, P. D. Os jesutas e o ensino da matemtica. In: Arquimedes - pioneiro da
Matemtica. Scientific American Brasil, especial Gnios da Cincia. So Paulo: Ediouro -
Segmento-Duetto Editorial Ltda, 2005
Bibliografia
Wanderleya Nara Gonalves Costa
265
NOVAES, A. Tempo e histria. So Paulo: Companhia das Letras, 1992.
NOVAES, S. C. Jogo de espelhos: imagens da representao de si atravs dos outros. So
Paulo: Editora da Universidade de So Paulo, 1992.
OLIVEIRA, M. K. Sobre diferenas individuais e diferenas culturais: o lugar da abordagem
histrico-cultural. In: AQUINO, Jlio Groppa (org.). Erro e fracasso na escola: alternativas
tericas e prticas. So Paulo, Summus, 1997.
OLIVEIRA, M. K. Vygotsky e o Processo de Formao de conceitos. In: LA TAILLE.Y,
OLIVEIRA.M.K. e DANTAS.H. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenticas em
discusso. So Paulo: Summus, 1992.
PASSOS, I. F. Foucault e Binswanger. In: Foucault e Deleuze. A dissoluo do sujeito.
Mente, Crebro e Filosofia, srie especial da revista Mente e Crebro. So Paulo: Duetto,
2007.
PCORA, A. Vieira, o ndio e o corpo mstico. In: ABENSOUR, M e outros. Tempo e
Histria. So Paulo: Companhia das Letras/Secretaria de Cultura, 1992. p. 423/462.
PEIRCE, C. S. Semitica. 2. ed. So Paulo: Perspectiva, 1990.
POSNER, M.I. & RAICHLE, M. E. Imagens da mente. Lisboa, Portugal: Porto Editora,
2001.
PRADO FILHO, K. Uma genealogia das prticas de confisso no Ocidente. In: RAGO, M e
VEIGA-NETO, A. Figuras de Foucault. Belo Horizonte: Autntica, 2006.
PRIGOGINE, I e STENGERS, I. A Nova aliana: metamorfose da Cincia. Braslia: Ed.
UnB, 1997. 247p.
RAGO, M e VEIGA-NETO, A. Figuras de Foucault. Belo Horizonte: Autntica, 2006.
RAMOS, A.R. Sociedades indgenas. So Paulo: tica S.A., 1986.
RIBEIRO, D. Os ndios e a civilizao. Petrpolis: Vozes, 1977.
RIBEIRO, J. P; DOMITE, M. C e FERREIRA, R. (org.). Etnomatemtica: papel, valor e
significado. So Paulo: Zouk, 2004.
RICOEUR, P. Interpretao e ideologias. 3. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988.
RODRIGUES, A.D. Lnguas brasileiras para o conhecimento das lnguas indgenas. So
Paulo: Loyola, 1994.
RODRIGUES, R. A. As ticas de matema dos ndios Kalapalo: uma interpretao de
estudos etnogrficos. 2005. Dissertao (Mestrado). UNESP, Rio Claro.
SACKS, O. A torrente da conscincia. Folha de So Paulo, p.5-10, 15/fevereiro 2004.
Caderno Mais!. (Traduo De Cara Allain. Publicado originalmente na New York Review
of Books).
SACKS, O. Um antroplogo em Marte: sete histrias paradoxais. So Paulo: Companhia
das Letras, 2006.
SAEZ, O. C. A variao mtica como reflexo. Rev. Antropologia 2002, vol.45, no.1. (on
line). Disponvel em: http://www.scielo.br/scielo. Acesso em: abril de 2006
SNCHEZ GAMBOA, S. Epistemologia da pesquisa em Educao. Campinas: Praxis,
1996. Disponvel em: <www.geocities.com/grupoepisteduc>. Acesso em: setembro de 2005.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
266
SANTIAGO, S. Navegar preciso, viver. In: ABENSOUR, M. e outros. Tempo e Histria.
So Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal de Cultura, 1992. Reimpresso em
1994. p. 463/472.
SANTOS, B. S. A crtica da razo indolente: contra o desperdcio da experincia. So
Paulo: Cortez, 2002.
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingstica Geral. So Paulo: Cultrix, 1995.
SCANDIUZZI, P.P. A dinmica da contagem de Lahatua Otomo e suas implicaes
educacionais: uma pesquisa em etnomatemtica. 1979. Dissertao (Mestrado em
Educao) Faculdade de Educao, Universidade Estadual de Campinas. Campinas.
SCANDIUZZI, P.P. Educao indgena X educao escolar indgena: uma relao
etnocida em uma pesquisa etnomatemtica. 2000. Tese (Doutorado em Educao)
Universidade Estadual Paulista, Marlia.
SCHUSTER,L. (Org.). Histrias Xavante. Cuiab: Grfica Defanti, 2001.
SEMEGHINI-SIQUEIRA, I. Atividades cognitivas e metacognitivas: investigaes sobre a
linguagem, Anotaes de aula da disciplina do curso de Ps-Graduao em Educao -
FEUSP [1
o
sem. 2004]
SEREBUR, HIPRU, RUPAW, SEREZABDI e SERENIMIRMI. Wamr Zara (nossa
palavra) mito e histria do povo xavante. Traduo de Paulo Sepretapr Xavante e
Jurandir Siridiwe Xavante. So Paulo: Editora SENAC, 1998.
SHAKER, A. F. E. Romhsiwai hawi rowano re ihimana mono: a criao do mundo
segundo os velhos narradores xavante. 2002. Tese (Doutorado em Antropologia) Instituto
de Filosofia e Cincias Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas SP.
SILVA, A. A. A evoluo de alguns smbolos na formao do pensamento matemtico e
filosfico. 2006 Tese (Doutorado em Filosofia) PUC, So Paulo.
SILVA, A. A. A organizao espacial Auwe-xavante: um olhar qualitativo sobre o
espao. 2006. Dissertao (Mestrado em Educao Matemtica) Instituto de Geocincias e
Cincias Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro.
SILVA, A.L. e FERREIRA, M. K. L. (org.) Antropologia, histria e educao: a questo
indgena e a escola. So Paulo: Global, 2001.
SILVA, T. T. Identidades terminais - As transformaes na poltica da pedagogia e na
pedagogia poltica. Petrpolis: Vozes, 1996.
SILVA, T.T. A produo social da identidade e da diferena. In: SILVA, T.T(org.)
Identidade e diferena: a perspectiva dos estudos culturais. Petrpolis, RJ: Vozes, 2000.
SILVA, T.T. Descolonizar o Currculo: estratgias para uma pedagogia crtica. Dois ou trs
comentrios sobre o texto de Michael Apple. In: COSTA, Marise Vorraber (org). Escola
Bsica na virada do sculo: cultura, poltica e currculo. So Paulo: Cortez, 1996.
SKYRIUS, I. B. O geral e o especfico. Probabilidade epistmica. A Probabilidade e os
problemas da Lgica Indutiva. In: Escolha e Acaso. So Paulo: Cultrix; Ed. USP, 1966. p.
26-38.
SMOLKA, A. L. B. A criana na fase inicial da escrita: A alfabetizao como processo
discursivo. So Paulo: Cortez; Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas,
2000.
Bibliografia
Wanderleya Nara Gonalves Costa
267
SMOLKA, A.L. e NOGUEIRA, A.L.H.O desenvolvimento cultural da criana: mediao,
dialogia e (inter)regulao. In OLIVEIRA, Marta Kohl de, SOUZA, Denise T.R e REGO,
Teresa C. (orgs). Psicologia, educao e as temticas da vida contempornea. So Paulo:
Moderna, 2002.
SMOLKA, A.L.B. Sentido e significao - Parte A - Sobre significao e sentido: uma
contribuio proposta de rede de significaes. In: ROSSETTI-FERREIRA & Outras
(org.). Rede de significaes e o estudo do desenvolvimento humano. Porto Alegre:
Artmed, 2004. p. 35-49
SOUSA, E. Histria e mito. Brasilia: Editora Universidade de Braslia, 1981. (Cadernos da
Unb).
SOUZA, E. Mitologia. Braslia: UNB, 1980. (Cadernos da Unb).
SOUZA, E.A. Sinfonia precisa. Primeiros filsofos. In: Os pr-socrticos e o sentido do
Universo. Edio Filosofia Especial. Ano 1, n. 2. 2007. p.32-39. So Paulo: Escala.
SPENGLER, O. A decadncia do Ocidente. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973.
SPENGLER, O. O Homem e a tcnica: contribuio a uma filosofia da vida. Porto Alegre:
Edies Meridiano, 1941.
SUBIRATS, E. A lgica da colonizao. In: ABENSOUR, M. e outros. Tempo e Histria.
So Paulo: Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura, 1992. Reimpresso em
1994. p.399/410.
TEIXEIRA, J. F. Mentes e mquinas: uma introduo cincia cognitiva. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1998.
THAGARD, P. Mente: introduo cincia cognitiva. Trad. Maria Rita Hofmeister. Porto
Alegre: ArtMed, 1998.
THOMPSON, J. B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crtica na era dos meios de
comunicao de massa. Petrpolis, RJ: Vozes, 1995.
URIARTE,U.M. Identidades mestias: reflexo baseada na obra do escritor peruano Jos
Mara Arguedas. In LOPES, L. P. M. e BASTOS, L. C. (org.) Identidades: recortes multi e
interdisciplinares. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2002.
URRUTIA, J. Leitura do obscuro: uma semitica de frica. Lisboa: Teorema, 2000.
VEIGA-NETO, A. Dominao, violncia, poder e educao escolar em tempos de Imprio.
In: RAGO, M e VEIGA-NETO, A. Figuras de Foucault. Belo Horizonte: Autntica, 2006.
p. 13-38.
VEIGA-NETO, A. Foucault e a Educao. Belo Horizonte: Autntica, 2003.
VERGANI, T. A surpresa do mundo: ensaios sobre cognio, cultura e educao. In:
SILVA, Carlos Aldemir da e MENDES, Iran Abreu. (Org.). A surpresa do mundo: ensaios
sobre cognio, cultura e educao. Natal: Editorial Flecha do Tempo, 2003.
VERNANT, J.P. As origens do pensamento grego. So Paulo: Difuso Editorial S/A, 1984.
VERNANT, J.P. Mito e pensamento entre os gregos: estudos de psicologia histrica. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
VYGOTSKY,L.S e LURIA, A.R. Estudos sobre a histria do comportamento: smios,
homem primitivo e criana. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1996.
VYGOTSKY. L. S. Obras escogidas. Madri: Visor, 1995.
A etnomatemtica da alma Auwe-xavante ...
Wanderleya Nara Gonalves Costa
268
WHITROW, G. J. O tempo na histria: concepes do tempo da pr-histria aos nossos
dias. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
WOODWARD, K. Identidade e diferena: uma introduo terica e conceitual. In: SILVA,
T.T(org.) Identidade e diferena: a perspectiva dos estudos culturais. Petrpolis, RJ: Vozes,
2000.
WOORTMANN, K. O selvagem e o novo mundo: amerndios, humanismo e escatologia.
Braslia: UNB, 2004.
ZIMMER, C. Ao crebro o que do crebro. Entrevista concedida a Eduardo Szkkarz.
Superinteressante. Setembro de 2004. p. 96/97.
You might also like
- 13 PalavrasDocument7 pages13 PalavrasJoão Carlos SantosNo ratings yet
- Projeto Instigar PANICO PDFDocument6 pagesProjeto Instigar PANICO PDFJoão Carlos SantosNo ratings yet
- Tommy Tenney - Fontes Secretas de PoderDocument177 pagesTommy Tenney - Fontes Secretas de Poderfox400475% (4)
- Cabala 090922080438 Phpapp01Document144 pagesCabala 090922080438 Phpapp01João Carlos SantosNo ratings yet
- Passes e Curas Espirituais (Wenefredo de Toledo)Document91 pagesPasses e Curas Espirituais (Wenefredo de Toledo)Eliane RibeiroNo ratings yet
- Anatomia Energética Humana Chacras GeralDocument59 pagesAnatomia Energética Humana Chacras GeralJoão Carlos Santos100% (1)
- Meu Corpo Meu OraculoDocument87 pagesMeu Corpo Meu OraculoJoão Carlos Santos100% (1)
- Arvore Do Conhecimento Maturana e VarelaDocument270 pagesArvore Do Conhecimento Maturana e VarelaMônica Alvarenga100% (8)
- Desdobramento Anímico - Apometria (Autoria Desconhecida) PDFDocument10 pagesDesdobramento Anímico - Apometria (Autoria Desconhecida) PDFJoão Carlos SantosNo ratings yet
- ElementalDocument81 pagesElementalJoão Carlos Santos0% (1)
- Defesa Psiquica e EspiritualDocument9 pagesDefesa Psiquica e EspiritualJoão Carlos SantosNo ratings yet
- Comandos QuanticosDocument4 pagesComandos QuanticosJoão Carlos Santos100% (7)
- Fisica Quantica Na EgregoraDocument7 pagesFisica Quantica Na EgregoraRenato.'.No ratings yet
- Reiki VioletaDocument17 pagesReiki VioletaMarco Cavaco100% (1)
- Texto Extra Ed Fisica 6o Ano Ens Fundamental II Jogos e Brincadeiras 16052014 1045Document2 pagesTexto Extra Ed Fisica 6o Ano Ens Fundamental II Jogos e Brincadeiras 16052014 1045Miguel Neto100% (6)
- Dramatização On LineDocument11 pagesDramatização On LineNatasha TupperwareNo ratings yet
- A Busca Da Excelencia em Uma Organização Do Terceiro SetorDocument28 pagesA Busca Da Excelencia em Uma Organização Do Terceiro SetorbelinhoalvesNo ratings yet
- Ficha de Trabalho Rochas SedimentaresDocument2 pagesFicha de Trabalho Rochas SedimentaresCristina TeixeiraNo ratings yet
- Resenha - Instrodução À BiblioteconomiaDocument5 pagesResenha - Instrodução À BiblioteconomiaAna AlvesNo ratings yet
- CURRICULUM VITAE FaridaDocument3 pagesCURRICULUM VITAE FaridaHÉLIO LuisNo ratings yet
- Uma História Da Imprensa Marialva BarbosaDocument16 pagesUma História Da Imprensa Marialva BarbosaTatiana SicilianoNo ratings yet
- Relatório Apreciativo Do Telefilme Além Da Sala de Aula de Jeff BlecknerDocument2 pagesRelatório Apreciativo Do Telefilme Além Da Sala de Aula de Jeff BlecknerSofiadeSousaNo ratings yet
- Professor A de Educacao InfantilDocument15 pagesProfessor A de Educacao InfantilWanessa SilvaNo ratings yet
- Exclusão Não! Voltemos À Escola!Document10 pagesExclusão Não! Voltemos À Escola!Anderson VicenteNo ratings yet
- Davi LucasDocument3 pagesDavi LucaslucasNo ratings yet
- Orgi2 2020 2021 2S LMF Rev9 IsepDocument262 pagesOrgi2 2020 2021 2S LMF Rev9 IsepMargarida MagalhãesNo ratings yet
- 5591 18252 1 PBDocument13 pages5591 18252 1 PBLuciane RamosNo ratings yet
- DR Rogerio Pacheco Sistema SocioeducativoDocument15 pagesDR Rogerio Pacheco Sistema Socioeducativocreas barra mansaNo ratings yet
- SBDocument18 pagesSBromulo chavesNo ratings yet
- As Grandes Doutrinas Da Graça - Leandro Lima (IPSA)Document21 pagesAs Grandes Doutrinas Da Graça - Leandro Lima (IPSA)Artur Freire RibeiroNo ratings yet
- Estácio - Alunos 5Document1 pageEstácio - Alunos 5Jheneffer PazNo ratings yet
- JOANISTELA G. M. DE ARAUJO. Plano de Aula. IluminismoDocument4 pagesJOANISTELA G. M. DE ARAUJO. Plano de Aula. IluminismoMarcos OliveiraNo ratings yet
- Ivor Goodson Curriculo Narrativa FuturoDocument13 pagesIvor Goodson Curriculo Narrativa FuturoMateus Leiva Vd'lNo ratings yet
- Treinamento Candidatos Ao BatismoDocument21 pagesTreinamento Candidatos Ao BatismoAnanias Sousa Goes Neto86% (7)
- Fundamentos Da Psicanálise - Cronograma - Manhã e NoiteDocument4 pagesFundamentos Da Psicanálise - Cronograma - Manhã e Noitecarlos viniciusNo ratings yet
- Relatório Cruzeiro Do Sul Didática HistóriaDocument2 pagesRelatório Cruzeiro Do Sul Didática Históriapatricia de castro martinsNo ratings yet
- Resenha Stephen CastlesDocument3 pagesResenha Stephen CastlesCicero FernandesNo ratings yet
- CC Teste 5Document3 pagesCC Teste 5lourencodigiorgioNo ratings yet
- 2004-Barab Squire (DBR Fundamentos) .En - PTDocument16 pages2004-Barab Squire (DBR Fundamentos) .En - PTMarcel Bruno BragaNo ratings yet
- Tema 4 Das Funções Mentais Básicas Aos Processos CognitivosDocument10 pagesTema 4 Das Funções Mentais Básicas Aos Processos CognitivosRenataNo ratings yet
- Curriculo GabrielDocument4 pagesCurriculo GabrielSimone Moura100% (1)
- 8º Ano - Ef08er04x - Ef08er26mg - Ef08er30mh - 3º BimDocument4 pages8º Ano - Ef08er04x - Ef08er26mg - Ef08er30mh - 3º BimLelo IurkNo ratings yet
- Edital #09 Curso Fic Do Iema Segundo Semestre 2020Document15 pagesEdital #09 Curso Fic Do Iema Segundo Semestre 2020jonathan da conceiçao motaNo ratings yet
- Verbos de Dizer RESENHA ACADÊMICA PDFDocument27 pagesVerbos de Dizer RESENHA ACADÊMICA PDFcarlabertulezaNo ratings yet