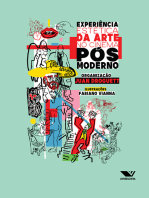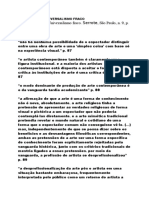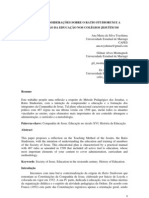Professional Documents
Culture Documents
Fotografia, memória e monumentos na obra de artistas contemporâneos
Uploaded by
Franklin Dias Rocha0 ratings0% found this document useful (0 votes)
23 views142 pagesOriginal Title
Lais Myrrha 2007 Mestrado Eba
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
23 views142 pagesFotografia, memória e monumentos na obra de artistas contemporâneos
Uploaded by
Franklin Dias RochaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 142
Lais Myrrha
SOBRE AS POSSIBILIDADES DA IMPERMANNCIA
Fotografia e monumento
Belo Horizonte
Escola de Belas Artes da UFMG
2007
Lais Myrrha
SOBRE AS POSSIBILIDADES DA IMPERMANNCIA
Fotografia e monumento
Dissertao apresentada ao Programa de Ps-
Graduao em Artes da Escola de Belas Artes da
Universidade Federal de Minas Gerais, como exigncia
parcial para obteno do ttulo de Mestre em Artes
rea de concentrao: Arte e Tecnologia da Imagem
Orientador: Profa.. Dra. Maria Anglica Melendi
Belo Horizonte
Escola de Belas Artes da UFMG
2007
Myrrha, Lais, 1974-
Sobre as possibilidades da impermanncia: fotografia e
monumento / Lais Myrrha. 2007.
140 f. : il.
Orientadora: Maria Anglica Melendi
Dissertao (mestrado) - Universidade Federal de
Minas Gerais, Escola de Belas Artes
1. Barthes, Roland, 1915-1980 Teses 2. Benjamin,
Walter, 1892-1940 Teses 3. Fotografia e anti-monumento
Teses 4. Memria Teses 5. Criao ( Literria, artstica, etc.)
Teses 6. Arte contempornea Teses I. Melendi, Maria
Anglica, 1945- II. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Belas Artes III. Ttulo.
CDD: 709.05
Tyrone Belmock e Maria de Lourdes Simes amigos queridos
que me ensinaram muito sobre o viver e, dolorosamente, sobre o
morrer, in memorian.
AGRADECIMENTOS
Agradeo, em primeiro lugar, ao programa de ps-graduao da Escola de Belas Artes da
UFMG. Ao CNpq pela bolsa concedida. Piti minha orientadora pela sua pacincia,
dedicao, generosidade, competncia e amizade que soube me pressionar na hora certa. Ao Leo
meu querido companheiro e interlocutor pelo carinho, apoio e ateno s minhas dvidas e
angstias. Aos amigos que compartilharam comigo de discusses tericas que estimularam a escrita
deste trabalho: Matheus R. Pitta, Sara Ramo, Romero Alves, Hlio Nunes, Ariel Ferreira.
Consuelo Salom, revisora preciosa. Rosngela Renn pela presteza com que, sempre que
precisei, respondeu s minhas questes sobre sua obra e me forneceu material para esta dissertao.
Ao Rodrigo Moura pelos valiosos materiais de pesquisa. Giovanna Martins que num momento
crucial desempenhou a providente tarefa de tradutora. Maril Dardot por mediar meu contato
com Duda Miranda. Ao Guilherme Machado que se lembrou de mim ao ver um filme que provocou
uma guinada no curso da minha escrita. Ao Rodrigo Tarsia pela sua incrvel biblioteca. J lia
Rebouas pelo entusiasmo com que recebeu meu texto e pelo empurro final que eu precisava
para concluir esta dissertao. Ao Cristiano Bickel que me auxiliou nos detalhes finais tornando-os
mais agradveis (e possveis). E claro, minha famlia e, em especial, ao meu pai.
No que o passado lana luz sobre o presente ou que o
presente lana luz sobre o passado; mas a imagem aquilo em
que o ocorrido encontra o agora em um lampejo, formando
uma constelao.
BENJ AMIN
RESUMO
A partir da teoria da fotografia em Walter Benjamin e em Roland Barthes faremos algumas
incurses pelas temticas que envolvem a construo e permanncia dos monumentos, das
memrias e dos valores atribudos aos objetos e s imagens. Destacaremos como questes
fundamentais a distncia e a ausncia tal como pensada por esses autores.
O mesmo peso ter ainda a anlise pontual de algumas obras de Nan Goldin, Christian
Boltanski, Rosngela Renn, J oseph Beuys, Rachel Whiteread, Susan Hiller, Flix Gonzlez-
Torres e On Kawara. Nelas buscaremos detectar estratgias e alegorias sobre a relao
memria/esquecimento. Ao mesmo tempo, tentaremos pensar essas obras como veculos de
reinsero do memento mori nas sociedades capitalistas contemporneas que paradoxalmente
tentam afastar a idia da morte, se lanando num consumismo desenfreado que decreta j morto
tudo o que acaba de nascer.
ABSTRACT
Departing from Walter Benjamins and Roland Barthes photography theory, we will go
through the constellation of themes that deals with the construction and permanence of monuments,
memories and the values given to obejcts or images. Distance and absence, as thought by these
authors, will be regarded as fundamental questions.
Equal weight will be given to punctual analysis of some works from artists such as Nan
Goldin, Christian Boltanski, Rosngela Renn, J oseph Beuys, Rachel Whiteread, Susan Hiller,
Flix Gonzlez-Torres and On Kawara. In them we will try to detect strategies and allegories on the
relation memory / oblivion. At the same time, well try to see these works as vehicles of reinsertion
of the memento mori in contemporary capitalists societies that, paradoxically, tries to put away the
idea of death, throwing themselves in an unstoppable consumism that postulates as dead everything
that has just born.
SUMRIO
Introduo.............................................................................................................................................................. 11
I ......................................................................................................................................................................... 11
II ......................................................................................................................................................................... 13
III ......................................................................................................................................................................... 15
IV ......................................................................................................................................................................... 20
Fotografia e Monumento: primeiras consideraes........................................................................................... 23
I Fotografia versus Monumento?....................................................................................................................... 23
II Construir, Destruir .......................................................................................................................................... 24
III Destruio e Imagem ...................................................................................................................................... 25
IV Fotografar, Consumir ...................................................................................................................................... 28
V Consumir, Lembrar ......................................................................................................................................... 29
VI A maldio da memria total .......................................................................................................................... 31
VII Fotografia, Monumento e Histria ..................................................................................................................32
VIII Em busca do singular ...................................................................................................................................... 35
IX Fotografia, um objeto sem causa .................................................................................................................... 36
X Assim no Cu como na Terra ...................................................................................................................... 38
XI Monumentos e monumentos ........................................................................................................................... 39
XII Eu, meu, me e uma foto .................................................................................................................................. 40
XIII Monumentos e destruio ............................................................................................................................... 43
XIV Fotografia, metfora do corpo .........................................................................................................................45
XV Carta para Barthes ........................................................................................................................................... 47
Do ouro de Gold(in) e outros tesouros ................................................................................................................. 52
Na foto, o outro ....................................................................................................................................................... 72
I ......................................................................................................................................................................... 72
II ......................................................................................................................................................................... 74
III ......................................................................................................................................................................... 78
IV ......................................................................................................................................................................... 82
V ......................................................................................................................................................................... 88
VI ......................................................................................................................................................................... 95
Monumentos em disperso......................................................................................................................................97
I ......................................................................................................................................................................... 97
II ......................................................................................................................................................................... 100
III ......................................................................................................................................................................... 103
IV ......................................................................................................................................................................... 106
V ......................................................................................................................................................................... 108
VI ......................................................................................................................................................................... 110
VII ......................................................................................................................................................................... 111
VIII ......................................................................................................................................................................... 112
IX ......................................................................................................................................................................... 113
Concluso (ou depois das cinzas) .......................................................................................................................... 118
I ......................................................................................................................................................................... 118
II ......................................................................................................................................................................... 120
III ......................................................................................................................................................................... 123
IV ......................................................................................................................................................................... 124
V ......................................................................................................................................................................... 126
VI ......................................................................................................................................................................... 130
VII ......................................................................................................................................................................... 132
Referncias .............................................................................................................................................................. 134
I Bibliogrficas .................................................................................................................................................. 134
II Do meio eletrnico ..........................................................................................................................................138
LISTA DE IMAGENS
FIG. 1 Goya. El sueo da razn produce monstros (da srie Los caprichos). Fonte: Goya: Caprichos, desastres,
Tauromaquia e Disparates. Gustavo Gili: Barcelona, 1980 (Coleccin comunicacin visual / Srie grfica) 13
FIG. 2 Rosngela Renn entre os lbuns da obra Bibliotheca. Fonte: Rosngela Renn. C/Arte: Belo
Horizonte, 2003 (Circuito Atelier) 13
FIG. 3 Lais Myrrha. Teoria das bordas, 2007. Fonte: Acervo da Artista. Foto: Wilton Montenoegro 18
FIG. 4 Lais Myrrha. Teoria das bordas, 2007. Fonte: Acervo da Artista. Foto: Wilton Montenoegro 18
FIG. 5 Lais Myrrha. Dicionrio do impossvel, 2005. Fonte: Acervo da Artista. Foto: Eugnio Svio 19
FIG. 6 Lais Myrrha. Compensao dos erros, 2007 (frames) 21
FIG. 7 World Trade Center, Nova York, 11 de setembro de 2001 Fonte: CLARK, T. J ..Modernismos. Org.
Snia Salzstein. Trad.: Vera Pereira Foto: Renato Stockler/ Folha Imagem
53
FIG. 8 Max with Richard,New York city, 1983. Fonte: GOLDIN, Nan. The Ballad of Sexual Dependency.
New York: Aperture, 1989.
57
FIG. 9 Monopoly game, New York city, 1980 Fonte: GOLDIN, Nan. The Ballad of Sexual Dependency. New
York: Aperture, 1989.
57
FIG. 10 Brian with the Flingstones. NewYork , 1981. Fonte: GOLDIN, Nan. The Ballad of Sexual
Dependency. New York: Aperture, 1989.
58
FIG. 11 Nan and Brian in bed. New York city,1983. Fonte: GOLDIN, Nan. The Ballad of Sexual Dependency.
New York: Aperture, 1989.
58
FIG. 12 The Parents at a French restorant, Cambrige, Mass. 1985. Fonte: GOLDIN, Nan. The Ballad of Sexual
Dependency. New York: Aperture, 1989.
63
FIG. 13 Nan Goldin. The Duke and Duchess of Windsor, Coney Island Wax Museum, 1981. Fonte: GOLDIN,
Nan. The Ballad of Sexual Dependency. New York: Aperture, 1989.
63
FIG. 14 Nan one month after being battered, 1984 Fonte: GOLDIN, Nan. The Ballad of Sexual Dependency.
New York: Aperture, 1989.
63
FIG. 15 Rosngela Renn. Bibliotheca, 2003 (vista da instalo no CCBB do Rio de J aneiro).Fonte: acervo da
artista foto: Fabio Ghivelder
69
FIG. 16 Bibliotheca, 2002 (detalhe vitrine). Fonte: Folder da exposio no CCBB do Rio de J aneiro, 2003. 70
FIG. 17 Bibliotheca, 2002 (detalhe vitrine) Fonte: Rosngela Renn Folder da exposio no CCBB do Rio de
J aneiro, 2003.
70
FIG. 18 Christian Boltanski. Vitrine de rfrence, 1971.
Fonte: http://www.exporevue.org/images/magazine/1702voisin_boltanski.jpg (6 de setembro de 2007, 11h33)
85
FIG. 19 Dez retratos de Christian Boltanski, 1972 Fonte: GUMPERT, Lynn. Christian Boltanki. Paris:
Flamarion, 1994.
86
FIG. 20 Christian Boltanski. Reserve: The dead swiss, 1989. Fonte: GUMPERT, Lynn. Christian Boltanki.
Paris: Flamarion, 1994.
87
FIG. 21 Christian Boltanski et ses frres, 5/9/59, Octobre 1970 (postal enviado 60 pessoas).
Fonte: GUMPERT, Lynn. Christian Boltanki. Paris: Flamarion, 1994.
88
FIG. 22 Christian Boltanski et ses frres, 5/9/59, Octobre 1970 (postal enviado 60 pessoas).
Fonte: GUMPERT, Lynn. Christian Boltanki. Paris: Flamarion, 1994.
88
FIG. 23 Rosngela Ronn. Espelho dirio, 2001 Fonte: Rosngela Renn. C/Arte: Belo Horizonte, 2003
(Circuito Atelier)
89
FIG. 24 Christian Boltanski. Menschlich, Sachlich ( esq.) rtlich e Sterblich ( dir.) in Kaddish, 1998.
Fonte: BOLTANSKI, Christian. Kaddish. Munique: Kehayoff Verlag, 1998.
91
FIG. 25 Valeska Soares. Walk on by, 2006 (frames). Cortesia Inhotim Centro de Arte Contempornea, Minas
Gerais/Foto Eduardo Eckenfels
95
FIG. 26 Marep, 2002 por Duda Miranda, 2006. Catlogo da Coleo Duda Miranda. Foto: Duda Miranda 96
FIG. 27 Marep. Doce cu de Santo Antnio, 2002. Fonte: http://www.revistaohun.ufba.br/html/marepe.html
(14 de agosto de 2007, 10h51)
96
FIG. 28 Flix Gonzlez-Torres. Perfect Lovers, 1991. Fonte: AULT, J ulie. Felix Gonzalez-Torres : edited by
J ulie Ault. Gttingen : SteidlDangin, 2006
97
FIG. 29Yves Klein. Zona de sensibilidade pictrica imaterial, 1962. Fonte: STICH, Sidra Yves Klein/ Sidra
Stich. Stuttgard: Cantz, 1994
98
FIG. 30 Zona de sensibilidade pictrica imaterial por Duda Miranda, 2005 Fonte: Catlogo da Coleo Duda
Miranda. Foto: Duda Miranda
98
FIG. 31 J oseph Beuys. Pflasterstein, 1975. Fonte: BEUYS, J oseph. Cata logo da exposio no Museu de Arte
da Pampulha: Os mltiplos de Beuys: Joseph Beuys na coleo Paola Calacurcio.
99
FIG. 32 Lais Myrrha. Sem ttulo (deslocvel), 2001. Fonte: acervo da artista. Foto: Lais Myrrha 100
FIG. 33 Flix Gonzlez-Torrez. Sem ttulo (America). Fonte: AULT, J ulie. Felix Gonzlez-Torres : edited by
J ulie Ault. Gttingen : SteidlDangin, 2006
101
FIG. 34 Felix Gonzalez-Torres, Untitled (USA Today), 1990 (MoMA) Fonte: AULT, J ulie. Felix Gonzalez-
Torres : edited by J ulie Ault. Gttingen : SteidlDangin, 2006
102
FIG. 35 J oseph Beuys. Plantando carvalho para obra 7.000 oaks, Kassel, 1982.
Fonte: www.masdearte.com/general.cfm?noticiaid=6469 (15 de agosto de 2007, 14h12)
103
FIG. 36 Joseph Beuys com as pedras da obra 7.000 oaks, 1982.
Fonte: http://www.diacenter.org/ltproj/7000/dokumenta7.html ( 15 de agosto de 2007, 14h13)
104
FIG. 37 Lais Myrrha. Quatro coordenadas topocntricas e a construo de um possvel horizonte breve,
2004/2005. Fonte: Acervo da Artista. Foto: Eugnio Svio
106
FIG. 38 On Kawara. Um milho de anos (passado e futuro), desde 1970. Fonte: WATKINS, J onathan,
DENIZOT, Rene e KAWARA, On. On Kawara / Jonathan Watkins, "Tribute" Ren Denizot. London ; New
York : Phaidon, 2002. (Conteporary Artists).
108
FIG. 39 On Kawara. Pages, On million Years (Past) 1969. Fonte: WATKINS, Jonathan, DENIZOT, Rene e
KAWARA, On. On Kawara / Jonathan Watkins, "Tribute" Ren Denizot. London ; New York : Phaidon, 2002.
(Conteporary Artists).
109
FIG. 40 Flix Gonzlez-Torres. Untitled (endless stack), 1991. AULT, J ulie. Felix Gonzalez-Torres : edited by
J ulie Ault. Gttingen : SteidlDangin, 2006
111
FIG. 41 Lais Myrrha. Memorial do esquecimento, 2003. Fonte: acervo da artista Foto: Alexis Azevedo 113
FIG. 42 Susan Hiller. Monument, 1980-81. Fonte: http://www.susanhiller.org/ (15 de agosto de 2007 15h07) 114
FIG. 43 Susan Hiller. Monument, 1980 (detalhe) Fonte: http://bombyx-mori.blogspot.com/2005/04/do-acto-
criativo-ignotos.html (15 de agosto de 2007, 15h06)
115
FIG. 44 Christian Boltanski. Monumento: As crianas de Dijon, 1988 (detalhes) Fonte: GUMPERT, Lynn.
Christian Boltanki. Paris: Flamarion, 1994.
117
FIG. 45 Christian Boltanski. Monumento: As crianas de Dijon, 1988 (vista da instalao) Fonte: GUMPERT,
Lynn. Christian Boltanki. Paris: Flamarion, 1994.
118
FIG. 46 Rachel Whiteread.Holocaus-Monument (Nameless Library), Vienna, 2000. Fonte:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rachel_Whiteread (6 de setembro de 2007, 18h54)
122
FIG. 47 Lais Myrrha. Uma Biblioteca para Dibutade, 2006 Foto: Lais Myrrha 123
FIG. 48 Lais Myrrha.O auditrio (O palestrante), 2006 Foto: Lais Myrrha 124
FIG. 49 Lais Myrrha. O auditrio (O ouvinte), 2006 Foto: Lais Myrrha 124
FIG. 50 Flix Gonzlez-Torres. "Untitled"(America), 1994 Foto: Lais Myrrha 131
FIG. 51 Anselm Kiefer. Fonte: http://www.citador.pt/forum/viewtopic.php?t=2981 (9 de agosto de 2007,
08h14)
135
Introduo
Talvez seja no cume do meu particular que sou cientfico sem o
saber.
BARTHES
Escrever por fragmentos: os fragmentos so ento pedras sobre o
contorno do crculo: espalho-me roda: todo o meu pequeno
universo em migalhas; no centro, o qu?
BARTHES
I
FIG. 2 Rosngela Renn entre os lbuns da obra Bibliotheca.
FIG. 1 Goya. El sueo da razn
produce monstros (da srie Los
caprichos)
El sueo de la razn produce monstros. Esta a sentena que podemos ler numa das
gravuras da srieOs Caprichos de Francisco Goya. Em espanhol, a palavra sueo pode ser usada
tanto para significar sonho, quanto sono. O que confere a esta frase carter ambguo, ao ser
traduzida para o portugus como sono ou como sonho perde-se. Na palavra sono, est
implicado um desligamento da conscincia, uma ausncia temporria da faculdade de raciocinar.
13
O sono eterno um eufemismo usado para dizer (ou melhor, para no dizer) morte. Por sua vez,
sonho, alm de significar um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se
apresentam mente durante o sono, tem ainda por sinonmias as palavras projeo, desejo,
capricho, conjectura, quimera, ideal
1
.
Sugiro ento que preservemos a multiplicidade de sentidos que a sentena em sua lngua
original possui, para assim poderemos ouvir ecoar mais claramente as contraditrias vozes do
mundo moderno (ocidental) que na poca de Goya (1746 1828) ento se consolidava. Devemos
destacar que esse perodo histrico do surgimento do Iluminismo, movimento intelectual do
sculo XVIII, caracterizado pela centralidade da cincia, e que corresponde a uma corrente
filosfica fundada na racionalidade crtica, a partir da qual deriva uma postura ctica diante do
mundo. Embora o Esclarecimento tenha oferecido aportes dissociao entre o Estado e a Igreja
fator determinante para a conquista daquilo que se convencionou chamar de autonomia da
arte, para o desenvolvimento das cincias e para o surgimento de novas tecnologias criou,
tambm, seus monstros.
Ainda que muitas vezes no os reconheamos de imediato, alguns deles at hoje
perambulam pelo mundo. No so drages, grifos, salamandras, sereias, serpentes, golem ou
Frankensteins, andam paisana e fazem, com freqncia, aparies por exemplo, atravs de
discursos entusiasmados que, em tempos de crise, prometem sadas milagrosas. o caso da
apologia s novas tecnologias, que sob o pretexto de cuidar e manter a segurana pblica, a
qualquer preo e de modo infalvel, promove o desenvolvimento de armas e de sistemas de
vigilncia e controle cada vez mais poderosos. Na outra ponta, so esses mesmos avanos que
iro ameaar a paz e a liberdade pblicas princpios que no se sustentam mantidos pela fora,
1
DICIONRIO HOUAISS ELETRNICO
14
sem que haja um compromisso efetivo com a estruturao das bases sociais, polticas e,
conseqentemente, econmicas
2
.
As ltimas atuaes norte-americanas no Iraque tm mostrado bem o que isso, e
colocam sob suspeita a legitimidade de uma democracia quando esta instituda fora e de fora
para dentro. Ao que parece, como na tela de Delacroix, a liberdade continua guiando o povo por
entre mortos e flagelados suplicantes, carregando, com o brao erguido e ar vitorioso, uma outra
bandeira, tambm azul, branca e vermelha, a derramar seu tom rubro sobre uma terra sulcada por
valas comuns, onde os corpos de seus filhos se amontoam aos milhares.
importante dizer que quando se instaura uma guerra, isso significa que muita coisa j
entrou em colapso. Dentre elas, e principalmente, a poltica e a dialtica. Quando acontece de a
poltica no ser capaz de resolver determinados impasses significa, dentre outras coisas, que o
dilogo se perdeu, que no h mais (pelo menos em dado momento) troca possvel, e a que se
abre espao para a fora entrar.
II
A guerra, de todas as arbitrariedades, provavelmente a mais extrema. Mesmo o Brasil
que meu pas natal no tendo passado pelo trauma de uma guerra como foram as duas
grandes guerras ou como as guerras que j aconteceram e continuam acontecer no oriente ou
ainda as guerras civis na frica, no Haiti, a guerra de Secesso, etc, impossvel, para mim, ficar
isenta.
No momento em que os meios de comunicao passam a distribuir (mesmo que parcial e
truncadamente) informaes sobre atrocidades; a partir do momento em que vemos eclodirem
2
Sobre violncia e poder cf. ARENDT, Hannah. A condio Humana, cap. V
15
manifestaes em vrios pases contra as guerras, e as reivindicaes pela paz no serem
atendidas pelos governantes, omitir-se no mais possvel.
Da surge uma pergunta que gera muito mal-estar: quais so os limites da Democracia?
Tendo nascido em um pas que viveu mais de 20 anos sob uma ditadura militar, sejam quais
forem as limitaes da democracia, para ns, ela , ainda assim, muito melhor, embora se
reconhea a necessidade de que seja aprimorada.
De um modo ou de outro, sempre trabalhamos ou convivemos com coisas que tememos
ou que nos provocam algum tipo de mal-estar. Talvez uma das formas mais recorrentes desse
mal-estar nas sociedades capitalistas contemporneas seja a experincia do luto. Desde que a
morte deixou de fazer parte da vida domstica, sendo relegada aos asilos e hospitais, fomos sendo
cada vez mais afastados da noo do memento mori e dos rituais fnebres. Prefiro considerar o
trabalhar com coisas que me causam mal-estar uma maneira de enfrent-las (nem que seja em
termos simblicos). uma forma que encontrei de conviver com os fantasmas que, aterrorizam e
provocam opresso: a morte, e paradoxalmente, a ausncia do luto.
As duas coisas que me causam mais terror so a morte e o infinito. A morte pela sua
certeza e o infinito pela sua atroz incerteza. Lidar com a idia de incompletude, pode ser
consolador porque ela significa que ainda se tem algo a dizer, a fazer. H um conto de talo
Calvino, nas Cidades Invisveis, emque ele fala da temtica da construo e da destruio.
Marco Plo, protagonista do livro de Calvino, pergunta por que a construo da cidade de
Tecla demorava tanto tempo, ao que lhe respondem: Para que no comece a destruio. No
satisfeito, continua: Qual o sentido de tanta construo? Qual o objetivo de uma cidade em
construo seno uma cidade? Onde est o plano que vocs seguem, o projeto? Mas suas
questes no so de imediato sanadas, preciso esperar o fim da jornada de trabalho que cessa ao
16
pr-do-sol. A noite cai sobre os canteiros de obra. uma noite estrelada. Eis o projeto
dizem
3
.
A resposta do habitante de Tecla, talvez no parecesse to imprecisa, se Marco Plo
descrevesse seu gesto e o lugar para onde provavelmente ele apontou ao dizer eis o projeto.
Mas, ao invs disso, Marco Plo quem faz o apontamento quando se refere noite que cai e ao
cu estrelado, e assim no podemos precisar qual exatamente o projeto: a contemplao da
natureza (do cu estrelado), o descanso aps a longa jornada de trabalho, ou se nesse cu
estrelado buscam encontrar um desgnio csmico que pudesse ser seguido. uma parbola sobre
a ordem invisvel que governa a cidade, sobre as regras a que respondiam o seu surgir e formar-
se e prosperar e adaptar-se s estaes e definhar e cair em decadncia
4
. Ou seja: uma
parbola sobre o ciclo da vida.
III
Embora esta dissertao no tenha como centro meu trabalho artstico, muitos dos temas
que abordarei tocam, de forma mais ou menos direta, minha produo. Entre os ltimos trabalhos
por mim realizados, consta a instalao intitulada de Teoria da Bordas que apresentei numa
exposio individual neste ano, chamada Reduo ao Absurdo. A obra consiste em cobrir a
metade de um piso com uma espessa camada de granitina preta e a outra metade com a mesma
quantidade de granitina branca. Assim, a obra que, inicialmente, apresentava um aspecto
construtivista que, nos remete forte tradio geomtrica da arte brasileira , pouco a pouco,
na medida em que as pessoas iam caminhando sobre ela, ia se desfazendo. Seu aspecto
geomtrico se desmancha, suas bordas se diluem, por fim, num cinza escuro.
3
CALVINO, 2002, p. 117
4
Ibidem, p. 112
17
FIG. 3 Lais Myrrha. Teoria das bordas, 2007 FIG. 4 Lais Myrrha. Teoria das bordas, 2007
importante destacar que essa instalao traz algo fundamental no meu modo de
produo: fruto de uma forte inclinao autocrtica, revela o constante desejo de reconfigurao
dentro do meu prprio trabalho. Embora o uso de pedras seja recorrente na minha obra, a
utilizao desse material no uma premissa, um ponto de partida, mas uma espcie de lugar ao
qual retorno, com freqncia, mas nem sempre de bom grado.
As pedras possuem uma carga simblica que nos faz associ-las rigidez, ao remoto
tempo geolgico, s construes faranicas, austeridade, s runas. Embora esse peso no
me agrade, optei por no elimin-lo dos meus trabalhos. Pois atravs do ar grave que as pedras
possuem, que provoco sua derriso e assim, na exposio Quarto de Bal realizada em 2005,
apresentei o Dicionrio do impossvel (um dicionrio cujas pginas eram de pedras).
Nessa obra, gravei sobre placas de mrmore, verbetes de dicionrio cujos significados
soavam como impossibilidades; como no seria factvel (por questes espaciais) utilizar todas as
palavras impossveis do dicionrio decidi concentrar-me naquelas iniciadas pela letra i, pois
esse recorte permitiria a compreenso do trabalho e ainda deixaria em aberto para o espectador a
possibilidade de decidir o que, para ele, impossvel. Para mim, o impossvel poderia ser
definido como aquilo que se pensa em termos de intransigncia. Por isso a presena de palavras
18
como irrefutvel, irrespondvel, inequvoco, mas tambm, imortal, imbatvel e
inquebrantvel. Quando se diz que tal coisa est (foi) escrita em pedra, quer-se dizer que essa
coisa uma lei, um mandamento; ento quando escrevo essas palavras nas pedras e as chamo de
dicionrio do impossvel estou dizendo que as leis, os mandamentos etc so falveis, quebrveis.
Creio que nesse trabalho, o esfacelamento da pedra contido na instalao Teoria das bordas, j
estava preconizado.
FIG. 5 Lais Myrrha. Dicionrio do impossvel, 2005
Essas reflexes tornam-se importantes para pensarmos como cheguei a algumas
questes que so objeto deste texto. O fato de ter escolhido utilizar granitina que um tipo de
p de pedra, de gramatura similar areia, que a sobra das pedras depois de trituradas para
fazer a instalao Teoria das Bordas, de certa forma, trouxe para dentro de meu trabalho uma
certa crisis, no no sentido de auto-destruio, mas para fazer proliferar as possibilidades de
sentido. Simbolicamente, a instalao feita com as runas materiais de outros trabalhos meus
Sem titulo, 2001 (Beije a mo da sua imagem), sem ttulo, 2001 (deslocvel), 4 coordenadas
19
topocntricas e a construo de um possvel horizonte breve (de I a XI), 2005, Dicionrio do
impossvel (2005) , mas isso no constitui seu fim, antes, o surgimento de uma nova condio
com a qual preciso lidar. Ainda, importante destacar que no tenho a inteno (a pretenso) de
criar uma cartografia similar a algo anterior ou posterior a uma guerra, o que considero
impossvel e mais ainda, antitico, lembro-me bem das lies aprendidas com Sontag em
Diante da dor dos outros.
Retornando exposio Reduo ao Absurdo, nela apresentei o udio Marcha lenta ao
qual, posteriormente, acrescentei o subttulo (ou cinema cego). Nele podemos notar uma
proposio de desaceleramento, que tambm pode ser uma constatao.
A Marselhesa um hino emblemtico do desejo revolucionrio de secularizao de uma
sociedade que ento se tornava moderna, smbolo da tomada de poder pelo povo e da formao
da idia de nao, enfim, dos ideais iluministas sobre os quais, como j dissemos, a modernidade
se firmou. Sempre me lembro da frase de Mrio Pedrosa: o Brasil um pas condenado ao
moderno. Se pensarmos no que Andras Huyssen aponta como sendo uma das caractersticas
fundamentais do(s) modernismo(s), a idia de futuros presentes, veremos que a frase de
Pedrosa faz muito sentido o mito fundador brasileiro : Brasil o pas do futuro , e estar
condenado a isso pode ser terrvel sob muitos aspectos.
O trecho que recorto da Marselhesa um verso que diz Marchons, marchons!, que
isoladamente, no diz nada, pois torna-se uma marcha com finalidade nela mesma, assim como a
roda de bicicleta de Duchamp. Entretanto a roda de Duchamp tem um movimento circular coisa
que a marcha (como ritmo) no tem, ela carrega consigo a idia de avano. Avano, que no caso
desse udio, no prospera bem: pois que se trata de uma marcha que falha, que trupica, que
engasga. Ao escut-la temos a sensao de uma trajetria que passa por paisagens aterradoras.
20
O udio tem algo de panormico. Da a idia de cinema cego, porque a prpria idia de
cinema, remete-nos a esse encadeamento linear que o filme necessariamente possui (mesmo
considerando os procedimentos de montagem, corte, etc). Embora possuindo um tom ameaador,
para mim, nesse udio no se trata tanto de uma marcha, para a destruio, quanto de uma
desconstruo da marcha como algo belicoso e patritico, que est a servio de uma splica:
encontrarmos outras formas de pensar e, sobretudo, de vivenciar o tempo.
Ainda constava da exposio em que se apresentou o udio Marcha Lenta e a instalao
Teoria das Bordas, um vdeo chamado Compensao dos erros que mostra a tentativa de fazer
um desenho de observao dos nmeros de um relgio digital em funcionamento. Entretanto, a
rapidez com a qual os nmeros que representam os segundos se modifica, torna a tarefa intil e o
desenho sempre incompleto. Desenhando e apagando e tornando a desenhar, o vdeo finda aps
uma hora, no instante em que o desenho totalmente apagado.
FIG. 6 Lais Myrrha. Compensao dos erros, 2007 (frames)
Por fim, o nome da exposio Reduo ao absurdo e o nome do vdeo Compensao
dos erros referem-se a conceitos filosfico-matemticos que vm de momentos anteriores ao
mundo moderno, no qual a teoria dos limites (na matemtica) ainda no fora desenvolvida. Esses
conceitos eram usados para exprimir que o resultado de determinada proposio matemtica,
geomtrica ou aritmtica, tendia ao infinito e que o resultado apresentado no era exato, mas uma
21
aproximao. Assim, a exposio traz sutilmente baila uma srie de conceitos fundadores do
mundo moderno, do princpio da razo.
Isso reforado pela presena de quatro fotografias, duas que formavam um dptico (O
Auditrio) e outras duas que so as primeiras da srie Uma Biblioteca para Dibutade, nelas,
smbolos do conhecimento e da autoridade do saber se encontram arruinados. Por hora isso nos
basta, deixemos alguma coisa para mais tarde, isso que vou guardar para o meio-dia. Para o
meio dia...
5
para quando chegarmos ao final desta dissertao.
IV
Nesta dissertao trabalharei com a fotografia a partir dos textos de Walter Benjamin e
Roland Barthes enfatizando a questo da distncia e da ausncia, no que concerne imagem
fotogrfica. Fundamental ser, portanto, o conceito de aura em Benjamin, que a define como
uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a apario nica de uma
coisa distante, por mais prxima que ela esteja
6
. Dentro desse raciocnio, destacaremos o
esmagamento do tempo que a fotografia provoca eque para Barthes faz o tempo assumir papel
de punctum na fotografia.
No entanto, considero que falar sobre, ou, com a fotografia sem assumir uma certa
gagueira (como escapar a Benjamin, Barthes, Sontag e Krauss?) bastante difcil. Preferi,
ento, pensar a fotografia como elemento constituinte de alguns trabalhos de arte, bem como a
sua penetrao em relao a diferentes contextos, deixando-me levar pelas reminiscncias de
trabalhos que vi e estudei ao longo de minha jornada como artista. No deixarei de fora tambm a
5
BRADBURY, 1988, p.171
6
BENJAMIN, 1985, v.1 p.101
22
idia desenvolvida por Philippe Dubois de que arte contempornea passou a operar por uma
lgica fotogrfica, isso uma lgica do ndice e do instante.
Outro tipo de produo simblica de que trataremos aqui o monumento, mas no
aquele tradicionalmente associado histria oficial e ao poder (que nos interessar apenas como
contraponto). O mais importante ser pensar como a arte contempornea ir se utilizar dessa
forma memorial pra criar frices, tenses e reflexes acerca de alguns temas relativos
memria. Para isso me valerei das obras de Nan Goldin, Rosngela Renn, Christian Boltanski,
Susan Hiller, Flix Gonzlez-Torres, On Kawara, J oseph Beuys, Rachel Whiteread.
Assim, no primeiro captulo tratamos da mudana na experincia da durao operada
com, e pela, modernidade a partir de textos de Walter Benjamin, Roland Barthes, Andreas
Huyssen, e a subseqente configurao do Mundo-Imagem tal como pensado por Susan Sontag.
Discutindo ainda algumas implicaes e desdobramentos poltico-sociais contidos nas formas
memoriais que sociedades capitalistas adotaram para se fazerem representar.
No segundo captulo o eixo central ser o lbum de famlia, as memrias pessoais, o
retrato e a aura. Falaremos da srie de Nan Goldin intitulada The ballad of sexual dependency,
que ela inicia em 1973 aps o suicdio de sua irm. Nela, a artista fotografa os membros de sua
famlia que inclui, alm dos pais, o namorado e seu grupo de amigos. Dentro dessa Busca ao
tempo perdido, no poderamos deixar Proust de lado, muito menos aquilo a que chamava
mmoire involuntaire, que, de acordo com Benjamin, mais uma obra do esquecimento do que
da memria. Esquecimento que a Bibliotheca de Rosngela Renn (obra apresentada pela
primeira vez no museu de arte da Pampulha em 2003) to bem representa, ao criar um sistema de
arquivamento utilizando lbuns de fotografia selados, um arquivo e um mapa-mundo que se
unem num jogo entre o mostrar e o ocultar.
23
No terceiro captulo a nfase recair no retrato fotogrfico, como a imagem do outro
par excelance, pois que, na fotografia, o que vemos sempre o retrato de um morto, daquilo que
no mais, como poderamos nos identificar com ele? A partir da nos ser dado pensar a
participao do retrato na constituio da identidade, e desta como fico.
O ltimo captulo ser dedicado s obras que poderamos classificar como anti-
monumentos. So obras de Susan Hiller, Flix Gonzlez-Torres, On Kawara, J oseph Beuys e
duas obras de minha autoria em que h uma subverso do conceito tradicional de monumento que
visa, exclusivamente, ao estabelecimento de uma memria oficial a partir da representao de
pessoas ou acontecimentos exemplares. Ao contrrio disso, essas obras evocam o dinamismo da
memria e da sua constituio como uma negociao entre a lembrana e o esquecimento. Os
anti-monumentos esto do lado da reivindicao por uma memria na qual os membros de uma
sociedade possam se reconhecer e assim se tornarem coesos.
Para concluir, falaremos da negao da morte como procedimento fundamental para a
introduo da amnsia como sistema de controle social. Reconheceremos a profunda necessidade
de memria na constituio da afetividade e da singularidade do sujeito, mas destacaremos que
esta depende da morte porque s podemos nos lembrar daquilo que no , ou no est mais.
Por isso, talvez, devssemos pensar sobre a necessria reintroduo simblica da morte em nossa
vida, no como catstrofe, mas como parte essencial da condio humana
7
. Por isso o meu desejo
de pensar a arte como agente ativo para o restabelecimento do memento mori entre ns.
7
ARENDT, 2005, p.10
24
Fotografia e Monumento: primeiras consideraes
A compulso ao balano inevitvel e, ao mesmo tempo,
antiptica, por ser fcil a prepotncia dos vivos sobre os mortos.
LEYLA PERRONE-MOISS
I - Fotografia versus Monumento?
No seu livro A Cmara Clara, Roland Barthes, confronta duas formas de produo
simblica que, embora igualmente mnmicas, apontam para maneiras diferenciadas de as
sociedades se relacionarem com a memria e, consequentemente, com a morte. O monumento e a
fotografia.
O autor observa como o rpido desenvolvimento tecnolgico da fotografia fez com que o
homem moderno, cada vez mais, instantnea e freqentemente, fosse capaz de guardar e
reproduzir o passado, o vivido, com o mximo de realismo possvel. Por esta razo, segundo
ele, que a fotografia torna-se, a partir da sua industrializao, o testemunho geral e como que
natural, daquilo que foi. Para ele, a fotografia, no apenas sobreviera ao monumento como
uma simples conquista tecnolgica, mas antes, como uma transformao de valores.
As sociedades antigas procuravam fazer com que a lembrana,
substituto da vida, fosse eterna e que pelo menos a coisa que falasse
da morte fosse imortal: era o Monumento. Mas ao fazer da
fotografia, mortal, o testemunho geral e como que natural daquilo
que foi, a sociedade moderna renunciou ao monumento
8
.
8
BARTHES, 1984, p.139
25
Para Barthes, dentro de um panorama mais amplo, o que a adeso fotografia como
forma memorial preponderante vai encarnar ou simbolizar a maneira como as sociedades
modernas relacionam-se com a morte: como um evento. Para ele isso designa uma entrada na
Morte ch qual associa uma crise espiritual-religiosa pelo menos no ocidente que
conduzir a uma crise da Morte. Fora da religio, do ritual, a Morte aqui se torna assimblica,
espcie de mergulho brusco na morte literal
9
.
Completa dizendo que nessa morte estaria inscrita a sua prpria (a de qualquer um de
ns). A morte encarada como um fenmeno prprio a qualquer corpo biolgico passa a ser
gradualmente despida do vu de religiosidade e misticismo no qual permaneceu envolta durante
milnios. Para destacar o carter de mera banalidade que ela assume nas sociedades modernas,
Barthes utiliza a fotografia como metfora desse corpo perecvel que o corpo biolgico. Corpo,
cuja extino no passa de um fenmeno, de um acontecimento (fugaz) digno de observao e de
notabilidade to durvel quanto o papel, no qual as imagens fotogrficas so impressas; corpo
cuja memria to descartvel e substituvel quanto possvel. Por fim, alerta-nos para o fato de
tudo isso preparar-nos para, em breve, no mais conseguirmos conceber, afetiva e
simbolicamente, a durao.
II - Construir, Destruir
Quarenta e nove anos aps Benjamin ter escrito sua Pequena histria da fotografia,
Barthes publicou A cmara clara. Hoje, encontramo-nos h setenta e seis anos de distncia do
primeiro texto, h vinte e sete anos do segundo e h cento e oitenta e cinco anos das primeiras
9
BARTHES, 1984, p. 139
26
experincias fotogrficas realizadas por Daguerre e Niepce. Pensando bem, a nvoa que recobre
os primrdios da fotografia, hoje, mais espessa do que aquela que recobre a histria da cidade
em que nasci e vivi por quase toda minha vida
10
, e na qual a famlia da minha av paterna se
instalou desde a poca de sua fundao nos ltimos anos do sculo dezenove.
Agora, em 2007, nada ou quase nada resta dessa primeira cidade. As casas em que
moraram meus antepassados foram substitudas por edifcios, as frondosas rvores plantadas pelo
av de minha av, por toda Avenida Afonso Pena, foram cortadas. Segundo o que diz a verso
oficial, devido a uma praga. De todos os fcus que o meu trisav cultivou, os que restaram, esto
no parque municipal, embora no faam mais sombra sobre a casinha de madeira em que viveu.
Dessa poda radical, no entanto, no se viu nascer nenhuma cidade realmente moderna
(prova disso que at hoje s se conseguiu implantar uma nica linha de metr), nenhum projeto
urbano surpreendente. No lugar disso surgiram somente mais algumas faixas para a passagem de
veculos. Aqui, o processo de modernidade se deu (e ainda se d) aos solavancos, por espasmos.
III - Destruio e Imagem
A partir de meados do sculo dezenove na Europa e do incio do sculo XX na
Amrica do Norte, e em muitos pases da Amrica Latina, a acelerao crescente dos processos
de modernizao fez com que o mundo parecesse cada vez mais contingente e efmero. Cidades
como Paris, por exemplo, tiveram seu cenrio completamente modificado: do traado da antiga
cidade medieval, constituda por vielas tortuosas, o Baro Haussmann, fez abrir longos
boulevards e avenidas conferindo cidade uma ordenao geomtrica que pretendia refletir a
10
Cf. BENJAMIN, 1985, v. 1 p.94
27
concepo e as aspiraes do que se entendia por uma vida moderna: higiene, salubridade,
velocidade e visibilidade.
Benjamin, ao escrever sobre o processo de modernizao pelo qual passou Paris, cita
alguns comentrios feitos por personagens da poca. Nesses relatos, o espanto, o temor e o
fascino se mesclam e, com isso, acabam por apontar para o carter ambguo da modernidade.
Numa das passagens do texto que dedica Paris do Segundo Imprio, o autor destaca a
importncia que as imagens adquirem quando deparamo-nos com algo que sabemos que, em
breve, j no teremos diante de ns
11
. Por isso J oubert, em 1869, escreveu: os poetas so mais
inspirados pelas imagens do que pela prpria presena dos objetos
12
. Levemos em conta que:
Quando, em meados do sculo XIX, o padro [de um modo de
apreender o real sem usar imagens] parecia estar, afinal, ao nosso
alcance, o recuo das antigas iluses religiosas e polticas em face da
investida do pensamento cientfico e humanstico no criou
como se previra deseres em massa em favor do real. Ao
contrrio, a nova era da descrena, reforou a lealdade s
imagens.
13
Susan Sontag, ao escrever sobre o sentimento de caducidade experimentado pelas
modernas sociedades, constata que o que se perfilar com esse sentimento o surgimento de um
Mundo-Imagem. Nas palavras da autora, nesse mundo no se trata mais de realidades
compreendidas na forma de imagens, mas de realidades compreendidas como se fossem
imagens, iluses
14
. Ela se debrua sobre a importncia que a imagem e, mais especificamente, a
imagem fotogrfica adquire nessas sociedades, chegando a comentar, inclusive, que estas s
se tornam efetivamente modernas, quando uma de suas principais atividades passa a ser a
11
BENJAMIN, 1994, v.3 p.85
12
J OUBERT Apud BENJAMIN, 1994, v. 3 p.85
13
SONTAG, 2004, p.169
14
Ibidem
28
produo e o consumo de imagens
15
. Assim, a relao que as pessoas passam a estabelecer, tanto
entre si, como com o mundo, e com as coisas, objetos, e demais seres que o habitam, passa ser
baseada na ausncia e na distncia, indicada pela presena de imagens de toda a sorte.
Seguindo, pari passu, a expanso do mundo-imagem, vemos avultar-se aquilo que
Benjamin detectou como sendo o declnio da experincia. Vale esclarecer que, para ele, a
experincia se inscreve numa temporalidade comum a vrias geraes; tem a ver com uma
tradio compartilhada e retomada na continuidade de uma palavra transmitida de pai para filho,
pressupe uma prtica comum. Para o autor o conceito de experincia est, portanto, associado
continuidade e temporalidade existente nas sociedades artesanais
16
.
Mas, e a prtica fotogrfica? Poderia ser entendida nesse sentido? Parece que no. O furor
fotogrfico que se espalhou mundo afora nada tem a ver com a idia de um ofcio transmitido por
uma tradio (exceto em casos muito especiais). As cmaras, cada vez mais automticas, so
preparadas para que os usurios, mesmo no compreendendo os princpios fotogrficos,
consigam obter boas imagens, isto : imagens ntidas, iluminadas, sem perda de foco. Por isso
no possvel pensarmos a atividade fotogrfica como uma porta para a retomada ou
restabelecimento da experincia tal como a concebe Benjamin. Alis, o que ocorre com a
disseminao dessa atividade, como veremos, , seno o contrrio, pelo menos bem diferente
disso; ela est mais prxima do tempo deslocado, fragmentado e descontnuo das modernas
sociedades capitalistas ao qual o autor associa o conceito de vivncia
17
. Na vivncia, o tempo que
conta o tempo presente, o aqui e o agora, o instante e este no seria justamente o tempo que
a fotografia privilegia?
15
SONTAG, 2004, p. 169 Et seq.
16
GAGNEBIN, 1994, p. 65 Et seq.
17
GAGNEBIN, 1994, p. 65 Et seq.
29
IV - Fotografar, Consumir
No cerne da atividade fotogrfica est o consumismo. No seu extremo, o vcio que
entendido aqui como consumo desmedido motivado por uma incapacidade de romper com o
automatismo e com a repetio conduz consumio. Na compulso fotogrfica ocorre uma
consumio dupla: a daqueles que vo atrs da vida que foge, daqueles que so como um
caador do inalcanvel, como os disparadores de instantneos
18
, e aquela do poder de
significao das imagens (fotogrficas). Quanto a isto Susan Sontag comenta:
Da mesma forma que um automvel, a cmara vendida como uma
arma predatria - to automtica quanto possvel, pronta para
disparar. (...) to simples como ligar o carro ou apertar o
gatilho.(...) So mquinas-fantasia, cuja utilizao induz ao vcio.
19
Ver e produzir fotos tornou-se algo automtico, banal, indiferente e, ao mesmo tempo,
essencial o que no constitui, necessariamente, um paradoxo. Rodeados por imagens
fotogrficas de toda sorte, no nos tornamos, a rigor, mais desconfiados ou crticos,
provavelmente, apenas mais familiarizados e mais desejosos em relao a estas. A fotografia
tornou-se um dos principais expedientes para experimentar alguma coisa, para dar uma aparncia
de participao.
20
Atualmente, no basta acumularmos experincias em nossa memria, preciso fotograf-
las para que sejam exibidas pelo maior nmero de pessoas possvel vide a proliferao de
lbuns de fotos disponveis na internet. De modo irrefletido, as sociedades modernas, produzem,
consomem, destroem fotografias num ritmo vertiginoso, devoram o mundo atravs de imagens e
18
CALVINO, 1992, p. 58
19
SONTAG, 1977, p.14
20
Ibidem, p.21
30
a estas como se fosse o mundo, do qual, paulatinamente se vem afastadas. Isso decorre, por
um lado, da reduo do mundo informao e/ou imagem e, por outro, da crena de que seu
fim (do mundo) est cada dia mais prximo.
A perda crescente do sentido de estabilidade e durabilidade tenta ser paga com a salvao
pela imagem fotogrfica. Aqui vemos um terceiro modo de consumio: o mundo e as coisas que
inclui, bem como as pessoas que o habitam, passam a ser rapidamente transubstanciados em
fotografias para serem vistos, manipulados, colecionados, arquivados e, finalmente, esquecidos,
descartados.
V Consumir, Lembrar
Se consumir fotos , simbolicamente, consumir o mundo, Sontag tem razo em notar que
colecionar fotos colecionar o mundo. Arquivo e coleo guardam aspectos semelhantes, mas
no so, de modo algum, idnticos. A diferenciao entre os dois demandaria um estudo bem
mais prolongado e apurado que, certamente, levaria a caminhos os quais, nesta ocasio, no seria
possvel percorrer. Por ora, basta concentrarmos no fato de que o arquivismo e o colecionismo
so procedimentos que denotam, no apenas uma preocupao com a histria, coletiva ou
particular, de fatos, pessoas, civilizaes, mas, antes de tudo, referem-se a modos de lidarmos
com o passado no nosso presente.
Mais precisamente, indicam como e o que desejamos trazer do passado para o presente (se
que se quer trazer algo de l) e onde queremos inscrever aquele, neste. Se podem ser vistos
como sintomas da falta de credibilidade no nosso presente, como o nico tempo seguro (alm da
certeza da morte), o colecionismo e o arquivismo, como procedimento, no estariam ligados a
31
acelerao do processo de obsolescncia daquilo que consideramos atual, de um presente que se
esfacela e se consome numa rapidez que mal conseguimos acompanhar?
Como cresceram com as cidades, os meios - e devo acrescentar - a velocidade, com que
possvel arras-las
21
, tambm foi preciso criar meios mais velozes e instantneos de produzir
imagens. No quaisquer imagens, mas imagens que sejam capazes de garantir-nos um sentido de
durao; ainda que para ns a durao no signifique mais algo que perdure indefinidamente no
tempo, mas to somente, o espao de tempo determinado de um acontecimento, um fenmeno,
uma circunstncia
22
.
Ento, a durao seria, de certo modo, uma espcie de espacializao do tempo. A
fotografia est ligada a uma noo de um tempo infinitesimal, de um tempo que pode ser
infinitamente decomposto. Conforme a tecnologia avana, esse o tempo pode ser decomposto em
fraes cada vez menores, oferecendo-nos a possibilidade de constituirmos uma memria visual
at ento impensada a no ser talvez, por Irineu Funes.
VI - A maldio da memria total
No conto Funes, o memorioso, J orge Luis Borges narra a histria do jovem Irineu Funes
que aps ter sido derrubado de um cavalo ficara aleijado. Imvel, irremediavelmente preso a um
catre, o personagem adquiriu, aps o acidente, a impressionante faculdade de se lembrar de
absolutamente tudo.
Dito de outro modo, Funes tornou-se incapaz de se mover, mas tambm de esquecer.
Funes conta ao narrador, que ao recobrar o conhecimento depois da queda, o presente era
21
BENJAMIN, 1995, v.2 p.84
22
Cf. DICIONRIO HOUAISS
32
quase intolervel de to rico e to ntido, e tambm as memrias mais antigas e mais triviais.
Conta ainda que o fato de ter ficado aleijado apenas interessou-lhe e que pensou (sentiu) que a
imobilidade era um preo mnimo, pois agora sua percepo e sua memria eram infalveis
23
.
Tudo isso foi contado ao narrador, na escurido do quarto em que Irineu, segundo disse
sua me, costumava passar as horas mortas sem acender vela
24
. Ao reler o conto, pude notar
que era lcito compreend-lo como uma alegoria da teoria fotogrfica. O prprio narrador chega a
fazer uma breve analogia entre Funes e sistemas de gravao e reproduo de sons (fongrafo) e
de imagens (cinema).
Para mim, o corpo de Irineu corresponde a um filme, a uma extensa chapa sensvel, onde
tudo o que seus sentidos captam fica marcado. Quanto ao narrador, ele adentra o quarto escuro
em que Irineu se encontra prostrado, como o fotgrafo adentra seu laboratrio a fim de fazer
emergir a imagem dos gros de prata marcados pela luz. O conto termina ao raiar do dia, quando
enfim o narrador pode ver o rosto que toda a noite falara (...), Funes pareceu- lhe monumental
como o bronze, mais antigo que o Egito, anterior s profecias e s pirmides
25
. O narrador teme
que cada um de seus gestos, de suas palavras perdure na implacvel memria de Funes, porque
agora, sob a luz, pode ser visto por este solitrio e lcido espectador de um mundo multiforme,
instantneo e quase intoleravelmente exato
26
.
Posto que no mundo de Funes no houvesse seno pormenores quase imediatos (como
nas fotografias), o narrador suspeita que ele no seria capaz de pensar, pois para pensar seria
necessrio que pudesse esquecer as diferenas, generalizar, abstrair
27
. Estes so pr-requisitos
23
BORGES, 1998, p.124 Et seq.
24
Ibidem, p.123
25
BORGES, 1998, p.128
26
Ibidem, p.127
27
Ibidem, p.128
33
bsicos para a constituio de qualquer cincia, de qualquer histria, de qualquer linguagem, de
qualquer filme, mas no para a Fotografia. Nela, as particularidades, as diferenas, as excees e
os detalhes, so reproduzidos ao infinito.
VII Fotografia, Monumento e Histria
possvel que ainda exista alguma cultura na qual a representao do corpo humano deve
se pautar em princpios rigorosos como aqueles vigentes na China de Mao. No incio dos anos de
1970, Sontag comenta sobre a recepo indignada que, nessa mesma poca, o Chuang Kuo de
Michelangelo Antonioni teve naquele pas. De acordo com a crtica chinesa da poca, a seqncia
do filme em que o diretor registra as pessoas esperando o momento de serem fotografadas na
praa Tien Na Men (centro de pereginao poltica do pas), em Pequim, depreciativa. Nas
tomadas que Antonioni elege se v uma pessoa arrumando o cabelo, pessoas espiando, com os
olhos ofuscados pelo sol, um enquadramento que mostra apenas as calas e as mangas das
roupas usadas pelo povo. O argumento usado pelos crticos chineses que ao invs de o diretor
mostrar como o forte desejo das pessoas de se fazerem fotografar na praa revelava seus
profundos sentimentos revolucionrios, ele (Antonioni) ao priv-las da pose, impedia que
fossem fotografadas da melhor maneira possvel
28
.
Tal reivindicao , antes de tudo, uma reclamao de, e por, uma Histria (e tem de ser
com h maisculo) oficial. Uma Histria onde no h lugar para a subjetividade, para a exceo,
para o desvio, para a diferena, para o detalhe no por acaso que na China desse perodo,
28
SONTAG, 2004, p.188 Et seq..
34
tanto as pessoas quanto os objetos, eram fotografados de frente, centrados, claramente iluminados
e no seu todo.
29
A Histria que tentou ser o grande princpio explicativo da conduta, dos valores e de
todos os elementos da cultura humana foi, assim como a fotografia, uma inveno do sculo XIX.
De acordo com Barthes, isso constitui um paradoxo. Pois para o autor a Histria seria,
uma memria fabricada segundo receitas positivas, um puro
discurso intelectual que abole o Tempo mtico e a Fotografia o
testemunho seguro, mas fugaz daquilo que foi e na qual a presena
jamais metafrica
30
.
O tempo mtico/religioso vincula-se ao tempo circular, no qual os acontecimentos so, de
tempos em tempos, revividos (simbolicamente) atravs de cerimnias, homenagens, festas,
rituais, que se repetem de acordo com um calendrio determinado. Bastante distinta disso a
noo de tempo adotada pela historiografia tradicional, na qual o tempo h que ser reto, linear,
sem sinuosidades; deve correr ao longo de uma extensa e ininterrupta linha onde os
acontecimentos so dispostos de forma progressiva num continuum e encadeados por uma lgica
de causa e efeito.
A Histria, tradicionalmente, se ocupa das grandes narrativas, dos eventos importantes,
das personalidades clebres em momentos determinantes, profissional. Nesse ponto, podemos
associ-la ao Monumento. A Histria e o Monumento so os dois oficiosos guardies da
posteridade. As narrativas histricas, que os monumentos tm por funo simbolizar, contam
vitrias, glrias, domnios. Nelas no h lugar para a representao do homem ordinrio, para
suas histrias pessoais, para seu anonimato, para a memria de sua vida. O homem comum no
29
Ibidem, p.189
30
Cf. BARTHES, 1984, p.118
35
passa de um homem na multido, clula de um corpo social do qual faz parte, mas ao qual no
imprescindvel (a menos que sua existncia seja, de algum modo, exemplar e assim possa ser
mitificado, tornado cone, heri, emblema, paradigma ou contra-paradigma).
Por seu turno, a Fotografia inclui, no s o que notvel, mas a soma assombrosa e
irredutvel das insignificncias, dos pormenores e dos detalhes. amadora. Mas nem sempre foi
assim.
Em primeiro tempo, a Fotografia para surpreender, fotografa o
notvel; mas logo, por uma inverso conhecida, ela decreta notvel
aquilo que fotografa. O no importa o que se torna ento o ponto
mais sofisticado do valor
31
.
O que Barthes nos revela nesse comentrio , seno a maior, pelo menos uma das
questes mais caras fotografia, uma das mais poderosas inverses de valores que esse meio de
produo encerra. No o fato de tal coisa, pessoa ou evento ser reconhecido objetivamente
como relevante, o que importa o fato de que, ao fazer uma fotografia, posso designar o que
importante para mim, segundo critrios estritamente pessoais.
H ainda uma ltima considerao a ser feita a respeito da histria e da fotografia: para
uma, imprescindvel que haja a ausncia, para a outra, a presena. A Histria s feita, s
escrita na ausncia do acontecimento, necessariamente, sempre posterior a ele. No caso da
Fotografia o que acontece diferente, pois ela se faz apenas na presena, no instante mesmo do
acontecimento.
31
BARTHES, 1984, p. 57.
36
VIII - Em busca do singular
Todas as fotografias do mundo formam um labirinto.
32
Barthes percorreu esse labirinto
sem esperar encontrar no seu centro a verdade, mas unicamente sua Ariadne
33
. Ao observar a
foto de sua me no jardim de inverno, reconhece de imediato a nica foto que poderia dizer-lhe
de que era esse fio que o puxava para a Fotografia. Compreendeu que seria impossvel falar da
Fotografia (como uma grande categoria de imagens), mas apenas de uma fotografia especfica. A
partir desse encontro com sua Ariadne que, deveria interrogar essa evidncia (a fotografia) em
relao ao que chamaramos romanticamente de amor e morte.
34
Porque aquilo que ela representa no interessa, para Barthes, tanto quanto a relao que o
espectador guarda com seu referente: as fotografias so fisicamente formadas pela ao daquilo
que as demais imagens, at o seu advento, s puderam representar, a luz. Luz que incide no
referente e deixa sua sombra no negativo, no filme fotogrfico, uma sombra que nunca poder ser
repetida, apenas, reproduzida. O que a Fotografia reproduz ao infinito s ocorreu uma vez: ela
repete mecanicamente o que nunca mais poder repetir-se existencialmente.
35
Essa observao salienta que a fotografia reprodutvel como objeto, mas aquilo que esse
objeto carrega consigo a marca de uma experincia nica e irrepetvel: seja um retrato, uma
natureza morta, uma paisagem. A reproduo mecnica vista aqui como um melanclico
processo de repetio, de morte. Na imagem ampliada, o que vemos, o resduo de um instante, a
nfima e nostlgica frao de uma realidade formada pela ao da energia radiante de um instante
32
BARTHES, 1984, p.109
33
NIETZSCHE Apud BARTHES, 1984, p. 109 Et seq..
34
BARTHES, 1984, p.110
35
Ibidem, p.13
37
irrecupervel. A conscincia do irremediavelmente perdido agua nossa imaginao, nossos
desejos, nossos sentimentos: na fotografia, a imagem, tambm runa, resto, sobra.
IX - Fotografia, um objeto sem causa
Na fotografia o afastamento em relao origem aqui estritamente significando o
tempo e o espao especficos em que tal foto foi tomada parte intrnseca de sua esttica.
Esttica a que Philippe Dubois define como esttica da desapario.
Abord-la [a fotografia] atravs de seus objetos mortferos, os
efeitos de ausncia e de fico do meio passam a ser revelados com
insistncia, transformando, ao mesmo tempo o sujeito, o objeto e a
relao que os une (que se chama percepo, descrio, ou
interpretao) em instncias e processos imaginrios, regidos em
primeiro lugar por uma lgica fantasma (ou da crena) e instituindo
uma estrutura flutuante, sem termos determinados (...) a ponto de
no subsistir mais que um simples jogo de vaivm, um movimento
puro, (...) um trfego fants(ma)tico que gira infinitamente e
literalmente no vazio.
36
Para Barthes e, mesmo que de modo distinto, para Benjamin parece que esse
distanciamento irremedivel da origem no nos lanaria no simples jogo de vaivm no vazio,
mas rumo a uma reabilitao da historicidade, a constituio de uma outra temporalidade. Para o
primeiro, o fascnio infantil provocado por uma foto que mostrava a venda de escravos provinha
da certeza de que aquilo existira; no se tratava de exatido, mas de realidade: o historiador no
era mais o mediador, a escravido estava dada sem mediao, o fato estava estabelecido sem
mtodo
37
, diz Barthes. Sem generalizao a Histria da escravido aqui dada no particular
daquela foto, ela (a escravido) era (foi) real e possuiu um rosto, uma fisionomia distintiva, no
36
DUBOIS,1993, p.247
37
BARTHES, 1984, p.120
38
mais o fardo de uma raa, mas de algum que, individualmente, viveu e continuar a viver
naquela imagem, num estado de exceo.
Para Benjamim tal estado seria a regra geral, da a sua necessidade de construir um
conceito de histria que lhe correspondesse, que permitisse uma fuga daquela histria baseada na
noo de progresso, fundada sobre uma abordagem cronolgica
38
. Benjamin sempre insistiu
numa apreenso do tempo histrico em termos de intensidade
39
. Segundo J eanne Marie
Gagnebin:
Trata-se muito mais de designar, com a noo de Ursprung
[origem], saltos e recortes inovadores que estilhaam a cronologia
tranqila da histria oficial, interrupes que querem, tambm,
parar esse tempo infinito e indefinido, (...): parar o tempo para
permitir ao passado esquecido ou recalcado surgir de novo, e ser
assim retomado e resgatado no atual
40
.
A autora continua e comenta sobre o prefcio do Drama barroco alemo, obra em que
Benjamin nos remeteria noo clssica de Historia Naturalis. Dentro dessa concepo a histria
seria, para ele, uma atividade de explorao e descrio do real sem a pretenso de explic-lo,
assim, de forma anloga ao colecionador, ao historiador caberia a tarefa de coletar, de separar e
de expor os elementos, os fatos, os contecimentos, mas no de interpret-los
41
; pois que ao
historiador cumpriria devolver aos objetos de sua pesquisa sua singularidade, sua irredutibilidade.
Os objetos dessa coleta no so anteriormente submetidos aos imperativos de um encadeamento
lgico exterior, mas so apresentados na sua unicidade e na sua excentricidade como as peas de
um museu.
42
38
BENJAMIN, vol. I, 1985, p.226
39
GANGNEBIN, 2004, p.8
40
Ibidem, p.10
41
Ibidem, p.9 Et. Seq.
42
BENJAMIN Apud GAGNEBIN, 2004, p.10
39
X - Assim no Cu como na Terra
Nas sociedades antigas, do ponto de vista religioso, espiritualista, a morte era encarada
como passagem, vista como continuidade da vida terrena onde o morto deveria ser recompensado
ou castigado. Assim, o fim do corpo fsico no correspondia ao fim vida, ao contrrio, seria o
renascimento para uma outra vida. Como podemos ver, o que hoje soa como um clich dizer
que a morte vem de maneira indistinta para todos e que nisso, de alguma maneira, igualamo-nos
nem sempre foi assim considerado.
As pirmides, os mausolus esplendorosos, dentre outras formas memoriais, foram
erigidos com o intuito de guardar, homenagear, destacar e assim, garantir a distino, mesmo que
post mortem, das figuras notveis faras, reis, nobres, clrigos, famlias de prestgio entre
os demais. At o sculo dezoito, no ocidente, o cemitrio ficava junto igreja e havia uma
hierarquizao dos tmulos. Dentre eles, os mais importantes, restavam dentro do templo cristo,
possuam lpides com inscries relativas ao morto (nomes, datas, s vezes, um epitfio), em
casos muito especiais jaziam em mausolus ornados com estatuetas. Os demais corpos eram
enterrados na casa morturia e no eram diferenciados uns dos outros
43
.
XI Monumentos e monumentos
O Monumento, geralmente, dedicado perpetuao memorialstica de uma pessoa ou de
um acontecimento relevante (exemplar) na histria de um determinado grupo. Uma de suas
funes a configurao de uma memria coletiva. No difcil concluir que aos Monumentos
43
FOUCAULT, Michel. Lugares Otros in www.bazaramericano.com
40
so atribudas funes didticas e pblicas. Servem para advertir s geraes futuras de que no
devem se esquecer do que aconteceu
44
. Esto ligados histria oficial.
Os Monumentos so, como qualquer outra forma memorial, uma maneira de representar,
de compreender e inscrever a morte em algum lugar, mas, primordialmente, de criar narrativas
fundacionais. uma maneira de tornar perene, grandiosa, imponente uma lembrana seja esta
ligada a um acontecimento ditoso, a uma catstrofe, a um ato herico de um passado, cuja
morte impe-se peremptria e em praa pblica.
A oficialidade e o carter pblico do Monumento so as principais caractersticas que nos
permitiro fazer um contraponto entre ele e a Fotografia, bem como permitir estabelecermos
possveis aproximaes entre os dois. Sugiro aqui contraponto e no contraposio,
interpenetrao no lugar de anulao ou substituio, pois, como veremos adiante, nas artes
plsticas (sem mencionar os memoriais ou homenagens espontneas, os altares populares ou
outras manifestaes do gnero) so muitos os exemplos de obras que se debruam sobre a
contaminao recproca dessas duas categorias.
Artistas como Christian Boltanski, Flix Gonzlez-Torrez, Rosngela Renn, Susan
Hiller, J oseph Beuys podem ser citados como possveis exemplos. No discutem por meio de
dicotomias tais formas memoriais. Eles, muitas vezes, desviam o problema da memria para o da
rememorao. Explicando melhor, a questo que me coloco no contato com as obras desses
artistas a da maneira como tratamos o ato de lembrar, como dialogamos com lembranas, s
vezes pesadas e poeirentas, e quais subterfgios usamos para evit-las; esses artistas transferem
para cada um de ns a responsabilidade pela continuidade da memria, nos impelem a questionar
a confiana cega, ingnua, ou maliciosa, que depositamos, nos arquivos, museus, colees,
44
SILVESTRI, Graciela in PUNTO DE VISTA n 64, 1999, p.42
41
Monumentos, fotografias. Talvez, refletindo um pouco mais, nem chegue a haver uma
transferncia de responsabilidade, h antes, uma lembrana de que a memria transitria,
passvel de esquecimento; em suma, ela humana e social
45
.
XII - Eu, meu, me e uma foto
No -toa que Barthes escolhe o ponto de vista do espectador para escrever suas notas
sobre a fotografia
46
. Barthes vai buscar apenas aquelas fotos que, como diz, existem para mim
(para ele), ou seja, fotos especficas cuja apreciao tem o poder de afet-lo, pungi-lo, quando
contempladas.
No caso especfico da Fotografia, optar pelo olhar do espectador poderia ser encarado
como uma quase redundncia, caso no fosse to urgente marcar a transformao de valores
propiciada por esse deslocamento.
Ento o interesse em sublinhar a escolha da perspectiva barthesiana reside no fato de que
ela desvia a nossa ateno daquelas antigas preocupaes com questes relativas ao autor, ao
estilo segundo ele, categorias imprprias para se tratar de fotografias. Assim, o espectador da
foto teria papel anlogo quele atribudo por ele ao leitor no seu texto A morte do autor
47
.
Destarte, torna-se patente o papel de destaque que se d atualizao da obra (fotografia, texto)
que no , e no deve ser de modo algum, passiva. Por fim, dissuade-nos de uma busca em
direo objetividade, realidade, a uma verdade ltima (diga-se de passagem, questes caras
tcnica fotogrfica).
45
HUYSSEN, 2000, p. 37
46
Esse o subttulo de seu livro A Cmara Clara
47
BARTHES, 2004.
42
Quem olha uma fotografia v, antes de tudo, uma marca, um indcio daquilo que foi, e
essa sua especificidade. Ela coloca o objeto encontrado fora de qualquer analogia: nem imagem,
nem real, um ser novo, verdadeiramente: um real que no se pode mais tocar. O isso foi da
Fotografia faz com que ela seja a imagem viva de uma coisa morta. Por isso a confuso
perversa entre dois conceitos: o Real e o Vivo
48
. A fotografia, na sua qualidade de imagem
indicial, sempre carrega consigo a marca fsica de uma presena gravada num determinado
instante, uma prova existencial. Por isso Barthes comenta que as fotografias so signos que
no prosperam bem, pois, seja o que for que d a ver e qualquer que seja a maneira, uma foto
sempre invisvel: no ela que vemos
49
, mas antes, o seu referente ou, melhor seria dizer, o
vestgio dele.
Sentimos ruir o cho sob nossos ps. No estamos mais no campo da representao.
Nossa ateno drenada aqui para fora da fotografia, existe nela alguma coisa que funciona
como um portal mgico que, ao ser cruzar, faz-nos encontrar o que de mais vivo permanece do
referente em ns, mas que s vezes, no sabemos precisar o que seja. Talvez porque esteja
perdido no fundo do esquecimento de onde o punctum
50
poder um dia resgata-lo. Isso que
atravessa uma fotografia especfica e me afeta (e s a mim) me faz conferir um certo valor, uma
certa verdade, uma espcie de essncia determinadas fotos.
Pode-se dizer que, semelhante memria involuntria de Proust, o punctum em Barthes
esteja mais ligado ao olvido do que memria. Em ambos os casos, sou pega de surpresa por um
detalhe, um odor, um gesto insuspeito capaz de despertar em mim um sentimento de realidade
48
BARTHES, 1984, p.118
49
Ibidem, p.16.
50
O punctum para Barthes aquilo, um detalhe, na fotografia que me punge, me atinge, me fere e, em geral
definido de forma subjetiva provocando em mim algum efeito. um suplemento (nas suas palavras o que eu
acrescento foto e que todavia j est nela. Ele introduz, para falar de um aspecto da fotografia, o conceito de
studium que tudo o que pode ser nela codificvel, desde as marcas de poca, poses, etc, at as intenes do
fotgrafo, ou seja, tudo o que h nela de dizvel, de nomevel, de objetivo.
43
viva
51
. Malgrado, to logo experimentada, essa sensao dissipa-se, como uma miragem,
fazendo-nos constatar, to somente, o irremediavelmente perdido.
Como se trata de um recorte, de um quadro, de uma seleo de um timo do mundo em
pleno movimento, podemos dizer que as fotografias esto sempre, de certo modo,
descontextualizada. Entretanto, as fotografias oferecem parmetros com os quais o espectador
pode confrontar o seu aqui e agora, com os quais pode mensurar-se:
A data faz parte da foto: no porque ela denote um estilo (...) mas
porque ela faz erguer a cabea, oferece ao clculo a vida, a morte, a
inexorvel extino das geraes. (...) Sou o ponto de referncia de
qualquer fotografia, e nisso que ela me induz a me espantar,
dirigindo-me a pergunta fundamental: por que ser que vivo aqui e
agora?
52
Se sou o ponto de referncia de qualquer fotografia isso me faz encontrar, no obstante,
com a impossibilidade de constituir uma referncia estvel, me faz deparar com a minha
mortalidade: ajuda a contextualizar-me, situar-me, mas no a definir-me, a estabilizar-me, a
permanecer.
Situar marcar uma posio num local especfico. Presena , por definio, o fato de
algo ou algum estar em algum lugar determinado, situar-se. Mas que lugar especfico esse da
fotografia? Como situar-me diante de uma fotografia? H um princpio da fsica que diz ser
infactvel dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espao. Assim, entre dois corpos quaisquer
impretervel haver alguma distncia condio e, ao mesmo tempo, matria fundamental para a
realizao de uma fotografia. Seja a mnima distncia (espacial e psquica, mas nunca temporal)
que preciso estabelecer-se entre o fotgrafo e o fotografado ambos afastados entre si e
tambm, embora no eqidistantes, da mquina, da cmara fotogrfica postada entre eles , seja
51
PROUST, Apud BRASSA. Proust e a Fotografia, p.79. Rio de J aneiro: J orge Zhar Ed., 2005.
52
BARTHES, 1980, p.125.
44
por aquela experimentada pelo espectador em relao ao fotografado, do qual se v
irremediavelmente, e cada vez mais, temporalmente afastado.
Falar sobre distncia e presena indispensvel para o aprofundamento das discusses em
torno da fotografia. A coexistncia da distncia e da presena na imagem fotogrfica serve para
despertar ou embotar, para revelar ou para obliterar, para esclarecer ou para confundir, para tentar
modificar ou simplesmente para atestar, documentar, etc. Mas, antes, a imbricao da distncia e
da presena na fotografia o que faz dela um objeto e uma imagem singular, isso que a torna
inclassificvel.
XIII - Monumentos e destruio
Andreas Huyssen comenta que mesmo a permanncia prometida pela pedra do
monumento est sempre erguida sobre a areia movedia
53
. Para exemplificar, o autor menciona
como, em tempos de revoluo, monumentos so derrubados com alvoroo pela populao
oprimida. Lembra, ainda, que no essa a nica forma de tornar manifesta a destituio ou
diluio do significado de um monumento; uma outra possibilidade seria preservar a memria
em sua forma mais fossilizada, seja como mito, seja como clich
54
(a esttua da Liberdade em
Nova York e a do Cristo Redentor da cidade do Rio de J aneiro so paradigmticas nesse sentido);
ou ainda mantendo-o simplesmente como figura do esquecimento, com seu significado e
propsito originais erodidos pela passagem do tempo
55
.
Inferimos da que nenhuma forma de reificao do passado por si s, capaz de resistir,
material e simbolicamente, de modo a garantir um lugar na memria das futuras geraes. A
53
HUYSSEN, 2000, p. 68
54
HUYSSEN, 2000, p. 68
55
Ibidem
45
memria de uma sociedade negociada no corpo social de crenas e valores, rituais e
instituies
56
e no imposta. Uma sociedade, ao preterir uma forma memorial em funo de
outra, pode manifestar algum tipo de recusa.
Assim, o fato da fotografia ter sido eleita como a nossa predileta no apontaria, tambm,
para uma recusa quelas formas resistentes s mudanas, ao movimento, contestao, reviso?
A recusa ao monumento, por sua vez, no seria tambm uma recusa arbitrariedade das verses
contadas pela histria oficial? No seria, pois, uma forma de democratizao da memria, como
se a cada um fosse possvel, a partir de registros prprios, lembrar ou tornar notvel o que quer
que seja? No poderia ser vista como uma forma de redimensionar a prpria noo de durao,
trazendo-a para uma escala mais prxima ao tempo relativo existncia humana? Se nas
fotografias o que consta, em geral, so as memrias individuais, isso no significaria, ento, uma
perda ou debilitao de uma idia de pertena a uma sociedade maior, ptria, pas, etnia ou o que
seja? A Era da Fotografia no coincidiria, igualmente, comuma perda ou debilitao da
capacidade de projetarmo-nos para tempos muito aqum ou alm do nosso?
XIV- Fotografia, metfora do corpo
A luz, condio sine qua non na produo da marca, da inscrio que ir configurar a
imagem-runa que toda fotografia representa tambm um perigo iminente. Pode provocar o
apagamento, o desaparecimento. O excesso de luz no permite que a imagem se forme, como se
diz vulgarmente, ela estoura. O papel fotogrfico exposto continuamente luz esmaece, a
imagem nele impressa esvaece.
56
Ibidem
46
Portanto, seja a fim de fazer ver, seja para conservar as imagens, preciso haver regies
de sombra, regies das quais a arte depende. Na arte, analogamente, h sempre um jogo entre o
visvel e o no visvel, entre o dizvel e do no dizvel (sensvel?). Ao contrrio da cincia, a arte
nunca e, em geral, no tem a inteno de ser, inequvoca. Para a arte, assim como para a
fotografia, o excesso de clarificao pode ser danoso.
No ltimo captulo de A cmara clara, Barthes discorre sobre a tentativa da sociedade de
tornar a fotografia sensata. Para isso ela disporia de dois meios: um torn-la arte (pois
nenhuma arte louca) e o outro generaliz-la, banaliz-la esmagando as outras imagens em
relao s quais a fotografia poderia afirmar sua especialidade, seu escndalo, sua loucura
57
. Tal
loucura advm do que acontece temporalidade na fotografia. Nela o tempo opera num limiar.
Numa foto, como observa Barthes, h um esmagamento do tempo. Ele lembra que um dia,
diante da fotografia de sua me quando criana sentiu-se estremecer por uma catstrofe que j
ocorreu
58
. Embora sua me j estivesse morta, naquela foto ela ainda estava viva e viria a
morrer no futuro. O que Barthes confessa ser pungente o fato de aquela criana inocente da foto
(que viria a ser um dia sua me) no poder, naquele momento, prever o que foi dado ao autor
conhecer: o dia e a hora exatos de seu desaparecimento. A partir disso, Barthes passa a definir o
tempo tambm como punctum na(da) fotografia.
Barthes morreu no ano de 1980, poucos dias depois da publicao de suas notas sobre a
fotografia, La Chambre Claire
59
. Quase trinta anos se passaram desde ento. Hoje, na capa de um
outro livro, Roland Barthes por Roland Barthes, vejo um retrato seu: tem um olhar penetrante,
mas doce, talvez como o de sua me fantasio; o rosto um pouco de lado tem parte de seu
57
BARTHES, 1984, p.173 Et seq.
58
Ibidem, p.142
59
Em portugus A Cmara Clara.
47
contorno mergulhado em sombra; est usando um casaco (um sobretudo?) e uma echarpe (ou um
cachecol) elegantemente envolta ao pescoo. Devia ser inverno naquela ocasio... Detenho-me,
no posso mais descrever, alguma coisa me atingiu, me feriu. Abro uma pgina do livro em busca
de alguma coisa que me permita continuar. Encontro:
O ele mau: a palavra mais maldosa da lngua: pronome da
no-pessoa, ele anula e mortifica seu referente; no se pode aplic-
lo sem mal-estar, pessoa que se ama: chamando algum de ele,
visualizo sempre uma espcie de assassinato pela linguagem
60
.
Ento prefiro dizer: Barthes, na sua imagem encontro algo de sua voz que escuto sem
nunca ter ouvido e que me ajuda a construir voc em, e para, mim. Mesmo que no tenha se
posto de acordo com a marcha do Vivo (a espcie) sua particularidade universalizou-se, no s
utopicamente como voc disse, mas pela sua escritura, que inscreveu, em mim, coisas sobre o
amor e sobre a morte...
60
BARTHES, 2003, p.186
48
Belo Horizonte, 01 de junho de 2006 (com acrscimos em abril de 2007)
Aqui na terra to jogando futebol
Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll
Uns dias chove, noutros dias bate sol
Mas o que eu quero lhe dizer que a coisa aqui t preta
CHICO
Carta para Barthes
... voc no pde, no teve tempo de acompanhar os acontecimentos que se deram nos ltimos
26 anos do sculo XX: a emblemtica queda do muro de Berlim, o fim das ditaduras militares na
Amrica Latina e do apartheid se bem que tudo isso j prefigurava-se e, talvez, voc j at
o previsse. Felizmente, voc no teve tempo de ver seus amigos irremediavelmente sucumbirem,
da noite para o dia, ao vrus do HIV. Doena estranha disseminada pelo smen e pelo sangue
(fluidos simblicos) qual, rapidamente, foi incorporada uma srie de discursos moralizantes
que a tomava como uma espcie de praga bblica a assolar, a marcar os pecadores, os
desviados.
Em 1984 Foucault, por quem lamentei tardiamente, morreu em decorrncia desse mal.
Ocorreu um acidente nuclear em Chernobil, um outro em Goinia. Sucederam, ainda,
terremotos, Tsunamis, desastres naturais que soaram, e soam, cada vez com mais fora aos
ouvidos frgeis, como castigo, sinal apocalptico do fim dos tempos. Legies de fundamentalistas
religiosos de vrios credos disseminam-se pelo mundo e encontram espao para propagarem
seus dogmas. Provavelmente esses discursos fanticos tm ressonncia porque as pessoas
parecem acometidas pela incerteza, pela insegurana, pelo medo. Temem no somente pelo
futuro, mas pelo fato de sentirem que talvez no haja mais, em breve, futuro algum pelo qual
49
possam esperar: como aquele nunca mais sonhado pelas mes lastimosas que perderam, um dia,
seus filhos para o trfico de drogas, para a polcia, para balas perdidas (aqui no Brasil, e em
outros pases tambm, isso comum: dados estatsticos mostram que grande parte dos jovens
que vivem hoje em favelas ou determinadas periferias no ultrapassam 21 anos). Mas, no foi o
prprio capitalismo desenfreado e sua lgica que alavancaram a obsolescncia prematura das
coisas e porque no dizer, em casos extremos, dos seres? A permanncia prometida pela
pedra do monumento est sempre erguida sobre a areia movedia
61
. Como esquecer a sentena
de Huyssen depois do atentado que provocou a queda das torres gmeas? Vi o edifcio World
vivo). O grau zero no era mais o da escritura.
Esses so apenas alguns acontecimentos a que se pode atribuir a expanso global de uma
cultura e de uma poltica de memria a partir dos anos de 1980. Observado por Andreas
Huyssen, o que se deu foi um verdadeiro deslocamento na experincia e na sensibilidade do
tempo
62
. Ele explica que aquilo que mobilizou a cultura modernista uma inquietao, seja
esta de cunho progressista ou apocalptico, em relao ao futuro foi suplantado por uma
fixao em relao memria. Comemoraes que lembram o fim da Segunda Guerra, das
ditaduras etc; memoriais, monumentos so erguidos em lembrana s vtimas dos mais diversas
catstrofes; outros so destrudos (como aqueles do Iraque que glorificavam Sadam Hussein de
quem parte do povo no queria mais se lembrar e, ele mesmo acabou sacrificado num
cadafalso). A literatura testemunhal ganhou destaque. As artes plsticas/visuais, como era de se
esperar, compartilharam dessa fixao embora reconheamos, em muitos casos, constituindo
uma crtica a tal surto memorialstico.
61
HUYSSEN, 2000, p. 9
62
Ibidem
50
Trade Center desmoronar pela televiso em onze de setembro de 2001 (a transmisso foi ao
Por falar em arte, concordo com voc quando escreve que nenhuma delas louca (por
isso disse, que uma das formas da sociedade tentar tornar a fotografia sensata seria
transformando-a em arte). Imagino um encontro entre voc e Benjamin (talvez ele tenha
realmente acontecido, em algum momento, atravs da leitura). Como ser que voc lhe
responderia, caso lhe perguntasse, o que acharia de abandonar a fotografia como arte e passar
a concentrar-se na arte como fotografia
63
, mas num sentido diferente daquele que ele faz na
sua pequena histria da fotografia, no sentido em que o Phillipe Dubois deu a essa pergunta:
a arte , est se tornando fotogrfica?
Sei que no vai responder a esta pergunta e sei o porqu. Quisera fosse por esta carta ser
ridcula, como outras tantas que, ridiculamente, os apaixonados dedicam a escrever revelando
todo o seu amor, mas que, no entanto, esto fadadas a permanecerem no fundo de uma gaveta,
esquecida, at que alguma traa se lembrasse e comeasse a desenhar um mapa,
enlouquecidamente. At que no houvesse mais mapa, mais carta, at que desaparecesse
qualquer indcio da declarao de amor. Traas no comem costelas. Gosto de imaginar que foi
por isso que voc se desfez da sua. Um dia voc a lanou pela janela (adoro o som dessa palavra
em francs, fentre) e depois ficou a imaginar um co indo farej-la. Acho que voc se esqueceu:
os antropfagos tambm comem costelas.
Sei que no vai responder a esta carta, e sei o porqu. Talvez devesse retirar-lhe a data,
eliminar as pistas que me colocaram num contexto diferente do seu. Para qu? Para melhor
forjar um encontro entre nossas presenas desagregadas? Isso, o prprio tempo, ao acaso, pode
cuidar de fazer mas nunca poder fazer-me penetrar no cu da sua conscincia. Estamos
63
BENJAMIN, 1985, v. 1 p.104
51
deestinados a coexistirmos, alienados de ns mesmos, como imagens, como nomes, como
representaes, mortos.
Quando cito voc (ou Benjamin) no para conferir autoridade ao meu texto, para
traz-los para mais perto de mim, para urdir-nos numa mesma falvel trama, que muito poucos
lero. Agradeo por voc no ter escrito romances, pois assim, sempre posso voltar e dar incio
a uma nova ordem que nunca sei, ao certo, onde vai dar; posso combinar e recombinar os mais
dispersos fragmentos, numa sempre diversa proposio.
Volto quela pergunta de Benjamin, mas agora a dirigindo a mim mesma: E se eu
abandonasse a fotografia como arte e passasse a concentrar-me na arte como fotografia? Tenho
dvidas se lcito tomar essa inverso ao p da letra sem transform-la em sofisma, mera
retrica dicotmica, reduzi-la aplicao do mtodo indutivo usado pela lgica. Nenhuma arte
mesmo louca (concordo com voc), nem mesmo aquela impregnada por uma certa lgica
fotogrfica
64
. Parece fcil depreender da que a fotografia como forma artstica no nos
permitiria ver aquela loucura que toda imagem dessa natureza carrega consigo.
Ao invs de uma resposta, encontro a ampliao da pergunta: Se possvel pensar a
arte segundo uma lgica fotogrfica, como seria possvel a ativao dessa sensao de loucura
existente na fotografia pela arte? Se essa loucura tributria daquilo que voc chamou de
esmagamento do tempo, como um trabalho/obra de arte poderia provoc-la? possvel haver
arte, sem um mnimo toque que seja, daquela vertigem que sentimos ao sermos trasladados
(palavra e operao que voc tanto aprecia) pelo vasto e permissivo campo do imaginrio, a
lugares e tempos outros, que nos faam reconhecer o que h, inclusive em ns mesmos, de seres
imaginrios?
64
DUBOIS, 1993, p.253
52
FIG. 7 World Trade Center, Nova York, 11 de setembro de 2001
53
Do ouro de Gold(in) e outros tesouros
There is the other universe, of the heart of man
That we know nothing of, that we dare not explore.
A strange gray distance separates
Our pale mind stil from the pulsing continent
Of the heart of man.
D. H. LAWRENCE
No fundo de cavernas, enterrados no subterrneo, guardados por monstros ou drages,
escondem-se os tesouros. Tambm podemos encontr-los em potes enterrados no fim de todos os
arco-ris. Mas os arco-ris parecem estar submetidos a uma sina infeliz: sempre que decidimos
segui-los, suas luminosas e arqueadas faixas coloridas esvaecem-se no ar. Confesso saber disso
por puro empirismo: algum dia, empenhei-me em tal descaminho, e sei que no fui a nica.
Outros tambm tentaram.
Primeiramente, citarei Nan Goldin fotgrafa norte-americana de origem judaica
nascida em 1953, que viu, ainda bastante jovem, sua estrada de luz desmanchar-se para sempre
com as nuvens. Aos 18 anos comeou a fotografar sua extensa famlia em Nova York, Boston,
Princetown, Londres e Berlim com o intuito de preservar, ao mximo, os preciosos instantes
divididos com Suzanne, Cookie, Vittorio, Bruce, Kte, Rise, Monty, Sharon, David, Brian e
outros tantos. Lembro-me de ler que desejava, com isso, salvar, simbolicamente, as pessoas
queridas da morte, da desapario, fotografando-as tanto quanto possvel
65
. Frustrou-se.
65
GOLDIN, Nan. The Ballad of sexual dependency
54
To logo seu arco-ris desfez-se, passou arte. Selecionou, agrupou e legendou centos de
fotografias representativas do perodo no qual se relacionou com Brian (por quem revela ter sido
apaixonada, algum por quem foi capaz de suportar, inclusive, dores fsicas). Posteriormente
apresentou essas imagens como frames de um filme perdido, na forma de um slide show ao qual
intitulou The ballad of sexual dependency. Um trabalho de cunho autobiogrfico que opera
segundo critrios em boa parte, literrios.
explicito o desejo de Nan Goldin em conferir sua Balada o tom confessional prprio
escrita dos dirios. Para definir sua obra, utiliza, alm do dirio, dois outros gneros narrativos: o
lbum de famlia e a balada. Conta-nos, com seu lbum, a histria de uma famlia
recriada
66
, cujos membros no se definem, necessariamente, atravs das relaes de sangue, e que
no cessa de crescer. At os dias de hoje, o revisa e adiciona-lhe novas imagens
67
. Devemos
lembrar que a confeco desses lbuns de retratos foi uma prtica adotada, com freqncia, pelas
famlias burguesas ainda no sculo XIX, tendo, como uma de suas principais finalidades, a
construo e consolidao dos valores, da moral e dos costumes dessa classe. Moral e valores que
a fotgrafa vai, pouco a pouco, solapar ao contar-nos histrias que, geralmente, se vm excludas
desses compndios de imagens que ajudam a tecer o fio narrativo, no qual as famlias
representam-se a si mesmas como ntegras, felizes, saudveis, solenes e, antes de tudo, sem
conflito.
Por outro lado, a palavra Balada designa, segundo o dicionrio, um tipo de poema
narrativo de assunto lendrio ou fantstico, de carter simples e melanclico, tpico dos povos do
Norte da Europa na poca do pr-romantismo, e que tem sido livremente adotado em perodos
66
Goldin, Nan. The Ballad of Sexual Dependency
67
ARMSTRONG, 2000, p. 9
55
posteriores
68
Na msica pop, as baladas, so conhecidas como canes entoadas, em geral, num
ritmo lento e esta concepo que, provavelmente, interessa a Nan evidencia isso o fato de ter
nomeado uma de suas sries de fotografias com o ttulo de uma conhecida cano de Lou Read
chamada Ill be your mirror. Existe ainda uma outra definio para a palavra balada que, embora
tenha, possivelmente, escapado inteno da artista, como leitora/espectadora de sua obra, no
pude desprezar (visto que participa do meu repertrio): em algumas partes do Brasil usada
como gria, significando noitada, farra.
Ainda, tocando o campo literrio, devemos considerar as legendas. Textos pontuais que
oferecem informaes bastante especficas: nomes de pessoas, datas e lugares onde foram
tomadas as fotos. Em geral, essas informaes no esto evidentes nas imagens. Grande parte dos
registros fotogrficos mostra cenas transcorridas em ambientes internos: quartos, salas, bares,
hotis, restaurantes, museus. Mesmo quando feitas em espaos externos, no deixam claro que
lugar, exatamente, seu cenrio; no mximo indicam que se trata de um jardim, uma praia, uma
praa. Stricto sensu so mais aparentadas aos retratos que s paisagens. A indefinio desses
espaos, mais a impossibilidade de aderncia dos nomes prprios s imagens das pessoas s quais
se referem, somada a trivialidade das situaes fotografadas, permite-nos deslocar, mentalmente
(imaginariamente), essas histrias atravs de nossa autobiografia.
Assim, Nan produz uma narrativa onde inumeras histrias que se interceptam, se
justapem, se confrontam, se aproximam e, por fim, se afastam. De um ponto de vista formal, A
Balada assemelha-se mais ao fluxo da memria rememorao de fragmentos no seqenciais
de um passado recente que um relato sistemtico de ocorrncias dirias, as fotos que a
68
DICIONRIO Aurlio Buarque de Hollanda
56
compem no aparecem em ordem cronolgica. Uma narrativa fragmentada que parte da
experincia pessoal da artista, mas, que, no entanto, ultrapassa os limites do universo privado das
suas memrias pessoais, pois toca, de vis, a histria oficial, reunindo o particular e o social, o
individual e o coletivo.
FIG. 9 Monopoly game, New York city, 1980
FIG. 8 Max with Richard,New York city, 1983
Em vrias fotos, alm das pessoas queridas e das situaes vividas por elas, aparecem
cones representativos da cultura americana de massas. No de modo enaltecedor ou como
forma de apologia, mas, sobretudo, para apontar, criticamente, os problemas de uma sociedade
especfica. Mostra o outro lado do american way of life: Um grupo de amigos jogando Monopoly
jogo que, no Brasil, teve seu nome eufemicamente traduzido por Banco Imobilirio cujo
objetivo central o enriquecimento de um s custas da falncia dos demais; uma parede do
quarto de criana onde encontram-se imagens do Homem-Aranha e do Incrvel Hulck tipos de
heris muito distintos do Super man heris angustiados, frgeis, apocalpticos surgidos em
meio s tenses da guerra fria. Lembro-me da tristeza que sentia quando via David Benner,
identidade civil do Incrvel Hulk, caminhando solitariamente por uma estrada, abandonando,
57
inevitavelmente, ao fim de cada episdio do seriado televisivo, mais uma cidade como se
nenhuma pudesse comport-lo. De costas para ns, vamos sua imagem afastar-se, diminuir como
se estivssemos caminhado pelo corredor de Bruce Nauman, aquele onde vemos nossa imagem,
de costas, como que em fuga de ns mesmos.
Agora, voltemos novamente a procurar, entre as fotografias de Nan, alguma outra em que
vejamos mais um cone da cultura de massas, que possa-nos ser significativo em termos crticos.
Chego s ltimas pginas do livro da Balada e encontro uma foto chamada Nan and Brian in bed,
feita em Nova York em 1983. Nela vemos a artista deitada, mirando (no sei se com
desconfiana ou tristeza) Brian, que est sentado na beirada da cama fumando um cigarro. Mas, o
que mais me chama a ateno a foto dentro da foto que aparece sobre a cabeceira da cama. Ela
no aparece inteira, mas, pude reconhec-la. Ponho-me a procur-la, sei que est ali, algumas
pginas atrs. Encontro. Nela vemos novamente retratado seu companheiro que, agora, parece
nos fitar. Ao lado dele, uma TV. Nela, congelada, est a imagem de Fred Flinstone
personagem que encarna de modo emblemtico o comportamento de um homem da classe mdia
imerso numa rotina embrutecedora de trabalho, e cujo maior prazer jogar boliche; um macho
FIG. 11 Nan and Brian in bed. New York city,1983 FIG. 10 Brian with the Flingstones. NewYork , 1981
58
atrapalhado, um wise cracker. Ao associ-lo Brian, por quem confessou ter sido espancada, fez
com que Fred trapalho e inocente personagem da minha infncia assim como todos
aqueles valores que, comicamente, representa, fossem postos em dvida, em descrdito e
perdessem um pouco de sua graa. Numa primeira visada podemos ser levados a crer que
a apario desses e de outros signos so, em boa parte, casuais. Impresso que rapidamente se
desfaz na medida em que vamos acompanhando a seqncia das fotografias da Balada de Nan.
Em suas fotos vemos refletido o clima de desesperana que, nos anos oitenta do sculo passado,
se instalou a partir da epidemia da AIDS, frustrando os ideais defendidos pelos movimentos de
liberao sexual.
Deve-se acrescentar que estas imagens contemplam o universo underground nova-
iorquino durante o perodo em que surgem os primeiros casos de AIDS; na medida em que essa
sndrome comea a atingir a sociedade americana de forma indiscriminada j no mais possvel
acreditar nos sonhos. A artista deixa claro, que grande parte dos membros de sua famlia,
inclusive ela mesma, eram usurios sistemticos de herona, e esses, juntamente com gays (em
favor da quais a artista lutou como ativista), foram os grupos que, a princpio, mais sofreram com
a doena que vitimou, entre tantos, um grande nmero de amigos e amores de Nan.
Poderia, a partir dessas consideraes, enveredar por uma anlise crtica acerca do
realismo, adotar uma abordagem sociolgica, poltica, antropolgica ou at mesmo psicanaltica,
mas optei por tomar uma via distinta, um caminho conjetural. Prefiro tomar essa obra por aquilo
que o gesto de transportar memrias pessoais para o campo das artes (visuais ou literrias)
implica: uma agonia que reside na tentativa de garantir a essas lembranas algum tipo de valor,
no intento de mant-las como tesouros, mesmo que com isso transformem-se num outro tipo de
tesouro (ou fetiche); mesmo que passem, assim, a valer por outros motivos que no pelo amor,
59
por aquele tipo de amor teimoso que resiste at esvair-se, definitivamente, com a morte do
amante. A insistncia em dar continuidade existncia dessas memrias, em no permitir que
fiquem confinadas uma gaveta, ba ou escrivaninha como aquela na qual Barthes guardou
sua costela misturada a tantos outros objetos, os quais classificou como preciosos. Imagino
que, como ele, Nan deve ter compreendido, de algum modo, a funo desses containers de caras
quinquilharias:
(...) a funo de toda gaveta de suavizar, de aclimatar a morte dos
objetos, fazendo-os passar por uma espcie de lugar piedoso, de
capela poeirenta onde, sob pretexto de os manter vivos, arranjamo-
lhes um tempo decente de triste agonia (...).
69
Agonia a que ambos tentaram, cada um a seu modo pr fim. Barthes o faz ao decidir por
lanar, num gesto romntico, aquele seu fragmento de costela (que h muito fora alijado de seu
corpo) do alto de um balco na Rua Sarvodini
70
. Reconheceu, entretanto, t-lo feito por ter sido
incapaz de jogar um pedao de si no lixo comum. Arremessar uma parte, por menor que fosse,
desse que talvez seja o mais mtico dos ossos de um homem, o osso que originou, segundo a
crena crist, Eva, deve ser mesmo uma tarefa difcil, tarefa que exige cuidado para no
despertar alguma maldio. Mesmo tendo arranjado um pequeno ritual para se livrar, com todo
zelo e respeito, de sua costela um ritual sem testemunhas no qual sentiu como se dispersasse
suas prprias cinzas ao vento no pde deixar de prever, para esta relquia, um destino menos
reles. Menos do que aquele que teria, caso a tivesse metido na lata de lixo do prdio: certamente,
escreve Barthes, ao atingir a calada, um co deve ter ido farej-la
71
.
69
BARTHES, 2003, p. 75
70
Ibidem
71
Ibidem
60
E se ele no tivesse dispensado sua costela? Onde ela estaria agora? Enterr-la-iam com
ele? Coloc-la-iam num museu destinado os homens de letras, ou ser que teria parado num outro
museu ou coleo qualquer, depois de ter sido arrematada num leilo? Teria sido, quem sabe,
secretamente usurpada por um amigo ou amante? Ou ainda: no sabendo do que se tratava aquele
fossilzinho, julgando-o por um badulaque qualquer, ser que alguma arrumadeira poderia, sem
cerimnia, deposit-lo junto a outros restos ignbeis numa cesta de lixo tal como Barthes relutou
em fazer?
Por sua vez, Nan Goldin tenta dar cabo do tempo de triste agonia ao qual esto
submetidos aqueles objetos que foram destinados s gavetas, inserindo-os no circuito da arte. Ao
fazer pblicas as fotos de seu lbum de famlia, permite a incorporao desse repertrio por um
nmero crescente de pessoas, seus entes queridos instalam-se na nossa memria sentando-se ao
lado dos nossos. Num certo sentido, ela conseguiu salvar os seus do esquecimento, da morte
assimblica de que nos fala Barthes no seu livro La Chambre Claire, mas, para isso, durante os
perodos em que os fotografava, precisou recuar um pouco, privar-se da proximidade mxima e
literal, aquela que se estabelece entre os corpos.
como se a minha mo fosse uma cmara, as pessoas fotografadas
olham minha mquina fotogrfica como uma forma de estarem
comigo. (...) O instante fotogrfico, apesar da distncia, um
momento de conexo emocional para mim
72
.
Um pouco como o rei Midas que tinha o poder de transformar em ouro tudo o que tocava,
Nan, de posse de sua cmara, transforma, metaforicamente, todas as situaes e pessoas que
registra em prata, prata que permite a apario da imagem fotogrfica, que metal precioso e em
72
GOLDIN, The ballad of sexual dependency.
61
nome do qual foram dizimadas vrias civilizaes. Midas implorou Dionsio que o libertasse
da fatdica sina que o aguardava, morrer de fome e de sede pois tudo o que tocava seu corpo
transformava-se em ouro, inclusive a gua e os alimentos. Nan, segundo minhas fantasias, devia
acreditar que tudo o que no fotografasse acabaria por perder-se, ou pior, seria como se nunca
tivesse existido. Embora diga que, apesar da distncia, o instante fotogrfico seja um momento
de conexo emocional para si, ela deve ter, um dia, lamentado involuntariamente, no ter estado
realmente ao lado da pessoa fotografada. Um tipo de arrependimento desarrazoado que
aparece como um lampejo nos momentos de dor e saudade por cada afago que deixamos de
trocar, pela excessiva concentrao devotada quele visor, onde as pessoas que amamos
aparecem pequeninas.
No consigo parar de pensar no conto A aventura de um fotgrafo de Calvino, cujo
personagem central, Antonino Paraggi, sente-se isolado, primeiramente por ser um no-fotgrafo
e, depois, por ser um fotgrafo compulsivo. Ele, que tece inmeras conjecturas, algumas quase
filosficas, em torno da fotografia, nota:
(...) no terreno de quem pensa que tudo o que no fotografado
perdido, que como se nunca tivesse existido, e que ento para
viver de verdade preciso fotografar o mais que se possa, e para
fotografar o mais que se possa preciso: ou viver de um modo o
mais fotografvel possvel, ou ento considerar fotografveis todos
os momentos da prpria vida.
73
Por isso Antonino critica o fato de algumas pessoas considerarem o instantneo mais
verdadeiro do que um retrato posado. Uma vida vivida para ser fotografada to calculada, to
postia como as poses que as pessoas assumem para configurarem o personagem que desejam
representar diante da cmara fotogrfica, numa demorada sesso de retratos. Infere-se da que era
73
CALVINO, 1992, p.54
62
preciso voltar maneira dos fotgrafos do sculo XIX em que a imagem revelava as atitudes
representativas da classe social e do carter de seu modelo. o que transparece nas fotos de Nan.
FIG. 12 The Parents at a French restorant, Cambrige,
Mass. 1985.
FIG. 13 Nan Goldin. The Duke and Duchess of
Windsor, Coney Island Wax Museum, 1981.
A foto de seus pais num restaurante francs revela distino, a dos bonecos de cera do duque e da
duquesa de Windsor, altivez como aquela conferida aos polticos ao serem fotografados,
levemente, de baixo para cima. H outras menos pomposas, mais duras, como aquela em que Nan
nos fita com o rosto machucado e que bem poderia ser uma foto do instituto mdico legal.
FIG. 14 Nan one month after being battered, 1984
63
Segundo a artista, as imagens contidas na Balada foram obtidas a partir de experincias
reais da sua vida, mas nunca disse que no foram posadas. O comprometimento afetivo assumido
pela fotgrafa, anlogo postura adotada por aqueles guardies dos lbuns de famlia, que
tentam manter vivas e atualizadas as lembranas das pessoas queridas, conservando o elo
imaginrio que liga o nome e a imagem. Ao utilizar uma prtica comum, acaba por envolver-nos
nesse processo que a confeco e a apreciao dos lbuns de famlia, tipo de ritual ao qual
tambm Marcel Proust fora, em seu tempo, afeito.
Foi num livro escrito pelo fotgrafo hngaro Brassa que descobri o amor de Proust por
fotografias objetos que perseguiu e colecionou durante todo curso de sua vida formando um
verdadeiro tesouro fotogrfico
74
. Mais uma vez vejo-me compelida a recorrer quele lugar
piedoso (ou capela poeirenta) onde Barthes dizia guardar, alm do seu pedao de costela,
velhas chaves, um boletim escolar, o carn de baile nacarado e o porta-cartes de tafet rosa de
sua av B.
75
. Sim, volto a remexer mais algumas gavetas, mas agora em busca de outras
preciosidades, as de Proust.
Atravs de um depoimento, citado por Brassa, de Cleste Albaret (que cuidou de Marcel
nos ltimos anos de sua vida), deparei-me com o rol dos objetos que constituam as gavetas da
cmoda na qual Proust guardava, em seu quarto, sem fazer distino, a fotografia de sua me e
de outros, retratos de mulheres que ele conheceu, e s vezes admirou, e algumas jias. Ela
lembra ainda, que nem toda sua coleo de fotografias ficava confinada, algumas fotos eram
colocadas mais vista, sobre um mvel chins, onde ele guardava seu dinheiro e sua papelada
bancria
76
. Ao agrupar, sem estabelecer nenhum tipo de hierarquia, num mesmo lugar, suas
74
BRASSA, 2005, p.44
75
BARTHES, 2003, p. 75
76
BRASSA, 2005, p. 30 Et seq.
64
jias, seu dinheiro e suas fotografias, fica claro que atribua a esses objetos o mesmo peso, o
mesmo valor: o de tesouros. Tesouros que gostava de ter sempre ao alcance das mos para que
mais facilmente pudesse toc-los, revisit-los procedendo ao eterno desempacotamento de
fotografias no qual, com freqncia, se empenhava a cada vez em que recebia a visita de uma
pessoa amiga
77
.
De sbito, me vm lembrana um cmodo mal iluminado onde, sobre o cho coberto de
papis rasgados, encontravam-se caixas abertas fora e algumas pilhas de livros ainda em
desordem; o ar, espesso de tanta poeira, recendia um odor de madeira. Tento visualizar, todas
as vezes em que tive que empacotar e desempacotar meus livros (ou minhas fotografias) essa
imagem. Sem sucesso, acabo por reencontr-la na voz de Benjamin. A biblioteca desmontada a
dele, no a minha embora a lembre com tanto vigor.
Nas pginas que renem alguns textos do autor, encontro aquele no qual o ambiente,
momentaneamente tomado por meu, descrito. Seu ttulo, Desempacotando minha Biblioteca,
poderia, por si s, indicar a causa para o desencadeamento dessa rememorao involuntria, mas
no seria tudo. Ao correr os olhos mais uma vez sobre o texto vejo que o principal motivo est
anunciado no seu subttulo: um discurso sobre o colecionador. Especificamente, trata-se de
uma relao desse tipo a que tem com seus pertences: segundo Benjamin uma idia sobre a
arte de colecionar mais do que sobre a coleo em si
78
. justamente nesse aspecto que encontro
um ponto comum com o texto de Brassa, o ponto a partir do qual me foi dado ver estender-se a
ponte que me trouxe o ambiente desenhado por Benjamin memria.
77
Ibidem, p.30
78
BENJAMIN, 1995, v.2 p.227
65
Brassa fala sobre um colecionador: Poust. Elenca, assim, uma srie de depoimentos,
trechos de correspondncias, passagens de La Recherche e de outros textos do autor, para
demonstrar o extremo interesse deste por fotografias. Revela-nos, ainda, as estratgias que ele
empregava para conseguir aquelas que ardorosamente desejava. Em geral, as conquistas
fotogrficas de Proust comeavam com um apelo sutil, com a oferta do prprio retrato sugerindo
uma troca de fotografias. Quando no era prontamente retribudo, passava a uma abordagem mais
direta solicitando, claramente, o objeto desejado no hesitava, caso fosse preciso, em
insistir no pedido. Assim, o encontro com cada pessoa era para Proust algo alm do prazer
de uma determinada companhia, da possibilidade de um flerte, de uma boa conversa ou at de
uma discrdia. Cada encontro para ele convertia-se, no raramente, numa oportunidade para a
aquisio de mais um item para a sua coleo.
As histrias relatadas por Brassa acabam por deflagrar o duplo sentido da paixo que
Proust nutria por esses objetos de papel. Para ele uma foto no era s objeto de culto e de afeto,
mas um objeto terico, ao qual recorria tanto para (re)compor seus personagens
79
, como para
tomar-lhe emprestado termos e conceitos que pudessem ajud-lo a designar e configurar sua
escrita
80
. No toa que na introduo do livro, Brassa refere-se La Recherche como sendo
uma gigantesca fotografia e, ao corpo de seu autor como uma placa ultra-sensvel.
Benjamin, por outro lado, vale-se em sua experincia particular, de um momento
exemplar de sua aventura como colecionador: quando, aps dois anos apartado de sua biblioteca,
comea a desencaixot-la com o intuito de devolver-lhe, no apenas a ordem, mas, sobretudo, a
visibilidade. Em Desempacotando minha Biblioteca conta algumas de suas empreitadas, nem
79
BRASSA, 2005, p.44
80
Cf. BRASSA.
66
sempre bem sucedidas, cata de novos exemplares para sua coleo. Apresenta-nos assim
diversos modos pelos quais podemos adquirir livros e tudo o que deve ser considerado nessas
ocasies. Mostra-nos que sentia, por seus livros, aquele mesmo tipo de paixo, a um s tempo,
afetiva e terica, que Proust nutria por suas fotografias. Nota que esse sentimento no deve ser
contingente, mas uma condio indispensvel a todo colecionador, pelo menos quele que
designa como autntico:
Naturalmente, sua existncia [a do colecionador] est sujeita as
muitas outras coisas: (...) a uma relao com as coisas que no pe
em destaque o seu valor funcional ou utilitrio, a sua serventia, mas
que as estuda e as ama como o palco, como o cenrio do seu
destino
81
.
Completa dizendo que tudo o que lembrado, pensado, conscientizado torna-se alicerce,
pedestal, desfecho de seus pertences: a partir de cada minucioso detalhe referente aos objetos, o
colecionador, entrev a configurao de uma espcie de enciclopdia mgica. Assim, Benjamin
diz que cada livro de sua biblioteca, traz consigo informaes no apenas sobre sua poca, seus
donos anteriores, sua forma, sua regio, etc, mas indica, no obstante, detalhes sobre todo o
contexto que envolveu sua aquisio. Cada objeto deve valer, a partir da, no mais
exclusivamente por seus atributos originais, pela sua capacidade de representar o passado no
qual surgiu, mas, tambm, conforme os contextos de suas diversas atualizaes; os objetos
passam a ter valor pelo caminho percorrido por eles at encontrarem seu verdadeiro dono
82
,
at alojarem-se, livremente, por fim, numa das estantes daquele a quem se destinavam, ao
autntico colecionador
83
.
81
BENJAMIN, 1995, v. 2 p.228
82
Ibidem, p.228 Et seq.
83
Ibidem, p.232
67
Na medida em que escrevo sobre a importncia que o colecionador confere trajetria de
um objeto at que este ingresse na sua coleo e de como cada um deles suscita-lhe histrias, que
vo cruzando-se a outras histrias que evocam desejo por outros objetos, que podem estar ou no
entre os seus pertences; vejo como os dois caminhos, o da escrita e o do colecionar so
formados por saltos, falhas, abismos, desvios, interrupes, retornos, buscas sem fim.
Num desses saltos, sou remetida um cenrio cheio de caixas espalhadas no cho de
madeira e de um cheiro de poeira no ar. No estou mais naquele cmodo fechado. Agora, vejo-
me num ambiente bem mais amplo cujas paredes so feitas de vidros e espelhos. Pelas divisrias
translcidas vejo entrar a noite e sair o dia, pelo espelho, vejo a lagoa transformar-se num
precipcio negro. Assim como Benjamin, atravessei do meio-dia at meia-noite acordada,
depois, vi, novamente, voltar a ser dia no Museu da Pampulha e a lagoa transformou-se num
espelho turvo.
L, depois de desempacotarmos os exemplares que participariam da Bibliotheca de
Rosngela Renn, constatei, para meu espanto, que nela abrigavam-se, no como exceo, mas
como regra, exclusivamente, aquelas criaturas das regies fronteirias que, de que acordo com
Benjamin, participam de toda biblioteca viva. Esses seres correspondem, para ele, a tudo aquilo
que, embora contenha interesse e representatividade nas colees de livros, pertence a uma
espcie de limbo como o caso dos lbuns de figurinhas e de famlia, cadernos de autgrafos,
textos religiosos, folhetos, prospectos, fac-smiles de manuscritos, cpias datilografadas de livros
impossveis de achar
84
. Renn acrescenta a essa lista, outras tantas criaturas: fotografias
avulsas enroladas por fitas, carrossis e caixas de slides, lbuns fotogrficos de viagens,
casamentos e, at mesmo, alguns outros que permaneceram vazios, no sei bem se por puro
84
BENJAMIN, 1995, v.2 p.234
68
esquecimento ou por falta da ocasio que lhes desse propsito. Comprados em sebos, brechs,
feiras esses seres limtrofes multiplicaram-se e apinharam, durante dez anos, o atelier da artista-
colecionadora, que tambm passou a receber doaes (no sei se espontneas ou induzidas pela
artista atravs de alguma estratgia proustiana) de amigos e conhecidos.
Dentre suas conquistas selecionou quatrocentas imagens que considerou como a
enumerao razovel das imagens que se perderam ao longo do sculo passado
85
e com elas
confeccionou um livro chamado, tambm, Bibliotheca.
FIG. 15 Rosngela Renn. Bibliotheca, 2003 (vista da instalo no CCBB do Rio de J aneiro).
As demais foram colocadas em vitrines, que foram montadas de modo a impedir-nos o
contato, como aquelas que, em alguns museus vemos guardados, postumamente, objetos
85
MELENDI, 2003
69
pessoais de um artista, um escritor, um clrigo, um baro ou ainda os pertences de algum que,
mesmo sem ostentar ttulo algum, represente uma parcela, ainda que nfima, dos costumes e dos
utenslios de uma determinada poca. importante ressaltar que cada vitrine cuja superfcie
86
exibe, to somente, imagens dos lbuns e dos carrossis de slides que contm foi
hermeticamente fechada. Os lbuns e carrossis tiveram suas pginas e slides colados e, com eles,
suas imagens foram para sempre vedadas ao nosso olhar.
F
IG. 16 Bibliotheca, 2002 (detalhe vitrine)
FIG. 17 Bibliotheca, 2002 (detalhe vitrine)
Talvez, se no tivesse sido, pessoalmente, cmplice de tal interdio, ainda cultivasse a
esperana secreta de, nas vitrines, os lbuns estarem apenas fechados, prontos para serem abertos
a qualquer momento. Ainda recordo a montagem das vitrines... Uma a uma amos
87
colando as
pginas dos lbuns de famlia, viagem, casamento. O cheiro plstico do silicone misturado quele
odor que somente os papis velhos possuem criava uma atmosfera estranha; um tempo
indefinido. Fomos as ltimas pessoas a verem aquelas imagens. Confesso que por vezes sentia
86
Ver FIG. 15, 16 e 17
87
Fabrcio Cavalcanti, J uliana Mafra, Maril Dardot e eu.
70
uma vontade enorme de roubar algumas das fotografias que nunca consegui descobrir se eram
realmente belas, ou se foi o desgaste do tempo que as tornaram mgicas, quase mticas.
No cometi o delito e no foi por deciso moral. Foi, simplesmente, porque na Bibliotheca
de Renn aquelas imagens j estavam salvas. No quis ser redundante. Contentei-me em v-las
numa coleo que no era minha, apresentadas atravs das fichas nas quais cada grupo de
imagens foi detalhadamente descrito por outra pessoa (Renn); para integrar um arquivo
ordenado segundo critrios que eu no definira. Embora nada disso me pertencesse ou
dependesse de determinaes pessoais minhas, podia enxergar algo de meu ali, no -toa
Rosngela observa:
Quando exponho o texto, obrigo o espectador a ler. Ele compreende
o contedo e constri sua prpria imagem. De certa maneira ele
destri o texto que acabou de ler no momento em que constri uma
imagem mental.
88
O ocultamento das imagens pago com o surgimento do texto. da dialtica entre esses
dois plos que podemos ver emergir, com mais clareza, a participao do espectador. As
experincias e situaes que vemos nas fotografias, em geral, so mais ou menos similares
(mesmo pertencendo originalmente a um passado distante) e justamente por isso que o
espectador capaz de, ao adentrar o universo da Bibliotheca de Renn, reconstitu-las
mentalmente. No s as imagens, mas trechos do filme de sua existncia tambm so, por um
instante, recuperados por pequenas irrupes de memria involuntria.
At aqui vemos muitas similitudes da coleo de Renn com as de Benjamin e Proust.
Entretanto h um aspecto que considero crucialmente distinto: a Bibliotheca de Rosngela uma
coleo que se completou, no porque perdeu seu agente, mas porque a artista determinou-lhe,
88
RENN, 2003, p.11
71
previamente, um limite: cem conjuntos de fotografias, entre lbuns e caixas de slide. Cem
realmente parece um nmero pleno como, se a partir dele, tudo o que possa se dar no fosse mais
do que repeties, analogias, redundncias.
Ao confrontarmos a atitude da artista com a do autntico colecionador, preconizado por
Walter Benjamin, poderamos, facilmente, incorrer num equivoco: Se considerarmos que esse ser
definido, entre outras coisas, como aquele que busca, constantemente, mais uma pea para seu
sempre incompleto conjunto de objetos (que so, para ele, sempre irredutveis, indispensveis e
plenos) e sem o qual o fenmeno de colecionar perde o sentido, seria possvel pensarmos em
Rosngela Renn como uma autntica colecionadora? A resposta a essa pergunta pode ser sim,
talvez, ou, s vezes, mas, de modo algum, uma negativa.
Sugiro que no nos precipitemos e deixemos o desenvolvimento e a concluso desse
assunto para outro momento. Por ora, basta-nos prosseguir pensando sobre a busca constante de
um colecionador por tesouros com os quais possa animar sua coleo e sobre o fato de que esta
s se completa, ou melhor, torna-se, como o grande vidro de Duchamp, definitivamente
inacabada, com a morte ou debilitao de seu agente (o colecionador).
Assim, ao mostrar sua biblitotheca como uma coleo de tamanho definido, ser que
Rosngela, mesmo sem inteno, no estaria ficcionalizando sua prpria morte (pelo menos
como colecionadora)? Ou ser que estaria, nesse caso, apenas a se comportar como uma
bibliotecria ou uma museloga que tem por objetivo classificar e relocar imagens segundo
critrios especficos ou arbitrrios que perderam seu lugar (e seu sentido) no contexto da vida
privada? Ser que antes de ser fruto do colecionismo, a Bibliotheca, no seria uma encenao?
Mais especificamente, no seria uma forma de Renn apresentar-nos uma fico ou um estudo
72
sobre o colecionador, a coleo, os modos e as implicaes contidas no ato de colecionar,
podendo ser, inclusive, uma espcie de representao da sua prpria prtica como colecionadora?
Seja como for, vejo Rosngela, como uma daquelas figuras inquietas e desconfiadas,
sempre a perscrutar sobre o valor das coisas e das imagens, testando-lhes os limites e as
possibilidades de sua existncia e sua durao como preciosidades. Ela anda como quem
descobriu um segredo, ser que contado por Benjamin e por Proust? segredo, imagino eu,
que Nan Goldin no desvendou ainda: para se tratar de memria h que se considerar o
esquecimento. Renn j no fotografa mais. No s porque considera que j existem no mundo
imagens demais, mas, talvez, porque aprendeu a percorrer os arco-ris ao contrrio: cada
fotografia, slide, negativo perdido que acha pelo caminho, converte-se num encontro com um
tesouro a partir do qual v, com olhos maravilhados, prolongar-se, at o horizonte, um
interminvel arco-ris.
73
Na foto, o outro
A Fotografia o advento de mim mesmo como outro:
uma dissociao astuciosa da conscincia de identidade.
89
BARTHES
Ou somos, todos os
Eu que estive aqui ou estiveram,
Uma srie de contas-entes ligadas por um fio memria,
Uma srie de sonhos de mim de algum de fora de mim?
LVARO DE CAMPOS
As freiras no: posavam diante da objetiva como se o
rosto j no lhes pertencesse, e daquele modo saam
perfeitas.
CALVINO
I
Certo dia, no balco de atendimento de uma grfica, vi uma pilha de convites decorados
com ornamentos estilo Art Nouveau cuja parte externa exibia uma fotografia preto-branco de uma
mulher jovem e muito bonita embora sua beleza no remetesse aos padres contemporneos.
Fiquei olhando aqueles convites enquanto aguardava ser atendida. Imaginei que poderiam ter sido
confeccionados para uma festa temtica dos anos vinte; segundo essa hiptese a imagem poderia
ser de uma atriz do cinema mudo que eu no conhecia, ou ento, de uma antepassada de quem
estava realizando a festa, por fim, cheguei a pensar que poderia ser, simplesmente, uma imagem,
colhida ao acaso, na internet.
Ao perceber que eu olhava atentamente os convites, uma funcionria a quem eu j
conhecia me disse: Se est curiosa, pegue um e veja! Para a minha surpresa, a foto era de uma
89
BARTHES, 1984, p.25.
74
mulher que estava comemorando seu aniversrio. Dona Lilita convida os amigos e familiares
para um ch em comemorao pelas suas cem primaveras. Pedimos o favor de no comentarem a
idade com a aniversariante. Depois disso seguiam as indicaes de data, hora e endereo onde
seria realizado o ch. Fiquei ainda, por alguns segundos, com aquele carto nas mos, antes de
fech-lo; foi quando ouvi novamente a voz funcionria anunciar que a centenria mulher usava
essa mesma fotografia para toda e qualquer ocasio, inclusive para documentos e que, alm disso,
h muitos anos no se olhava, em hiptese alguma, ao espelho.
A imagem que essa senhora deliberadamente escolheu para lembrar-se de si mesma a
daquela foto em que aparece bela e jovem e, portanto, a imagem de seu rosto envelhecido e de
seus cabelos brancos , para ela, alheia e assim pretende que permanea: favor no comentar a
idade com a aniversariante. Mas, como disfarar a fraqueza dos ossos, a flacidez da carne, as
marcas do tempo estampadas nos ps e nas mos? Como ignorar os fios de cabelos brancos que
sobram agarrados na escova depois de pentear-se? Talvez j no enxergue muito bem.
Dona Lilita morrer (se que ainda vive) e, provavelmente, seus familiares usaro, por
respeito, esse mesmo retrato para confeccionarem aqueles impressos que em geral so
distribudos nas missas de stimo-dia. Pode ser que alguns amigos e familiares guardem essa
lembraninha fnebre, nem que seja pelo simples fato de, no futuro, exibi-la como curiosidade
(mesmo com os atuais avanos da medicina, ainda muito raro algum chegar a idade to
avanada). Imagino que passados alguns anos aps o seu falecimento, D. Lilita ter finalmente
sua imagem redimida na, e pela, memria daqueles que no a conheceram em vida e que por isso
no podero, assim como eu no posso, lembrar-se do seu corpo com as rugas que o tempo
impingiu-lhe, mas apenas como a eterna jovem de um tempo remoto.
75
II
Esse tipo de preocupao com as imagens fotogrficas em que aparecemos no rara. Eu
mesma no gosto da maior parte dos retratos que fazem de mim confesso que tal
insatisfao leva-me at mesmo a esconder alguns deles e, em casos de repdio extremo, a
destruir outros tantos. Sei que no sou a nica pessoa a atentar contra as prprias fotos e que
exemplificar isso intil, o melhor tentar procurar uma explicao plausvel para isso. Encontro
em Barthes. Em A cmara clara ele diz da sua relao com a prpria imagem e do desconforto
que sente desde o momento em que posa diante de uma objetiva, instante em que ele comea a
se sentir despossudo de si at o momento em que, finalmente, ao mirar sua imagem se v (se
sente) transformado em objeto de museu. Assim, o autor observa que o retrato uma foto que
se encontra num campo cerrado de foras (da o seu incomodo), onde quatro imaginrios se
cruzam, a se afrontam, a se deformam, segundo ele:
Diante da objetiva, sou ao mesmo tempo: aquele que eu me julgo,
aquele que eu gostaria que me julgassem, aquele que o fotgrafo
me julga e aquele de que ele se serve para exibir sua arte.
90
Por isso, Barthes diz que, todas as vezes em que se faz fotografar, acaba por ser tocado
por uma sensao de inautenticidade
91
. Isso acontece porque, ao ser fotografado, ele no se
sente nem sujeito nem objeto, mas um sujeito que se sente tornar-se objeto, algum que vive
uma microexperincia de morte, um espectro
92
. que o conhecimento de estar sendo
fotografado provoca uma espcie de conscincia do tempo, a noo de que um dado instante est
90
BARTHES, 1984, p. 27
91
Ibidem, p.26
92
Ibidem, p.27
76
sendo deixado para trs e que no h nada o que se possa fazer. Barthes lembra que os gregos
entravam na Morte andando para trs e, assim, o que tinham diante de si era o passado
93
justamente o que acontece quando vejo uma fotografia em que apareo: olho para a marca de
uma existncia passada onde me vejo, fora de mim, afastando-me de mim.
Mesmo que a fotografia tenha comeado historicamente, de acordo com Barthes, como
uma arte da Pessoa: de sua identidade, de seu carter civil, do que se poderia chamar o quanto-a-
si do corpo
94
, o que ela fez, no fundo (ou raso), foi provar que o indivduo est submetido ao uso
que os outros fazem de sua imagem, ou melhor dizendo, da imagem que fazem dele:
(...) quando me descubro produto dessa operao, o que vejo que
me tornei Todo-Imagem, isto , a Morte em pessoa; os outros o
Outro desapropriam-me de mim mesmo, fazem de mim, com
ferocidade, um objeto, mantm-me merc, disposio, arrumado
em um fichrio, preparado para todas as trucagens sutis
95
.
Sabemos que essas trucagens feitas nossa revelia muitas vezes so feitas, inclusive,
contra as intenes do prprio fotgrafo. Da a pergunta de Barthes: A quem pertence a foto?
ao sujeito (fotografado)? Ao fotgrafo? A prpria paisagem no passa de uma espcie de
emprstimo feito junto ao proprietrio do terreno ? De minha parte, arriscaria dizer que seja ela
de quem for, ela pertence sempre a um Outro; porque jamais poderei saber o que a sociedade faz
ou far da minha foto, o que nela l ou um dia h de ler
96
.
Quem sabe por isso que, na maior parte das vezes, meus retratos no me agradam?
Talvez porque no correspondam imagem mental que tenho de mim. Tampouco os meus auto-
retratos fotogrficos me agradam: estou bem mais acostumada minha imagem no espelho (e
93
BARTHES, 1984, P. 106
94
Ibidem, p.118 Et seq.
95
Ibidem, p.28 Et seq.
96
Ibidem
77
creio que com grande parte das pessoas isso tambm sucede). como se as fotos em que apareo
fossem imagens que no me pertencem, porque no coincidem com a minha auto-imagem, com a
memria que tenho de meu rosto. Atribuo essa sensao, fundamentalmente, a dois fatores, a
duas particularidades das imagens especulares: diante do espelho me vejo sempre em movimento
(por mnimo que seja) e invertida em relao a como os outros me vem.
Por muito que a fotografia tenha se popularizado, a imagem que vemos de ns mesmo,
mais corriqueiramente, a especular. O que faz, de certo modo, sentirmo-nos despossudos de
nossa prpria imagem fotogrfica, que pertence, metaforicamente, a um outro (olhar), ao olhar de
um outro que nos v (e claro nos lembra) invertidos em relao a imagem que enxergamos no
espelho. Por isso nas fotografias em que o Outro aparece, que vejo se sobreporem, mais
freqentemente, as imagens fotogrfica e mental. Uma questo de como se v e se lembra de si
mesmo e do outro.
Da a tradio persa (e tambm afeg e paquist) do Espelho dos noivos, chamado Ayin-y
Bibi Maryam (o Espelho de Nossa Senhora Maria) usado para abenoar o primeiro encontro entre
o marido e a esposa. Nesse ritual, os noivos entram num quarto por duas portas opostas e, antes
de se olharem diretamente, miram-se, de vis, por um espelho colocado no fundo do cmodo.
Segundo essa crena, isso faz com que os noivos encontrem-se como no Paraso, vendo os seus
rostos corrigidos (o olho direito direita) e no invertidos como neste mundo
97
.
Aqui, o que ocorre, segundo minha hiptese, que os noivos vem-se, um ao outro,
segundo suas respectivas imagens mentais (seria isso o paraso?): como se os recm-casados
fossem apresentados num outro plano, no plano do imaginrio (particular), segundo a imagem
97
CHEVALIER e GHEERBRANT, 1982, p. 396
78
que cada um tem de si mesmo. Ficcionalmente, como se um penetrasse dentro do outro, como
se estivesse vendo o outro com os olhos dele mesmo, como torn-lo, atravs de um jogo de
olhares, um pouco eu, ou melhor, um pouco como eu para mim.
Nunca compreendi por que alguns namorados me presenteavam com fotos que faziam de
mim. Agora, penso esse gesto como uma verso negativa do espelho dos noivos e sinto por no
ter retribudo o presente para que assim a tradio se cumprisse. O que me escapava, o que eu no
entendia, que, com esse gesto, o que me ofertavam no era simplesmente uma imagem (a
minha), mas um olhar (o deles); a minha foto no era uma representao ou uma idealizao que
faziam de mim mas, antes, a sombra do instante em que estivemos juntos.
Algumas fotos so capazes de lanar-nos para alm daquilo que elas do a ver, nesse caso
o que entra em questo no apenas o que nela est enquadrado, mas o campo cego que estas
imagens possuem: um lugar onde aquilo que aparece na foto continua a existir, a viver, o
imaginrio. Barthes acrescenta que o responsvel pela existncia desse campo cego seria o
punctum que ele define, dentre outras coisas, como o extracampo sutil da fotografia
98
.
Devemos ressaltar que, para o autor, o que justifica e fundamenta a fotografia algo
exterior, algo alheio a ela, so os elementos outros que, atravs do imaginrio do espectador,
lhe sero adicionados. O que importa para ele, na foto, que, sendo o objeto-foto a prova
existencial daquilo que foi, mas nada alm disso engendra uma srie de equvocos
misturando a verdade com a realidade e o vivo com o real termos que no so, de modo
algum, sinnimos.
99
Por isso que o autor a distingue de todas as outras imagens: pois s a
fotografia , ao mesmo tempo, imagem de algum (ou de algo) e o atestado inegvel de sua
presena fsica em um determinado espao-tempo.
98
BARTHES,1984, p. 85- 91
99
Ibidem, p.118
79
III
Nessa concepo da fotografia como marca, como vestgio do real, a abordagem da
fotografia mais do que uma forma de (re)produo tcnica da imagem, ela um ndice diria
Rosalind Krauss e Philippe Dubois , um signo ditico diria Barthes. Eis de onde surge o
carter inominvel da fotografia que a torna inclassificvel e ao mesmo tempo to ligada ao
imaginrio: ela um signo que, antes de tudo, mostra que aponta ao invs de oferecer uma
designao simblica ou conceitual.
Embora no tenha formulado em termos semiolgicos ou lingsticos sua hiptese,
Benjamim, ainda no incio do sculo XX, pensou a fotografia como resduo, como runa do real.
Devemos lembrar aqui como esse autor define o conceito de aura: uma trama singular de espao
e de tempo: a apario nica de uma coisa distante, por mais prxima que esteja
100
; e
justamente a presena da aura o que impede, que numa imagem ou objeto, o seu valor de exibio
suplante, definitivamente, o seu valor de culto especialmente no caso do retrato fotogrfico.
Benjamin atribui a peculiaridade da fotografia ao fato de que diante dela:
O observador sente a necessidade irresistvel de procurar nessa
imagem a pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a
realidade chamuscou a imagem, de procurar o lugar imperceptvel
onde o futuro se aninha ainda hoje em minutos nicos, h muito
extintos, e com tanta eloqncia que podemos descobri-lo olhando
para trs.
101
Isso no to diverso do que Barthes encontrou de especfico na fotografia e, de certo
modo, a sua teoria sobre esse tipo de imagem desenvolveu-se a partir desse procedimento: era
essa centelha que ele procurava nas fotos de sua me e que pde identificar naquela do jardim de
100
BENJAMIN, 1985, v. 1 p.101
101
Ibidem ,p.94
80
inverno. Arriscaria ir ainda mais longe dentro desse quadro de afinidades que creio existir entre
Barthes e Benjamim. Em seu livro, A cmara clara, Barthes acaba por realizar
voluntariamente ou no a ampliao e o desdobramento do conceito benjaminiano de aura.
Tratar o tempo como punctum
102
e o afeto como o irredutvel da fotografia
103
para ele, esse
seria o nico aspecto a que se pode reduzir uma fotografia , no colocaria esse autor dentro de
uma investigao que aprofunda como ele mesmo diz no como uma teses, mas como uma
ferida a questo da aura na fotografia lanada por Walter Benjamin? Indagar a fotografia pelo
vis do amor e da morte no seria o mesmo que indag-la do ponto de vista do culto da saudade
consagrado aos amores ausentes ou aos defuntos
104
de que nos fala Benjamin?
Ainda h um aspecto pelo qual podemos aproximar esses dois autores. Se Walter
Benjamin, no seu texto Infncia em Berlim, fala que a saudade que nele desperta o jogo das
letras prova como foi parte integrante de sua infncia, e o que busca nele, na verdade, ela
mesma: a infncia por inteiro
105
. Barthes ir encontrar na foto do jardim de inverno, sua me
por inteiro.
E essa integridade que ele (Barthes) tenta preservar ao recusar-nos a viso dessa foto:
em termos benjaminianos, o autor vai tentar garantir, desta forma, que seu mais precioso tesouro
no seja reduzido ao valor de exibio, mantendo-a como um objeto culto privado afinal, o
que importa nas imagens destinadas a esse fim, de acordo com Benjamin, que elas existam, e
no que sejam vistas
106
; para Barthes o que importa, no que essas fotos simplesmente
existam, mas que existam para algum que lhes d sentido.
102
BARTHES, 1984, cap.39 p.141 p.144
103
Ibidem, p.38
104
BENJAMIN, 1985, v. 1 p. 174
105
BENJAMIN, 1994, v. 2 p. 105
106
BENJAMIN, 1985, v.1 p. 173
81
Assim, o que preocupa Barthes no a destruio ou a preservao da existncia material
de uma determinada foto, mas antes, o desaparecimento daquilo que a anima, o que retira seu
peso e sua mortificante imobilidade, o amor. O fim do amor como tesouro uma preocupao de
ordem tica, pois corresponde seno ao fim, pelo menos a um declnio do culto da saudade. Isso
poderia ser visto como um sintoma de uma sociedade que, no mais podendo conceber, afetiva
ou simbolicamente, a durao
107
acaba supervalorizando o instante, o atual, o efmero
promovendo o valor de exibio em detrimento do valor de culto e da advir a intruso, em
nossa sociedade moderna, de uma Morte assimblica
108
.
Barthes salva sua me dessa morte atravs da sua escrita. Ele no escreve sobre a imagem
de sua me, mas antes, sobre o amor que sentia por ela. Ele no quer transform-la numa
imagem, num objeto, ou em um ser morto, mas torn-la de algum modo (e o amor que sentia por
ela), memorvel para ns leitores. Cada vez que leio A cmara clara, ou me recordo desse livro,
sinto-me atravessada pela saudade e pela ternura com que Barthes refere a sua me, imagino
que enquanto houver pessoas que se sintam afetadas por isso, o amor como valor (que Barthes
tanto prezava) estar livre do esquecimento.
Se Barthes ocultou a foto de sua me no jardim de inverno, foi porque no poderamos
jamais compreender a fora daquela imagem (j que no tivemos a oportunidade de conhecer, ou
melhor, de amar sua me); jamais seramos feridos por aquilo que atingiu a Barthes (e que talvez
s a ele pudesse ferir): o punctum daquela imagem, imperceptvel para ns, tornaria a foto e, de
vis sua me, um ser qualquer, uma simples criana. O que ir distinguir uma foto das tantas
outras existentes o modo com que cada um de ns afetado pelo isso para que ela aponta, e
assim, o autor coloca o essencial da fotografia fora dela: no instante passado necessariamente
107
BARTHES, 1984, p. 140
108
Ibidem, p.138
82
concreto do seu referente, e no imaginrio de quem ir, posteriormente, atualiz-la. O que est em
jogo aqui , por assim dizer, a efemeridade da vida simblica de uma determinada imagem
fotogrfica pois ela depende de que haja algum ou um grupo de pessoas que se interessem
por ela, que desejem mant-la fsica e simbolicamente.
a iminncia do esquecimento do referente que faz com que muitos de ns escrevamos,
no verso das fotos nomes, datas, dedicatrias, e que nas fotografias de grupos destaquemos, com
um circulo ou com uma seta, o rosto de quem desejamos arrancar da multido. No entanto, o que
essas plidas tentativas de fazermos a legenda aderir imagem e, de vis, ao seu referente
denotam uma necessidade de criar uma distino e, tambm, uma forma de apropriao
discursiva da fotografia. Susan Sontag destaca no seu livro Diante da dor dos outros, como as
legendas, usadas para contextualizar uma foto podem igualmente ser usadas para deturp-las. Ela
exemplifica contando que quando houve a guerra entre a Srvia e a Crocia, os servios de
propaganda de cada um dos lados utilizou a mesma foto para insuflar revolta e indignao na
populao contra o respectivo inimigo. O que essa foto mostrava eram corpos de crianas mortas
durante o bombardeio de um povoado (que talvez no seja nem Srvio, nem Croata)
109
.
Basta observar atentamente uma foto destituda desse texto pontual, de preferncia,
uma foto antiga para rapidamente sermos tentados a fabular sobre ela. porque a foto uma
imagem da ordem do real
110
(no da verdade) que ela acaba gerando em torno de si literatura.
Como bem comenta Barthes em sua Aula, embora o real seja irrepresentvel, porque os
homens querem constantemente represent-lo que h uma histria da literatura
111
; assim tudo
que pode ser decodificado como o vestgio de uma presena, pinturas rupestres, pedras
109
SONTAG, 2003, p.14
110
Cf. BARTHES, 1984, p. 127- 132
111
BARTHES, 1978, p.22
83
talhadas, pegadas, fsseis, monumentos, artefatos, impresses digitais e tambm a fotografia
tende a despertar o desejo de encontrar e alinhavar esses elementos dspares. Esse desejo , antes
de tudo, um af de (re)constituir uma narrativa, uma histria de sua origem, que sendo
engendrada e engendrando, ao mesmo tempo, rastros encontrados mundo afora, nos reenvia a um
dos temas pertinentes ao sculo XIX, a identidade. No entanto, o que a fotografia provoca no a
afirmao, mas, ao contrrio, uma desestabilizao das afirmaes identitrias e de posse, e
faz vacilar justamente o que, a principio, acreditou-se que ela pudesse estabelecer, ou fixar: a
singularidade do sujeito, sua identidade.
IV
Eis que esbarramos numa das principais questes das obras de dois artistas que muito me
interessam, Christian Boltanski e Rosngela Renn: a constituio da identidade como fico.
Ambos iro explorar at exausto esse distrbio (de posse e de identidade) que, como bem
observou Barthes, a difuso da fotografia acabou por revelar. Ambos utilizam em suas
respectivas obras centenas e mais centenas de fotografias que foram descartadas pela sociedade,
destinadas ao lixo, aos brechs, s gavetas, aos arquivos mortos, aos stos, aos pores, aos bas
e que, posteriormente foram recuperadas por eles. Cada um a seu modo ir tentar recuperar,
reabilitar essas imagens esquecidas fazendo-as participar de novos contextos. Comearei por um
livro de artista feito por Boltanski no ano de 1969, intitulado Recheche et prsentation de tout ce
qui reste de mon enfance (1944-1950)
112
. Em texto de sua autoria publicado na edio original do
livro, o artista revela-nos seu intento proustiano
113
: Guardar um trao de todos os momentos de
112
Busca e apresentao de tudo que resta da minha infncia (1944-1950). Traduo da Autora.
113
Por isso foi mantido no original o ttulo do livro, para ressaltar a semelhana de seu propsito com o de Proust a
busca (Recherche) de um tempo perdido.
84
nossas vidas, de todos os objetos que nos cercam, de tudo que dissemos e do que foi dito a nossa
volta
114
.
Ele reconhece que a tarefa imensa, e seus meios para cumpri-la so dbeis, mas, que no
entanto, isso no diminuir o seu empenho. Sabe que continuar por um longo tempo ocupado
em buscar, em estudar, em classificar, cuidadosamente, o que restou do seu passado, e no
cessar de faz-lo at que sua vida esteja em segurana e que assim, seguro de no morrer,
possa, enfim, descansar
115
. O que o artista deixa explicito nesse texto que a morte para ele
no se traduz no fim do corpo fsico, mas na perda das marcas deixadas ao longo da vida. Nesse
aspecto o artista se irmana a Barthes quando fala a respeito do horror que sente pela morte ch.
Devo esclarecer que a reconstituio do passado (ou de parte dele) para Boltanski, no tem a ver
FIG. 18 Christian Boltanski. Vitrine de rfrence, 1971
114
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-boltanski/ENS-boltanski.htm , Trad. Giovanna Martins.
115
Ibidem.
85
com a preservao de sua identidade pessoal nem com a (re)configurao de uma histria
verdadeira. Ele est mais empenhado em, a partir de amostras do real dos despojos que
coleta, classifica, ordena e por fim exibe , oferecer centenas de elementos com os quais ele
possa (re)criar sua prpria verso. A propsito desses elementos o artista comenta que a
fotografia de algum, uma roupa ou um corpo morto so quase equivalentes: existe algum,
existiu algum, mas que agora j no /est mais.
116
Uma fotografia, seja como for, sempre nos d a ver algo que foi mas, disse Barthes, no,
forosamente, daquilo que no mais
117
. Uma foto , to somente, o vestgio de um passado que
a cada dia se tornar mais longnquo ( o pretrito perfeito ou mais-que-perfeito) por isso no h
como ela mostrar aquilo que no mais. Dizer isso seria coloc-la numa relao de continuidade
com o presente e sabemos que uma foto, por si s, no pode garantir nada a respeito do presente
FIG. 19 Christian Boltanski. ( dir) Reserve: Canada ( esq.) Reliquary, instalao, 1991
116
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-boltanski/ENS-boltanski.htm
117
BARTHES,1984, p.127
86
do seu referente (exceto no caso de retratos que quando
muito antigos nos fazem ter certeza que se referem a
pessoas j mortas).
FIG. 20 Christian Boltanski. Reserve: The
dead swiss, 1989.
Esse adendo (e no uma correo) que fao ao
depoimento de Boltanski no tem a funo de tentar
estabelecer entre ele e Barthes um confronto dialtico.
Uma vez que Boltanski, de modo algum, inocente
quanto aos estratagemas e discursos ligados fotografia
e tambm constituio da memria e da identidade
, podemos inferir da que ele se vale,
propositadamente, de certos equvocos para instaurar a dvida sobre a unidade do sujeito, sobre
sua identidade e, porque no, sobre sua continuidade, a sua permanncia atravs do tempo. Em
suma, para fazer-nos hesitar diante de tudo aquilo que representa a individualidade, a unidade, a
permanncia, a completude, que Boltanski ir constituir suas autobiografias genricas, seus
agrupamentos de roupas usadas e que perderam seus donos, sua coleo de milhares de
obiturios retirados de peridicos suos (para ele os suos so um povo neutro, e assim poderia
mais facilmente remeter morte de qualquer um de ns).
J amais tive contato algum com C. Boltanski, conheci-o atravs de fotografias e um
punhado de vestgios incongruentes: um trabalho de arte postal de 1970, chamado Christian
Boltanski, dele e seus irmos, em que o artista descreve uma foto datada, segundo ele, de 1959.
Aquele certo ar, aquela expresso facial, o seu olhar, uma determinada pose que poderia
diferenci-lo; aquilo que apenas os que participam ou j participaram de seu cotidiano so
capazes de identificar como seu trao distinto, me escapa.
87
.
FIG. 21 Dez retratos de Christian Boltanki, 1972.
No sei se ele o que ocupa o centro da foto ou se est direita ou esquerda: os trs
esto com os rostos um pouco encobertos um de culos escuros, o outro se protegendo da
luminosidade solar e o terceiro de perfil olhando para o cho (talvez nenhum dos trs seja ele).
Por essa mesma razo no posso concluir por outra via, que no seja o studium, quais das dez
fotos atribudas, por ele mesmo, sua infncia
referem-se realmente a ele ou correspondem a
outra criana. S posso entrever sua farsa
biogrfica, se for capaz de reconhecer, em
pelo menos uma delas, algum signo cultural
que soe truncado. Talvez um tipo de roupa,
um corte de cabelo que no se usava na poca
qual determinada foto deveria pertencer.
88
FIG. 22 Christian Boltanski et ses frres, 5/9/59, Octobre
1970 (postal enviado 60 pessoas)
De modo distinto, mas no com menos argcia, Rosngela Renn constri tambm uma
fico (auto)biogrfica intitulada Espelho dirio. Essa obra tem incio com um caderno em que a
artista colecionou duzentos artigos extrados de jornais relatando histrias de vrias Rosngelas;
na exposio esse caderno mostrado junto a um intrito, onde se escuta, num fone de ouvido,
uma narrao gravada na voz do Cid Moreira (que foi, durante muito tempo, apresentador do
telejornal mais popular do Brasil o Jornal Nacional, transmitido pela rede Globo); depois,
num cmodo mais escuro vemos um vdeo projetado como se fosse um livro. Em duas telas
colocadas em ngulo, ou usando a quina onde duas paredes se encontram, ela projeta, aos pares e
uma aps a outra, as cento e trinta e trs histrias de suas homnimas que a artista elegeu para
encenar. Esse repertrio audiovisual mostra uma Rosngela impossvel, ao mesmo tempo em que
amplia o conceito de retrato: o nomee o corpo-imagem da artista so os dois plos pelos quais
passa o eixo imaginrio das identidades que essa Rosngela mltipla nos faz entrever, no mais
como verdade, mas como possibilidades.
FIG. 23 Rosngela Renn. Espelho dirio, 2001
89
V
Dessas centenas de fotos e de jornais, R. Renn e C. Boltanski, vo fazer emergir aquela
distino entre a imagem e a sua reproduo que Benjamim to bem observou:
Cada dia fica mais ntida a diferena entre a reproduo, como ela
nos oferecida pelos jornais ilustrados e pelas atualidades
cinematogrficas, e a imagem. Nesta a unicidade e a durabilidade se
associam to intimamente como, na reproduo, a transitoriedade e
a reprodutibilidade
118
.
No seu livro Bibliotheca, Rosngela Renn, diz ter selecionado um nmero razovel de
imagens (quatrocentas) que, para ela, resumem o sculo XX. Embora essas imagens tenham se
originado de captao fotogrfica, o que importa, nesse caso, seu aspecto representacional, sua
capacidade de sintetizar uma idia, um conceito, uma imagem mental (o imaginrio?). Devemos
considerar, no entanto, que a fotografia foi a tcnica responsvel pela maior parte da iconografia
do sculo passado e, desse modo, pode ser tambm vista, ela mesma, como smbolo, como
representao daquele perodo.
Assim tambm acontece no livro Kaddish de Christian Boltanski, que, no judasmo,
o nome de uma orao ritualstica diria das sinagogas e de cerimnias pblicas de pranto da
morte dos parentes prximos
119
no qual o artista agrupa centenas de imagens, exclusivamente
em preto e branco, que so distribudas em quatro grupos: Menschlich, Sachlich, rtlich e
Sterblich. Em alemo sufixo chlich corresponde ao sufixo da lngua Portuguesa -(i)dade, da:
Menschilich (Humanidade), Sachlich (coisidade), rtlich (localidade) e, finalmente, Sterblich
(caducidade).
118
BENJAMIN, 1985, vol.I, p.101
119
DICIONRIO HOUAISS (eletrnico)
90
Ao reunir amostras do que seriam essas categorias, indicativas de caractersticas
referentes ao humano, s coisas, aos locais, decadncia ou decrepitude(nesse caso, o artista
refere-se especificamente caducidade do corpo humano), fica evidente que a peculiaridade
dessa coleo est no fato de que em todas as fotos a presena do humano pode ser sempre
percebida, mesmo que no diretamente: Boltanski compila imagens da existncia da vida humana
e dos seus vestgios.
FIG. 24 Christian Boltanski. Menschlich, Sachlich ( esq.) rtlich e Sterblich ( dir.) in Kaddish, 1998.
Em ambos os livros, Bibliotheca e Kaddish, podemos notar que o apuro tcnico no
constitui um critrio para a eleio de uma imagem, mas, antes, sua capacidade de (re)constituir,
individualmente e em seu conjunto, uma iconografia e uma histria que so feitas de
multiplicidades, de diferenas, de fragmentos, de lapsos mas, tambm, de semelhanas,
repeties, convenes. O social e o particular, o pblico e o privado, a imagem e a reproduo
esto, nessas obras, imbricados a tal ponto que no se pode falar de uns sem, necessariamente,
evocar os outros. Benjamin fornece as palavras para iluminar essa hiptese:
91
Retirar o objeto do seu invlucro, destruir sua aura, a
caracterstica de uma forma de percepo cuja capacidade de captar
o semelhante no mundo to aguda que, graas reproduo, ela
consegue capt-la at no fenmeno nico.
120
Boltanski e Rosngela fazem parte de sociedades que, como capitalistas que so, esto
sempre prontas para realizar essa operao de destruio da aurados objetos atravs de cpias,
tiragens, reprodues fotogrficas, miniaturas, falsificaes. Entretanto, essa mesma sociedade
supervaloriza e fetichiza os originais, as grifes, o autntico, o legtimo que so, antes de tudo,
fruto de um culto persona criadora (ao artista, ao escritor, ao designer, ao diretor de filmes, ao
estilista, etc) e que, talvez, nunca tenha existido, a no ser como desejo, a no ser como
utopia). Em suma, o que ocorre nas modernas sociedades capitalistas que a aura desloca-se do
objeto para seu criador esse ser singular, que as novas tcnicas cientficas de clonagem
querem replicar.
Benjamin atentou-nos ainda para o fato de que nenhuma obra de arte contemplada to
atentamente como a imagem fotogrfica de ns mesmos
121
, o que acabou por culminar num
narcisismo acrtico, gerador de um analfabetismo visual, simblico e, at mesmo, histrico.
Interessadas apenas nas fotos como forma de inventariar conquistas e posses (sejam materiais ou
afetivas), a maior parte das pessoas, ignora que o que esto fazendo, no fundo, apenas cumprir
um ritual burgus estabelecido h pouco menos de dois sculos. Ritual segundo o qual, desde os
primeiros tempos, as famlias fotografam suas crianas, suas comemoraes, suas cerimnias
de frente para cmara para que seus rostos se destaquem e sejam imediatamente reconhecidos.
Christian Boltanski e Rosngela Renn vo restituir s fotografias de annimos, de
objetos e de lugares comuns quelas imagens que a sociedade abandonou uma outra vida e
120
BENJAMIN, 1985, v.1 p.101
121
Ibidem, p.103
92
alma (outro nimo). Muitas das fotos que utilizam em seus trabalhos so oriundas do universo
privado, da vida particular, que ao torn-las pbicas, transformam-nas em emblemas, em crnicas
visuais de um certo universo social (ocidental, capitalista?) prprio ao sculo XX. Acima de tudo,
esses trabalhos rompem com o narcisismo acrtico para ensinar-nos a olhar de modo diferente
para as fotografias, a arrancarmos dela a imagem. A Bibliotheca e o Kaddish convocam-nos a
constituirmos nossos prprios inventrios, mas tambm a desapegarmo-nos do espelho para olhar
o outro, a reconhecer o singular, o acontecimento nico que constitui toda fotografia, toda
histria, e at mesmo, todo ritual.
J ustamente isso que Barthes tentou fazer ao sugerir que cada um encontrasse sua foto
Ariadne (chave para a compreenso de A Cmara Clara): despertar seus leitores para a
singularidade, porque s (re)aprendendo a capt-la que conseguiremos retornar desse
labirinto que todas as fotografias do mundo formam. Como os labirintos, as fotografias so
feitas de repeties, de correspondncias, de espelhamento, de semelhanas e por isso que
preciso diferenci-las de algum modo, tir-las da imensa multido de fotos que se multiplicam
sem cessar: para Barthes, o que cria esse desejo de diferenciao o amor. Pode parecer um
pouco estranho, mas por isso que tendo a no imputar aos retratos das pessoas que amo
legendas provavelmente isso suceda por alimentar secretamente a crena de que os seres
amados so, para sempre, inolvidveis e inconfundveis. Foi lendo A Cmara Clara que descobri
um sentido para a ausncia de legenda em fotos daqueles que amo: porque o que posso nomear
no pode, na realidade, me ferir
122
.
Foi por essa mesma razo que Barthes foi incapaz de reduzir a foto da sua me no jardim
de inverno a um nome e a uma data, negou-se, explicitamente, a reduzi-la a outra coisa que no
122
BARTHES, 1984, p.80
93
ao amor embora soubesse que no poderia legar sua prpria memria a responsabilidade
pela guarda desse tesouro. Mas a rememorao, como atividade humana que , est sujeita a
falhas, a lapsos, a debilitaes e assim submete tudo aquilo que ela abriga, a modificaes, a
distores, a aprimoramentos, a enganos, a desvios. Talvez, por saber disso que Barthes optou
por no deixar a foto do jardim de inverno sem legenda e porque ela no cabia no verso da foto,
transformou-a em um livro: A cmara clara.
Esse livro-legenda que funciona, tambm, como guia para a descorberta/identificao da
Foto-Ariadne de cada um de ns, configura-se, ao mesmo tempo, como uma descrio difusa do
ser que era (que foi) sua me. Na medida em que no nos mostra sua foto (muito menos aquela
do jardim de inverno) desperta nossa imaginao que vai tentar, de alguma forma, (re)desenh-la
mentalmente. Sem dvida, a imagem que cada um far da me de Barthes ir variar desde o
seu aspecto fsico at no jeito de se movimentar e se vestir , cada um acrescentar alguns
detalhes que considera indispensveis a uma mulher suave, amorosa e discreta.
Deve-se destacar que se a estratgia de Barthes funciona, porque ela no est
comprometida em estabelecer verdade de espcie alguma sobre quem foi sua me e, tampouco,
est interessado em conferir-lhe um rosto especfico, uma aparncia e uma identidade definidas.
O que o autor faz, ao invs disso, um esboo amoroso sobre ela, deixando para o leitor a tarefa
de (re)criar para si, e de acordo com o seu imaginrio particular, esse ser (essa alma diria ele) a
quem Barthes tanto amou. Ele no pretende com isso preservar por inteiro, e inequivocamente, o
ser que foi sua me, mas antes deseja assegurar-lhe alguma significncia. Para isso ele vai,
propositada e sutilmente, derramando ao longo das pginas de A cmara clara alguns detalhes,
algumas peas que nos faam entrever um pouco desse ser singular que foi sua me. So nessas
94
pequenas pistas que ele aproxima da sua a nossa imagem mental, no ponto por ponto, mas pelo
menos nos pormenores cruciais: na docilidade, no ch, na bolsa...
Sempre que me pego observando algumas de minhas bolsas prediletas fico a imaginar que
devem se parecer com aquelas que a me costumava usar segundo Barthes, ela usava umas
bolsas de formas confortveis que pareciam sacolas (exatamente como as minhas!).
Imediatamente retorna o desejo daquela foto no vista (a do jardim de inverno) e, como
provavelmente jamais poderei v-la, deixo-me guiar pelas imagens que essa locuo substantiva
desperta em mim. Avisto um lugar familiar. o jardim de inverno de um hotel a que fui muitas
vezes ao longo de minha infncia; l vejo brincarem duas crianas, somos eu e minha irm de
mos dadas, olho para o lado e vejo-me mais uma vez; eu, ainda criana, sentada numa das
poltronas de vime que compem o jardim (s que um pouco mais crescida), jogando a primeira
partida de xadrez da minha vida, e foi contra o meu pai; olho ao redor e no vejo minha me,
acho que ela no costumava circular por esse jardim.
FIG. 25 Valeska Soares. Walk on by, 2006 (frames)
95
Essas cenas bem poderiam ser parte do vdeo Walk on by, de Valeska Soares em que
vemos justapostas imagens de vrias pessoas em momentos distintos num mesmo cenrio: um
morrinho todo gramado tendo ao fundo um cu azul, atravs do qual passam algumas nuvens.
Sobre o morro fica um banco de jardim. Esse vdeo projetado em duas paredes opostas de uma
sala, em cada lado vemos um conjunto distinto de cenas e entre as projees h um banco de
acrlico transparente (como o que aparece no vdeo). Poderiam aquelas cenas ter transcorrido na
gravao de Walk on by, no fosse pela ausncia daquela colina mnima recoberta por um
gramado vioso e do cu azul manchado por umas nuvens bem desenhadas como aquelas que
aparecem numa srie de fotografias em que Duda Miranda, refazendo um trabalho de Marepe,
finge com-las
FIG. 26 Marepe, 2002 por Duda Miranda, 2006
FIG. 27 Marepe. Doce cu de Santo Antnio, 2002
96
VI
Duda Miranda um(a) personagem criado(a) por Maril Dardot e Matheus Rocha Pitta.
Acho que eles nunca chegaram a um consenso sobre seu sexo (ou no julgaram essa questo
muito importante). Por isso, ora aparece como um colecionador, ora como uma colecionadora. A
particularidade de seu acervo de obras que ao invs de comprar as obras que o compem,
decidiu faz-las, ele prprio. A natureza dos trabalhos que compem a sua coleo permite um
consenso: trata-se de obras cuja a realizao no depende da habilidade manual, que utilizam
materiais presentes no nosso cotidiano, mas que so arranjados de modo a produzir novos
sentidos. Legado de Duchamp. Imediatamente somos capazes de concordar com a atitude de
Duda Miranda: afinal de contas, que sentido faz comprar um trabalho como Perfect Lovers de
Flix Gonzlez-Torrez se este constitudo por dois relgios comuns de parede que s tm de
incomum o fato de serem colocados lado a lado, marcando o mesmo horrio? Porque comprar,
seno por fetiche, um trabalho que um sanduche de po de sal com algodo, ou um outro que
uma composio com Lmpadas fluorescentes? Mas uma dvida persiste, e em relao s
fotografias que Duda refaz.
FIG. 28 Flix Gonzlez-Torres. Perfect Lovers, 1991
97
A primeira vista isso poderia soar como uma falha no discurso-procedimento desse(a)
colecionador(a): se a fotografia resultado de um momento irrecupervel, como refazer fotos? A
resposta simples: o que Duda refaz no so fotos, no O doce cu de Santo Antnio de
Marepe, o Ritual da cesso da Zona de Sensibilidade Pictrica Imaterial em que Yeves Klein
est acompanhado de Dino Buzzati ou o instante em que Robert Smithson instala uma srie de
espelhos em diversas paisagens; o que Duda refaz so as imagens, os procedimentos, as idias, os
rituais e, em cada nova foto, ele(a) que tambm um procedimento surge como um(a)
novo(a), um(a) Outro(a) Duda.
FIG. 29 Yves Klein. Zona de sensibilidade
pictrica imaterial, 1962
FIG. 30 Zona de sensibilidade pictrica
imaterial por Duda Miranda, 2005
98
Monumentos em disperso
Salve o navegante negro
Que tem por monumento
As pedras pisadas do cais
Mas faz muito tempo...
BLANC
I-
Procurando entre minhas estantes algo que pudesse me auxiliar a comear esse captulo
dei com o catlogo de uma exposio que, h sete anos atrs, foi trazida ao Museu de Arte da
Pampulha: Os mltiplos de Beuys: Joseph Beuys na coleo Paola Calacurcio. Embora tenha ido
mostra, eu no me lembrava da pedra carimbada cuja foto no catlogo vem acompanhada da
seguinte legenda:
Pflasterstein, 1975
pedra basltica com carimbos
18 x 15x 15cm
50 exemplares numerados, assinados e carimbados.
FIG. 31 Joseph Beuys. Pflasterstein, 1975.
O basalto, quando fundido com o ferro, produz uma massa usada, entre outras coisas, pra
confeccionar esculturas; esse tipo de pedra , tambm, comumente empregado em pavimentao
de ruas e de estradas, Pflastein, em alemo, significa pavimentar e tambm curativo. Sem
99
dvida trata-se de um material bastante resistente. Em contrapartida, o carimbo e a assinatura de
Beuys aparecem tnues, falhos sobre sua dura superfcie escura de rocha vulcnica. Dos 50
exemplares desse mltiplo, vi apenas um, mas creio que assim deve ocorrer com todos: a
rugosidade da superfcie aniquila a planaridade do carimbo.
Em 2001, em Diamantina, realizei um trabalho chamado Sem ttulo (deslocvel). Para
execut-lo escrevi, sobre duas mil pedras recolhidas de uma canteira nos arredores da cidade,
com tinta ltex, o nome e a data de nascimento de duas mil pessoas. Primeiramente, me ocupei da
coleta dos dados: durante incurses pelas ruas da cidade me apresentava aos passantes, explicava
o queria fazer; depois, caso a pessoa concordasse, eu anotava seu nome e a data do seu
nascimento para inscrev-los em pedras. Constru, assim, uma espcie de memorial dedicado aos
vivos, s pessoas comuns, multido de pessoas que habitam o mundo, ao simples fato delas
existirem; nesse memorial as pedras ficavam deitadas ao cho. Dispersas horizontalmente
pareciam pequenos jazigos.
Soltas, podiam ser levadas por
qualquer um que passasse.
No ano seguinte, uma
amiga voltou cidade em que
fiz o trabalho e de l me trouxe
trs fotos que mostravam o que
aconteceu com ele: um morador
da cidade, temendo a disperso
FIG. 32 Lais Myrrha. Sem ttulo (deslocvel), 2001.
100
(a destruio) do memorial, resolveu juntar as pedras e us-las para fazer um jardim. No entanto,
os nomes e as datas j no eram to ntidos como na poca em que foram escritos; desbotado, o
negro da tinta foi substitudo por um cinza gasto, um gris criado pelo tempo e que o prprio
tempo, a esta altura, j deve ter quebrantado quase por completo.
Creio que se Beuys abandonasse pelo menos um de seus Pflastersteins s intempries do
tempo, hoje, talvez, ele j teria recuperado seu anonimato de pedra; seria um entre tantos
paraleleppedos de uma rua, estrada ou viela a ser acariciado pelos passos alegres e distrados de
um transeunte, ou pelo rugido infernal das rodas de um trator.
Quem sabe, se nessa mesma rua, ou viela, ou estrada, tambm estivesse uma daquelas
instalaes de Flix Gonzlez-Torres em que ele utiliza fios ou cortinas feitos de pequenas
lmpadas incandescentes, to semelhantes ao enfeites usados nas festas de So J oo e de Natal.
Se no soubssemos, talvez a obra nos
escapasse. As lmpadazinhas usadas pelo artista
como metfora dos glbulos brancos que vo se
apagando na medida em que a AIDS ataca o
corpo (e aqui ele se refere ao seu prprio corpo),
fora de contexto, passaria despercebida. De fato,
Gonzlez-Torres realiza algumas verses desse
trabalho na rua, mas tambm em galerias, museus, centros culturais, bienais. Depois de conhecer
sua obra, as luzinhas de Natal e aquelas outras que palidamente iluminam as festas juninas, nunca
mais, aos meus olhos, brilharam com a mesma alegria inocente.
FIG. 33 Flix Gonzlez-Torrez. Sem ttulo (America)
101
s vezes chupo balas e elas
me travam a garganta. No que
sejam muito amargas, doces ou
azedas, mas que me fazem
lembrar um outro trabalho de
Flix. O travo que me provocam
como aquele que o choro produz.
Lembro da pilha de balas apoiada
num canto da parede. Todos os
dias, visitantes enchem seus bolsos com essas balas; assim, diariamente, so repesadas pelos
funcionrios do museu, onde a obra est instalada. Eles tm por misso conservar o seu peso e,
metaforicamente, seu corpo. Essa tarefa infinita um ritual: pesar e reconstituir, todos os dias, a
pilha de balas, no permite que a obra, nem o corpo de seu companheiro, sejam esquecidos,
negligenciados.
FIG. 34 Felix Gonzalez-Torres, Untitled (USA Today), 1990 (MoMA)
II
Em 1982, na Documenta 7 , realizada em Kassel na Alemanha, J oseph Beuys deu incio a
um trabalho que consistiu em plantar, ao redor da cidade, sete mil carvalhos cada um
acompanhado por uma coluna de basalto. A ltima das rvores foi plantada aps sua morte, pelo
seu filho, em 1989 durante a Documenta 8.
Segundo ele, esse projeto visava uma recuperao dupla: a do entorno da cidade que foi
devastado pela explorao industrial, e a do carvalho como smbolo que, por ter sido usado pelos
102
nazistas, adquiriu a pecha de intolerncia, de violncia, de racismo e de tudo o mais que o
nazismo passou a representar. Beuys nunca descuidou do aspecto simblico dos materiais
utilizados em sua profcua obra que envolve desde desenhos at performances. No , portanto,
excessivo lembrar que a escolha do carvalho, considerado uma rvore sagrada em vrias
tradies, traz aspectos para a obra que vo muito alm dos atributos de fora e da altivez que os
nazistas se empenhavam em cultivar.
FIG. 35 Joseph Beuys. Plantando carvalho para obra 7.000 oaks, Kassel, 1982.
Quando Beuys coloca, ao lado dos carvalhos, blocos de basalto, ele deixa bastante claro o
desejo de constituir um memorial/monumento que se modifique com o decorrer do tempo, que se
misture vida, mas que possa, ao mesmo tempo, ser identificado, reconhecido como uma
(re)construo, como uma obra humana. Ao colocar ao lado de cada um dos sete mil carvalhos
uma coluna de basalto, todas elas possuindo a mesma altura, o artista, retira dessa aproximao
fsica entre pedra e rvore, a possibilidade de ser entendida como uma ocorrncia do acaso ou da
103
natureza. A pedra e a rvore, uma junta outra, falam-nos silenciosamente sobre o tempo, sobre a
vida e, claro, sobre a morte; a pedra inorgnica, de um tempo imemorial; a rvore, orgnica, da
durao da vida, de um tempo finito. O basalto e o carvalho, um ao lado do outro, falam-nos um
pouco mais do que uma pedra ou uma rvore quaisquer: o primeiro usado para fazer
pavimentos, monumentos, esculturas; seu formato faz lembrar um pequeno totem de alguma
antiga civilizao e remete cultura; o outro, tornado pela cultura smbolo da majestade e visto
como portador da divindade suprema do cu
123
, porque tem a propriedade de atrair, para si,
raios, lana-nos em direo vida e natureza.
FIG. 36 Joseph Beuys com as pedras da obra 7.000 oaks, 1982
Se olharmos com cuidado, percebemos que esse monumento construdo por Beuys
bastante ambguo: em torno da cidade ele formou um crculo de vida (os carvalhos), mas com ele
a possibilidade da morte, no apenas do monumento, o carvalho atra os raios e isso cria a
123
CHEVALIER e GHEERBRANT, 1997, p.195
104
possibilidade do surgimento de um crculo de fogo e assim aponta para a iminncia do perigo da
violncia e da catstrofe que sempre anda a espreita.
Velho, o basalto, j foi ele mesmo, fogo, magma que solidificou e perdeu o vermelho da
vida. s vezes penso que l, junto ao carvalho signo de solidez, de potncia, de longevidade,
de altura (a clava de Hrcules feita de Carvalho)
124
, o pequeno totem, vem nos lembrar do
nosso devir basltico (e o do carvalho tambm), da nossa condio de futuros habitantes de uma
imensa Pompia sem turistas. Os sete mil carvalhos de Beuys constituem-se assim como um
monumento paradigmtico, pois com ele o artista abarca no apenas um determinado tempo
histrico, mas nos faz lembrar que fazemos parte uma nfima frao de tempo se comparamos
com o tempo da formao geolgica da terra, das estrelas, do universo.
Essa obra no est, portanto, relacionada apenas ao contexto da Alemanha do ps-guerra,
mas antes, humanidade, ao tempo que corre, vida e aos processos ao qual est sujeita.
Assemelha-se mais s construes arcaicas destinadas a marcao de fenmenos celestes
(equincios, solstcios, etc) do que aos monumentos dedicados glorificao de mrtires, heris,
naes. um monumento ao tempo.
III
Mais modestamente, em 2004 realizei um trabalho intitulado, de forma no to modesta,
Quatro coordenadas topocntricas e a construo de possvel horizonte breve. Ele constitudo
de uma placa de pedra polida e de uma fotografia que contm as mesmas medidas (45 x 30 cm
cada). A peculiaridade da obra que nela a pedra e a foto se assemelham no se sabe se uma
124
CHEVALIER e GHEERBRANT, 1997, p.195
105
foto do cu que lembra uma pedra ou se o contrrio. A pedra colocada na horizontal como
uma prateleira e a foto, na vertical, forma com ela um ngulo de noventa graus.
O ttulo, pouco econmico, tem a curiosa propriedade de se tornar olvidvel (quem vai se
lembrar de um nome to extenso). No entanto ele extremamente simples e diria, at bvio e
didtico. As coordenadas topocntricas so coordenadas esfricas de um ponto da esfera celeste
em relao ao local onde se encontra o observador terrestre
125
. Mas por que quatro? Quatro,
porque uma corresponde ao lugar de onde a foto foi tomada, outra ao local onde a pedra foi
formada geologicamente, a terceira ao local onde encontrei a pedra e a quarta ao espectador,
quem marca o lugar de onde esse possvel horizonte observado.
FIG. 37 Lais Myrrha. Quatro coordenadas topocntricas e a construo de um
possvel horizonte breve, 2004/2005.
De forma mais ou menos anloga obra de Beuys, h nesse trabalho a coexistncia do
efmero e do resistente, daquilo cuja transformao, por ser muitssimo lenta e por isso no poder
ser apreendida pela percepo humana. A foto que traz consigo a marca de uma contingncia, de
125
DICIONRIO HOUAISS ELETRNICO
106
algo que no instante seguinte se desfaz, e isso pode ser especialmente percebido, sentido em
relao fotos do cu.
Muitos fotgrafos trazem em seu portfolio sries fotogrficas em que documentam um
lugar durante um processo de construo ou de destruio ou, simplesmente, o registro de vrios
instantes da observao peridica de um determinado local, paisagem, objeto, etc. Mesmo
considerando as especificidades de cada uma, esse tipo de obra, tem algo em comum: apontar
para o contingente, para as transformaes que mesmo as coisas, aparentemente estticas no
cessam de sofrer.
Diferente o que acontece com uma foto do cu. Estamos acostumados volatilidade do
firmamento, por isso, na nossa imaginao, dificilmente o enxergamos esttico. Talvez esse seja
o porqu das fotografias de cus sempre remeterem, simultaneamente, ao efmero, ao fragmento,
ao contingente, ao instante, mas tambm durao, ao continuum, ao transcorrer. Quando
disponho um pedao de pedra cuja formao se assemelha (pela forma e pela cor) fotografia do
cu que est colocada junto a ela, tenho a inteno de potencializar a sensao de loucura que
Barthes revela sentir ao olhar determinadas fotos; aquela que o faz (o fez) entrever o
esmagamento do tempo. Sinto-me, como ele, acometida por uma catstrofe que, na foto, ainda
no ocorreu, mas sei que vai ocorrer.
Pensar em tempos muito remotos, passados ou futuros, remeter a uma poca em que a
espcie humana sequer existia. Esse tempo descomunal, que o da pedra, atroz. Devora-nos.
Torna-nos plenos e vazios de sentido: foi preciso tanto para que existssemos! Mas ser preciso
ainda mais para continuar a existir! As pedras no, elas esto aqui h milhes, h bilhes de anos.
Elas esto por todo o universo, nos meteoros, nos satlites, nos planetas distantes, e parece-me
que est no destino, talvez ainda muito longnquo, desse nosso planeta girante.
107
IV
Um Milho de anos (passado e futuro), desde 1970, umtrabalho do artista japons On
Kawara, no qual ele enumera, ao longo de duas edies de dez livros cada uma, o perodo de
pouco mais de um milho de anos passados e futuros a contar de 1970. A edio referente
ao passado compreende todos os anos desde 998.031 a.C. at 1969. A que compreende o futuro,
vai de 1969 at 1.001.995 d.C..
Alm disso, faz parte do trabalho uma
cabine de onde locutores se revezam lendo a
seqncia dos anos em voz alta. Nenhum
acontecimento, previso, nenhuma nota feita
acerca de todos esses anos, nenhum nascimento,
nenhuma morte lhes so atribudos. Mas h um
marco, 1970, que representa o instante,
simbolizando a dimenso diminuta do presente.
FIG. 38 On Kawara. Um milho de anos (passado e
futuro), desde 1970.
Esse compndio de anos configura-se como um acmulo obsessivo de datas, uma
desmesurada contabilidade esvaziada, que nos defronta com a nossa condio mortal. Essa obra
nos reenvia a uma inquietao humana das mais antigas: o tempo de existncia, no s particular
(de cada ser vivente), mas da prpria vida.
Um milho embora seja nmero finito guarda, simbolicamente, uma eternidade, uma
infinitude. Conta praticamente inconcebvel caso no fosse a capacidade humana em abstrair,
projetar, rememorar, imaginar. Ao apresentar-nos essa obra, o artista vai confrontar nossa
108
capacidade de conceber, imaginariamente, tempos imemoriais e tremendamente futuros muito
distantes da nossa breve existncia com a nossa dimenso temporal, com o nosso peso e nossa
medida que, dentro desse milho no seno uma mnima parcela. Assim, nosso quinho,
provavelmente, no deve passar de algumas linhas num dos vinte volumes de Kawara.
Alguns de ns veremos nossa vida iniciada no fim do ltimo livro que compe o milho
de anos passados, podendo chegar at s primeiras pginas do livro correspondente ao milho
futuro. Outros tero sua vida inteiramente inserida no milho de anos futuros. Angustia... no h
um livro do presente. Estamos submetidos ao livro do passado ou ao do futuro.
FIG. 39 On Kawara. Pages, On million Years (Past) 1969
Assim a relao do tempo da fotografia quando comparada mdia de tempo de vida de
um ser humano. Ela corresponde a um timo de nossa existncia, uma frao de segundo. O
nosso tempo de vida no s exorbitantemente maior que o tempo que se leva para fazer uma
foto, mas tambm exorbitantemente menor que a relao entre um entre o milho de anos listado
109
por Kawara. O ano de 1970 representa na obra de Kawara o que o instante fotogrfico representa
em nossas vidas.
Partindo desse princpio, no difcil pensar tal obra como uma metfora fotogrfica. Ao
nos colocarmos em relao a ela comeamos a nos ver como vemos a fotografia, nesse
trabalho somos a fotografia mortais, pequenos, frgeis, instantneos, de consistncia e de
aparncia duvidosas.
V
Pelo menos os empilhamentos sem fim (endless stacks) de Flix Gonzlez-Torres me
devolvem algum sentido: suas gravuras empilhadas sero eternas enquanto houver algum para
cuid-las, para rep-las, permitindo assim que continuem a circular sendo integradas vida,
sendo levadas e espalhadas pelo mundo.
Entre as pilhas infindas de gravuras que ele idealizou, h uma impresso em offset de um
cu diurno com nuvens. Pela iluminao pode-se perceber que por de trs delas esconde-se o sol.
No um cu triste e foi impresso em preto e branco. As nuvens que vemos no obliteram os
raios do sol, ao contrrio, at acentuam sua radiosidade, seu brilho, sua fora; porque existem as
nuvens, possvel perceb-los seno, veramos apenas um cu formado por um dgrad azul (ou
cinza, pois a foto p/b) ou ento, caso olhssemos para esses raios de frente, eles nos cegariam e
a foto resultaria numa superfcie branca.
Nessa imagem do cu que Felix Gonzlez-Torres dissemina pelo mundo no est apenas o
desejo de perpetuao simblica de um corpo, mas de uma singularidade, de um evento nico
(que a existncia de cada coisa ); singularidade esta representada aqui pelo fugidio cu que um
dia seus olhos privilegiados tiveram a oportunidade de ter diante de si.
110
Enquanto houver quem cuide e restitua, continuamente, os empilhamentos sem fim de
Torres, eles (e a singularidade que encerram) continuaro a existir e a circular; as gravuras que os
compem podero ser encontradas cada vez em um nmero maior de casas, de colees, de
escritrios; enfim, essas gravuras, podem agora mesmo estar presentes nos mais dspares cenrios
cotidianos; quem sabe, futuramente, podero vir a participar de cenrios ainda no surgidos.
FIG. 40 Flix Gonzlez-Torres. Untitled (endless stack), 1991
111
VI
Com o tempo, at os monumentos se tornam invisveis
126
. Essa talvez seja uma boa razo
para subvertemos: o problema da memria deveria ser substitudo pelo da rememorao. Como
vimos at aqui, no so poucos os exemplos de artistas que, de um modo ou de outro, tm
colocado isso em questo, e foi dentro dessa perspectiva que Christian Boltanski apresentou seu
projeto para a criao de um memorial do holocausto a ser instalado em Berlim.
Sua proposta consistia em instalar, numa praa, um parlatrio do qual, de quinze em
quinze minutos, voluntrios se revezariam lendo a lista dos nomes das vtimas feitas pela
Shoah
127
, na Segunda Guerra Mundial. De acordo com o artista, enquanto houvesse interesse das
pessoas por essa lembrana, o memorial seria mantido, mas a partir do momento que, por algum
motivo, a comunidade perdesse o interesse pela rememorao dessa catstrofe, o memorial
extinguir-se-ia (o que no impediria de que fosse, posteriormente, reativado).
Ao deslocar a responsabilidade pela guarda da memria do objeto para as pessoas,
Boltanski reduz o memorial ao essencial, ao problema da rememorao; ele no cria empecilho
nenhum para que o esquecimento se instale, alis, torna-o iminente. Entretanto, o artista no
concebeu seu memorial para provocar esquecimento, ou para funcionar como um pedido de
desculpas, ou como instituio de uma culpa coletiva pelas atrocidades da guerra, como muitas
vezes fazem as autoridades civis e militares.
Ao requerer a participao voluntria das pessoas, coloca as como parte do memorial, no
como uma forma de penitncia, mas a fim de arranc-las da condio de meros espectadores.
Alm disso, remete-nos importncia da histria oral como forma de resistncia cultural e ao
126
Robert Musil Apud HUYSSEN, 2000, p. 44
127
Palavra usada para designar o extermnio dos judeus na II Guerra Mundial. Prefere-se esta palavra holocausto
porque nesta ltima est implicada a idia de um sacrifcio-ritual sagrado.
112
papel subversivo que esta assume em tempos de autoritarismo e represso. No -toa que, onde
impera o autoritarismo, crimes hediondos como a tortura e o assassinato, sejam to praticados.
Somos arquivos vivos.
VII
Em 2003, realizei pela primeira vez o Memorial do esquecimento. uma proposta de
interveno urbana cuja monumentalidade est menos no seu aspecto formal do que na ao que
proponho: Colocando-me ante um muro pintado de preto, escrevo, com tinta branca, os nomes
dos transeuntes que, interpelados por mim, se disponham a revel-los. Essa ao continua at que
o muro se torne completamente branco.
A partir desse momento, o muro, como uma pgina que aguarda silenciosa, ser
inaugurada, ir dedicar-se a outras inscries, outras inseres, igualmente fugazes, transitrias e
fluidas.
FIG. 41 Lais Myrrha. Memorial do esquecimento, 2003
113
Imaginariamente, um memorial dedicado ao ciclo de vida e morte e como o prprio
ttulo sublinha, do desejo de memria e a amnsia que a exacerbao desse desejo pode causar. O
que resta dessa obra so algumas fotos, textos e a lembrana que cada uma das pessoas que dele
participou carregar consigo.
VIII
Susan Hiller, em um trabalho de
1981, intitulado Monument, reconstitui
atravs de fotografias um memorial
dedicado a pessoas que morreram na
tentativa de salvar outras vidas. As
imagens mostram um muro, feito de
azulejos, do perodo vitoriano , onde
esto escritos alm dos nomes e das
datas de nascimento e de morte desses
heris a descrio de seu derradeiro
ato de bravura, sua ltima imagem.
Simbolicamente, essas fotografias parecem ocupar o lugar do retrato. Ao apresent-lo, a
artista, nos coloca de costas para o monumento, sentados num banco de jardim onde podemos
escutar, num fone de ouvido, palavras que nos falam sobre a memria e o esquecimento, sobre a
vida, sobre a morte, sobre um evento e sua representao. Em um dos trechos desse udio,
ouvimos uma voz pronunciar os nomes dessas pessoas e, em seguida, fazer a contabilidade de
quantos anos eles viveram e h quantos anos existem como representao.
FIG. 42 SusanHiller. Monument, 1980
114
A voz diz: Frederic Alfred Croft: 31 anos no corpo, 102 na representao; William
Fisher: 9 anos no corpo, 74 na representao, e assim por diante. Essa narrao nos faz pensar na
morte literal, na morte simblica que Barthes evoca tantas vezes em A cmara clara.
Alguns anos aps ter visto o trabalho, no me lembro
mais do nome de nenhuma das pessoas, nem exatamente
quais foram os seus derradeiros atos de bravura. Sei apenas
que muitos tiveram sua vida interrompida precocemente num
incndio, numa linha de trem, na corredeira de um rio. No
fui capaz de manter entre as minhas lembranas, as do ato de
que cada um desses indivduos, um dia, participou. J untos
residem na minha memria, como uma nica figura muito
ilustre, o heri desconhecido.
FIG. 43 Susan Hiller. Monument, 1980
(detalhe)
IX
No difcil encontramos exemplos de memoriais contemporneos que utilizam a
fotografia, ou no. No ltimo caso inscreve-se o trabalho de Kawara apresentado anteriormente,
no primeiro, um dos possveis exemplos a instalao de Christian Boltanski denominada
Monumento: As Crianas de Dijon.
Nessa obra, o artista utiliza retratos de inmeros estudantes de uma escola da cidade de
Dijon. Cada uma dessas fotos cercada por pequenas lmpadas. Formalmente, o monumento de
Boltanski, assemelha-se bastante aos altares populares em que as pessoas colocam fotografias
daqueles pelos que pedem, por quem rezam. Alm desse carter popular, podemos entrever algo
a mais, a melancolia que atravessa esses rostos infantis nos salta aos olhos como imagem de
115
morte, como sombras de uma perda irrecupervel. Atravs dos semblantes daquelas crianas
podemos imaginar quando elas iro desaparecer. Certamente, como crianas, j desapareceram.
Aqui,
A data faz parte da foto: no porque ela denote um estilo (...) mas
porque ela faz erguer a cabea, oferece ao clculo a vida, a morte, a
inexorvel extino das geraes. (...) Sou o ponto de referncia de
qualquer fotografia, e nisso que ela me induz a me espantar,
dirigindo-me a pergunta fundamental: por que ser que vivo aqui e
agora?
128
Nesse ponto o trabalho de Boltanski como aquele de Kawara serve como uma
referncia de medida temporal a partir da qual podemos mensurar-nos.
H, em ambos os casos, um cmputo exagerado que leva nostalgia. Em um, porque
apresenta-nos um excesso de dados acumulados, nos quais vemos nosso tempo de vida como
nfimo, perdido no meio daquele rol incansvel de anos. No outro, a soma de inmeros retratos,
de pequenos altares est continuamente a nos remeter s velhas questes humanas, quelas
referentes a morte, ao amor, saudade.
No Monumento: As Crianas de Dijon, o estatuto do Monumento, da Fotografia e da
Histria sero questionados e relativizados. Os aspectos e qualidades materiais do trabalho
combinam-se de modo que, configurar-se-, ao contrrio dos monumentos tradicionais, como um
monumento mvel, mutvel, frgil, transitrio.
Utilizando lmpadas incandescentes ao redor dos retratos, Boltanski vai, de certa maneira,
acelerar o processo de deteriorao das fotos. A luz e o calor emitidos por elas provoca o
ressecamento do papel e o empalidecimento das imagens. Essas mesmas lmpadas, que tornam
macilentas as fotos so como as fotografias, dbeis.
128
BARTHES, 1984, p.125.
116
FIG. 44 Christian Boltanski. Monumento: As crianas de Dijon, 1988 (detalhes)
As lmpadas de um lado, as fotos de outro. Uma a emitir, a outra a capturar, o mesmo
elemento, luz. Luz que se relaciona vida, ao dia. Luz, artificialmente emanada e retida por
artefatos humanos, to extinguveis quanto o nosso olhar, ou mesmo quanto o sol. Devemos
lembrar que no s nesse aspecto que podemos notar uma relativizao e um questionamento
do estatuto do Monumento, da Fotografia, da Histria e, consequentemente da Memria.
No monumento s crianas de Dijon est implcita, como dito anteriormente, a
possibilidade de movimento. Pode ser montado e exibido de diversas formas, em diversos lugares
cidades, museus, igrejas, etc. Isso, graas natureza malevel tanto no que tange a sua
materialidade, quanto ao seu contedo. A fotografia, do ponto de vista material uma
forma memorial mvel, porttil, desenraizada que s se enraza, se mantm pelo valor, pelo
vnculo afetivo a ela aferido.
Por seu turno, o retrato, como gnero, mvel. Dessa vez no mais por implicaes
materiais, mas, sobretudo, culturais e simblicas. Ele tem sido amplamente utilizado e possui
algo de universal. Inmeras culturas, desde as mais antigas civilizaes, tm-no utilizado como
117
forma memorial, em geral, ligados aos ritos fnebres. Na maior parte das vezes, verticalizado
como os monumentos e frontal. O retrato no prescinde de nitidez, de um enquadramento
que d relevo singularidade de cada rosto para que possamos identific-lo como determinada
pessoa. Seja o que for que ela d a ver e qualquer que seja a maneira, uma foto sempre
invisvel: no ela que vemos
129
.
O que Barthes discute aqui a
transparncia da fotografia, ou seja, o fato de no
ser a ela que enxergamos, mas atravs dela.
Alega, com isso, que aquilo que vemos, no um
objeto ou uma imagem formada por uma reao
qumica, o referente mesmo o objeto
desejado, o corpo prezado
130
. Ento o que
geralmente fazemos ao olharmos uma foto
inserir aquele morto paralisado da imagem, de
algum modo, fora da fotografia no continuum da
vida.
FIG. 45 Christian Boltanski. Monumento: As crianas
de Dijon, 1988 (vista da instalao)
Com a fotografia, o valor de exposio comea a empurrar para
segundo plano, em todas as ordens, o valor de culto. O ltimo,
contudo no cede sem resistncia. (...) Na expresso fugidia de um
homem, as antigas fotografias cedem lugar aura, uma ltima vez.
o que lhes proporciona essa beleza melanclica que no
possvel comparar com mais nada.
131
129
BARTHES, 1984, p.16.
130
Ibidem, p.17
131
BENJAMIN Apud DUBOIS, 1993, p.248.
118
por isso que o retrato desempenha, nessa obra, papel fundamental. Entre o culto da
memria das pessoas amadas, os ritos familiares e o culto das celebridades ele ocupa lugar
ambguo entre o pblico e o privado. As fronteiras entre o que particular e o que coletivo so
confundidas. Ao fazer da fotografia a principal e mais difundida tcnica na confeco de retratos,
ser dado ao homem comum o lugar da primazia. Com isso, tornam-se relevantes tambm, seus
ritos familiares, sua histria particular, seu gosto.
Assim, essas centenas de retratos configuram-se, por um lado, como a soma irredutvel de
vrias e distintas infncias, por outro, como a infncia em termos genricos, como lugar
partilhado por todos ns, que o revistamos vez ou outra, saudosa ou dolorosamente. No
Monumento: As Crianas de Dijon, tudo, afinal, parece pertencer a um lugar comum, tudo parece
convergir para questes relativas a todos ns: a morte e o amor.
119
Concluso (ou depois das cinzas)
Cuide, quando pensar em morrer
Para que no haja sepultura revelando onde jaz
Com uma clara inscrio a lhe denunciar
E o ano da morte a lhe entregar
Mais uma vez:
Apague as pegadas!
(Assim, me foi ensinado)
BRECHT
No vai restar nada para apodrecer depois.
Antibitico, esttico, prtico.
BRADBURY
I
A partir de 1999, depois que as casas se tornaram prova de fogo, os bombeiros tiveram
sua funo alterada: ao invs de apagarem incndios, os provocavam (por isso passaram a chamar
suas mangueiras de salamandras). Seus alvos principais eram os livros e as bibliotecas.
Idealizado por Ray Bradbury, o que acontece nesse mundo diferente do Index Librorum
Prohibitorum da Igreja Catlica, que j poderia ser considerado, na melhor das hipteses, um
autoritrio e terrvel mecanismo de controle. Em Fahrenheit 451 no eram incinerados apenas os
livros considerados perniciosos, mas todo e qualquer livro que por ventura existisse. Escrita em
1953, essa distopia conta sobre a perseguio sistemtica e implacvel sofrida por aqueles que se
recusavam a respeitar as normas: no ler, no pensar, no duvidar; se divertir; serem felizes.
A memria o que de mais nocivo pode haver para a sociedade preconizada por Bradbury
em Fahrenheit 451, por isso, tudo que possa ativar, estimular, desenvolver essa faculdade
deveria, nessa distopia, ser banido livros, monumentos, funerais; por isso os passatempos
principais dessa sociedade so passeios de carro em alta velocidade e programas de TV,
120
barulhentos e interativos. tudo para manter a ateno das pessoas longe da atividade reflexiva
e do cio.
Entretanto, restava, fora da cidade, um grupo de pessoas que resistiam e que para manter
os livros, os memorizavam. Assim, cada um dos membros desse grupo passava a ser conhecido
pelo livro ou captulo do livro, do filsofo ou do escritor que representava: a Repblica de Plato,
Gandhi, Lincoln, Darwin, Viagens de Gulliver, o Eclesiastes. Ao fazer equivaler o sujeito ao
livro, Bradbury fala, de vis, do sujeito como sendo, ao mesmo tempo, o suporte em que se
inscreve o arquivo, o lugar onde se armazena o arquivo e o arconte (o guardio do arquivo).
No ano 2000, Rachel Whiteread realizou o Holocaust-Monument, em Viena. Erguido no
centro da J udenplatz em memria morte de centenas de judeus-austracos durante a Segunda
Grande Guerra, esse monumento tambm conhecido como Biblioteca sem nome. Nele, de
forma anloga de Bradbury, a artista faz equivaler as pessoas (no caso as vtimas da Shohar)
aos livros, a comunidade judaica a uma biblioteca. Refere-se perda de vidas como uma perda de
histrias, como a perda de memrias que o prprio monumento d a ver.
Afinal, trata-se de uma biblioteca macia, sem paredes, na qual no podemos adentrar. Os
livros que formam o contorno das paredes tm as suas lombadas voltadas para dentro (da a
biblioteca sem nome). Trata-se de uma biblioteca que nasce de um jogo do preenchimento dos
vazios: molde, contra-molde, negativo, positivo. Uma biblioteca ideal como a Biblioteca de
Babel de Borges, onde todos os volumes possuem o mesmo tamanho: foram dadas, s histrias
ali contidas, as mesmas dimenses, o mesmo peso, a mesma ilegibilidade, a mesma imobilidade
do concreto de que feita. O monumento de Whiteread a lembrana de um vazio
intransponvel, impreenchvel: lembrana de um espao to slido que se torna imagem: s resta
a superfcie da biblioteca para contemplar; no h vos, corredores de estantes que se possam
percorrer.
121
FIG. 46 Rachel Whiteread.Holocaus-Monument (Nameless Library), Vienna, 2000
Ainda, a moldagem, procedimento pelo qual o monumento de Whiteread obtido, traz,
potencialmente, a idia de fazer a ausncia visvel e reprodutvel - como a fotografia. uma
tcnica que torna possvel guardar a memria da forma de um objeto, de decalc-lo e poder
multiplic-lo, de represent-lo, mas no de conservar-lhe qualquer outro contedo: funo,
histria, etc. A Biblioteca sem nome de Whiteread como uma mscara morturia, muda.
II
Assim so as silhuetas que marcam o lugar dos objetos que ficaram por demasiado tempo
em contato com as paredes: espontaneamente, a poeira, a fuligem, o sol, delineiam nas paredes os
contornos dos objetos com manchas escuras; quando retirados, os objetos revelam o desenho de
sua sombra, que foi protegida com o seu prprio corpo da ao do tempo.
122
FIG. 47 Lais Myrrha. Uma Biblioteca para Dibutade, 2006
Foi s como sombra que vi, pela ltima vez, a biblioteca da escola que funcionou durante
cinqenta anos num mesmo endereo e que cede lugar para a ampliao do estacionamento do
prdio vizinho. No podia fazer nada, a no ser constatar a inevitvel demolio que estava por
vir, a no ser tomar as ltimas fotos de alguns espaos e paredes para lembrar. Foi da que
surgiram as fotos que chamei de Uma biblioteca para Dibutade I e II e as que compem o dptico
O auditrio, chamadas O ouvinte eO palestrante.
Nas fotos uma biblioteca para Dibutade I e II, vemos as marcas de estantes e de livros
que um dia estiveram ali, mas que no esto mais. Uma espcie de mise en abme imaginria se
configura, uma foto que mostra o que as fotos do a ver: aquilo que foi. Hoje, essas marcas no
existem mais, apenas como fotografias (que no deixam, elas mesmas, de serem marcas).
123
FIG. 48 Lais Myrrha. O auditrio (O ouvinte), 2006 FIG. 49 Lais Myrrha.O auditrio (O palestrante), 2006
O prprio nome do trabalho fala da ausncia: Dibutade aquela que decalcou, com
carvo, a sombra do corpo de seu amado na parede, para poder guardar a marca de sua presena
fsica ali no seu quarto, depois que ele partisse para a guerra. Essa histria mtica do surgimento
do desenho, que o relaciona a um sentimento de falta, de saudade inscrevendo-o na dinmica
presena-ausncia, acaba por aparent-lo fotografia a que muitos, como Rosalind Krauss,
Phillipe Dubois, Roland Barthes, definem como sendo uma imagem indicial.
Por fim, podemos ver que assim como a Biblioteca de Borges ou a de Whiteread, os livros
que compe minha biblioteca para Dibutade possuem tambm, o mesmo tamanho uns dos
outros. Sobre o seu teor, no podemos dizer nada, pois s podemos ver a runa-imagem de sua
sombra. Mudos, a biblioteca e o auditrio encontram-se arruinados, no contam mais nada.
Smbolos do poder e do conhecimento restam esvaziados. Nos ltimos momentos que precedem a
demolio desses espaos, escutamos a ltima palavra, silncio.
124
III
A queima de livros e bibliotecas tornou-se uma ao emblemtica de regimes opressivos e
do terrorismo de estado. Desde a destruio da biblioteca de Alexandria, passando pelo
aniquilamento dos cdices Maias, at as queimas de livros promovidas pelos nazistas e stalinistas
j no sculo vinte.
Ao transferirmos a memria de nossa civilizao, de nossa cultura, de nosso
conhecimento para os livros, de certa maneira, submetemos tudo isso aos limites desse objeto,
sua temperatura de combusto Fahrenheit 451. Volto a pensar naquela sociedade descrita por
Bradbury, uma sociedade sem memria. Lazer e velocidade eram o que no deveria faltar. Nela
no h espao para a compreenso da durao a literatura tornou-se uma atividade abolida
quase por completo.
A fragilidade dessa sociedade est no fato de ter sido calcada na dependncia de uma
amnsia social e individual, que para ser mantida, necessitava de as pessoas permanecerem num
estado de alienao e de confiana permanente no status-quo; era preciso que elas no soubessem
que estavam vivendo num estado de exceo. A sada para isso seria afast-las, o quanto possvel,
da morte e dos livros, ou seja, da possibilidade da angstia, do medo, da busca de sentido para
sua existncia.
Paradigmaticamente, o protagonista do livro despertado pela tentativa de suicdio de
sua mulher, que, depois de recuperada, no se lembrava de mais nada do que se passara, mas ele
sim. A noo de que estava num mundo que submetia seus habitantes a uma constante perda de
memria o fez se inquietar e acabou gerando um distrbio dentro da ordem estabelecida.
125
O protagonista comea a se diferenciar no momento em que, juntando as pistas, comea a
compreender que a histria na qual acreditava possua falhas, buracos, desvios; e a partir da ele
tentar recompor o fio, e tentar entender onde a durao na qual deveria se contextualizar foi
quebrada. Assim, acaba por gerar uma crise de tais propores, que leva a uma guerra, da qual
restam apenas os habitantes que ficaram vivendo clandestinamente margem da cidade (aqueles
que se dedicaram a memorizar livros e os habitantes dos lugares pobres).
Devemos lembrar que as runas permitem algum sentido de durao, uma conexo com
alguma histria ainda que fragmentria; permitem que delas nasa, segundo o romance de
Bradbury, uma nova sociedade que tentar juntar os cacos, os pedaos daquilo que se perdeu, no
apenas com a guerra, mas antes, com os mecanismos de controle daquela sociedade. As runas
daquele mundo so as esperanas de um mundo redimido, onde o sentido de durao poder ser,
enfim, restabelecido.
IV
Na pgina 140 de A cmara clara, j quase ao final do livro, Barthes fala da era da
fotografia como a era das revolues, das contestaes, dos atentados, das exploses, segundo
ele, de tudo o que denega o amadurecimento. Foi exatamente a negao do amadurecimento que
levou, segundo a verso contada por Beatty (o capito dos bombeiros emFahrenheit 451), aquela
sociedade a adotar o costume de queimar livros. De acordo com esse personagem, as pessoas
saiam do jardim da infncia para a universidade e da de volta para o jardim de infncia
132
. O tipo
de era em que os personagens desse livro parecem viver: uma era de fixao pelas imagens e pela
132
BRADBURY, 1988, p. 63
126
velocidade, da desconsiderao do valor da vida e do que viver implica: a pacincia, a angstia e
a morte.
A civilizao descrita nesse livro uma civilizao da imagem: a famlia a TV. Atravs
das paredes, as pessoas assistem aos programas (e acreditam participar deles); acompanham, ao
vivo, s perseguies contra os rebeldes; foi nessas paredes que imagino como as atuais tevs
de tela plana que as pessoas assistiram estarrecidas perseguio ao bombeiro Montag,
culminando no que elas acreditaram ter sido sua captura.
No mostraram o rosto do homem com nitidez (...) desfocaram a imagem na medida
exata para deixar a imaginao correr
133
, concluiu Granger, depois de assistir todo o mise en
scne na TV ao lado do prprio Montag. Afinal, o importante era que houvesse uma captura que
soasse como uma punio exemplar, mesmo que no passasse do sacrifcio de um bode
expiatrio; a captura no precisava ser real, mas antes, parecer real.
Essa distopia, embora acontea num futuro relativamente distante, pelo menos em relao
poca em que foi escrita, descreve um mundo que possui uma f cega nas imagens, uma
populao acrtica, cujas disciplinas humanas foram banidas das escolas, onde o amor foi abolido
e com ele, a saudade e a sensao de finitude, as atividades intelectuais cessaram: uma poca
desumanizada.
Suspeito que um dos maiores instrumentos de desumanizao dessa sociedade idealizada
por Bradbury, tenha sido no a queima de livros, mas a negao e o ocultamento da morte como
fica explicito nesta passagem:
Cinco minutos depois de morrer, um homem um punhado de
poeira negra. No vamos incomodar as pessoas com monumentos.
melhor a gente esquec-las. Queimar todos, queimar tudo. O fogo
claro e limpo
134
.
133
BRADBURY, 1988, p. 156
134
Ibidem, p.168
127
Aqui, a aniquilao do corpo serve de mecanismo para conjurar os impulsos
memorialsticos e os rastros que podem provocar o surgimento de reminiscncias. O
soerguimento de memoriais e a presena de runas podem ser demasiado perigosos para um
mundo que deseja afastar a formao de vnculos afetivos e a produo de memrias, de
histria(s).
V
Escrito no ps-guerra (em 1953), Fahrenheit contm uma srie de temas que poderamos
relacionar aos escritos de Benjamin mesmo considerando as referncias crists de que
Bradbury lana mo e do fato de, algumas vezes, esses temas aparecerem de forma negativa.
A queima dos livros em Fahrenheit 451 encarna de maneira emblemtica o fim das
narrativas, assim como o banimento da figura do moribundo o esconjuramento da morte
para longe dos olhos dos vivos. Para Benjamin o fim das narrativas estava, entre outras coisas,
vinculado negao da morte nas modernas sociedades. Para ele, nesse momento singular, no
limiar da morte (a ltima travessia), quando no interior do agonizante desfilam inmeras
imagens (...) que o inesquecvel aflora de repente em seus gestos e olhares conferindo a tudo
que lhe diz respeito aquela autoridade que mesmo um pobre-diabo possui ao morrer
135
.
Autoridade essa que estaria, segundo Benjamin, na origem da narrativa.
Assim, ao serem legados aos asilos e, aos hospitais, os velhos, os doentes e os moribundos
desaparecem da cena da vida moderna e a morte torna-se um verdadeiro tabu. Hoje, costume os
mdicos dizerem entre si fulano parou, ou seja, deixou de funcionar, como uma mquina, como
135
BENJAMIN, 1985, v.1 p.207
128
uma coisa; ao substiturem as palavras morreu ou faleceu por parou acabam por indicar
como a morte tem sido recalcada nas modernas sociedades capitalistas.
Outros temas que atravessam Fahrenheit e que aparecem em Benjamin so o
esvaziamento da cidade do qual o autor fala a partir das fotos de Atget , a circunscrio do
sujeito ao seu mundo privado (que est sob vigilncia) sua residncia , e o afastamento
dos pobres para fora e para longe das cidades. o que podemos perceber nos textos Paris do
Segundo Imprio e Alguns temas em Baudelaire. No entanto devemos lembrar que em Bradbury
h uma uniformizao totalizante, o indivduo, centro do romantismo moderno de que nos fala
Benjamin, no mais existe (nem deve existir), no h movimento algum de introspeco, de
rememorao: dessa sociedade no nascer nenhum romancista, nenhum artista.
Por fim, temos a perda da memria, e a configurao de uma sociedade do olvido, que,
nas ltimas pginas de Fahrenheit redimida por sua destruio e pela substituio de sua
populao pelos ento excludos, como diria Benjamin, pelos vencidos e esquecidos , por
aqueles que se mantiveram como fiis guardies da tradio contida nos livros que foram signo
de uma civilizao perdida. Nessa histria, quando cada pessoa passa a ser conhecida pelo livro
que memorizou, o que acontece uma espcie de volta, de retorno tradio oral:
Passaremos os livros para os nossos filhos,, oralmente, e
deixaremos que nossos filhos sirvam, por sua vez, a outras pessoas.
Muita coisa vai se perder no processo, claro. Mas no se pode
obrigar as pessoas a prestarem ateno
136
.
Para conservarem o conhecimento que detinham, precisavam de outras pessoas para quem
pudessem transmiti-lo e, desse modo, o que ocorre, uma retomada da reminiscncia que funda
a cadeia da tradio, e responsvel por transmitir os conhecimentos de gerao em
136
BRADYBURY, 1988, p.159
129
gerao
137
. Tudo isso s se torna possvel a partir do momento em que a cidade, onde no era
lcito deixar rastros, foi destruda.
, portanto, a partir de um mundo em runas, que emergir a esperana de um novo
mundo; um mundo construdo a partir de fragmentos, de cacos do passado que caber aos
vencidos de outrora recolher. Um deles, Montag, o bombeiro desertor, que ao ver a cidade em
runas, profere as seguintes palavras:
No meio da sua praa, e de um e de outro lado do rio, estava a
rvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de ms em
ms; e as folhas da rvore so para a sade das naes
138
.
Esse texto que parte do livro do Apocalipse , sem dvida, uma mensagem de esperana.
Cheia de promessas, essas palavras, na Bblia, vm aps uma narrativa atroz onde anunciada
toda a sorte de destruio, pestes e de guerras que acometeriam em breve a terra e os infiis
que nela vivem. Ainda, a esse trecho, parte do ltimo captulo do Apocalipse, se sucede uma srie
de ameaas queles que ousarem adulterar, de algum modo as palavras daquele livro:
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia
deste livro que, se algum lhes acrescentar alguma coisa, Deus far
vir sobre ele as pragas que esto escritas neste livro;
E, se algum tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus
tirar a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas
que esto escritas neste livro
139
.
De acordo com o que consta na Bblia, essas palavras foram proferidas pelo prprio
Messias dos cristos, J esus, ao profeta J oo, que por sua vez, as transcreveu para que pudessem
ser guardadas e transmitidas aos povos. Assim, contrariando o desgnio do Senhor, os livros
que continham tal profecia foram queimados pela corporao dos bombeiros que Montag
137
BENJAMIN, 1985, v.1 p. 211
138
Apocalipse(22:2) Apud Bradbury, 1985, p. 171
139
Apocalipse(22:18 e 22:19)
130
abandona. Convertendo-se num pecador arrependido , pelo seu arrependimento, redimido: afinal
foi ele quem guardou as ltimas palavras de J esus e assim pode se livrar da maldio bblica.
Ao fim, a histria de Bradbury deixa entrever seu forte vnculo com a tradio ocidental
crist; vnculo este que revelado pelo final teologizante do livro e, porque no dizer,
moralizante. Se seguissemos o pensamento de Benjamin sobre o que diferencia a nativa
tradicional do romance, veramos que Bradbury est mais ligado tradio da narrao e do que
ao romance
140
. Pois, de acordo com Benjamin, uma das principais diferenas entre o romance e a
narrativa seria que o primeiro gira em torno do sentido da vida e a outra, a narrativa tradicional,
em torno da moral da histria
141
.
FIG. 50 Flix Gonzlez-Torres. "Untitled"(America), 1994
140
importante destacar que Benjmin chama narrativas s histrias derivadas da tradio oral, em que o narrador
conta acontecimentos baseados em experincias suas ou de outras pessoas, e que traduzem situaes exemplares,
passveis de se constiturem em ensinamentos. J o romance, para ele, tem, em sua origem, "o indivduo isolado, que
no pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupaes mais importantes e que no recebe conselhos nem sabe
d-los." (BENJAMIN, 1994, v.1, p. 201)
141
BENJAMIN, 1994, v.1, p. 212
131
O autor argumenta ainda que numa narrativa a pergunta o que aconteceu depois?
plenamente justificada
142
, mas que no caso do romance o que ocorre o contrrio, pois, no
possvel dar nenhum passo alm daquele limite em que, escrevendo na parte inferior a palavra
fim, convida o leitor a refletir o sentido de uma vida
143
. Vida esta que j teve todo seu sentido
traado, definido.
VI
Resta-nos agora retomarmos as reflexes sobre aquelas formas memoriais, que desde o
incio dessa dissertao, nos acompanharam: a fotografia e o monumento. Espero que essas
derradeiras consideraes possam dar ver a rede que em ltima instncia todas as histrias desse
texto constituem entre si: uma articulando-se na outra
144
.
Seria possvel traarmos um ltimo paralelo que liga o Monumento narrao e a
Fotografia ao romance. Ao falarmos sobre a histria que originou um Monumento podemos
perguntar o que aconteceu depois, mas sobre uma fotografia no: a ela nada se pode
acrescentar
145
.
Por um lado os Monumentos tm muitas vezes, um objetivo moralizante, referem-se a um
personagem ou a um episdio, histrico ou simblico, exemplar, como as histrias contadas pelos
narradores. Por outro, a fotografia, assim como o romance, faz-nos confrontar com aquilo que
seria o sentido da vida. Aquilo, que Benjamin fala sobre o romance, bem poderia ser aplicado s
142
BENJAMIN, 1985, v.1 p. 213
143
Ibidem
144
Ibidem, p.211
145
BARTHES, 1984, p.103
132
fotos: que o sentido da sua vida, ou seja, da vida ali representada, somente se revela a partir de
sua morte
146
.
Para ilustrar essa propriedade dos romances, o autor cita um certo Moiritz Heimann que
teria dito que, um homem que morre com trinta e cinco anos em cada momento de sua vida um
homem que morre com trinta e cinco anos. Benjamin, completa dizendo que isso no faria
nenhum sentido se fosse aplicado vida real, mas que se torna incontestvel com relao vida
lembrada
147
. Eis aqui o esmagamento do Tempo do qual nos fala Barthes em A cmara clara,
sobretudo na passagem que dedica a uma foto de 1865 onde aparece um belo jovem condenado
morte. A essa imagem o autor acrescenta a seguinte legenda: Ele est morto e vai morrer
148
. O
que atrai Barthes para essa imagem justamente aquilo que alimenta o interesse absorvente do
leitor
149
do romance:
(...), o romance no significativo por descrever
pedagogicamente o destino alheio, mas porque esse destino
alheio, graas chama que o consome, pode dar-nos o calor
que no podemos encontrar no nosso prprio destino. O que
seduz o leitor do romance a esperana de aquecer sua vida
gelada com a morte descrita no livro
150
.
O que produz o aquecimento da vida do leitor do romance mais ou menos anlogo ao que
atra Barthes para a fotografia do jovem condenado pena de morte. Olhar para a foto de algum
que j est morto ou ler um romance que conta a trajetria de uma vida j interrompida, provoca
um certo pavor, mas, ao mesmo tempo, um certo fascnio: estamos diante de algo que j se
cumpriu, que no est mais, e que por isso possvel dominar. Ver o sentido de uma vida
146
BENJAMIN, 1985, v.1 p.214
147
BENJAMIN, 1985, v.1 p.213 Et seq.
148
BARTHES, 1984, p.142
149
BENJAMIN, 1985, vol.I p.214
150
Ibidem
133
inteira completa, fazer um balano. Balano que nunca poderemos fazer de nossa prpria
vida. Nunca poderemos falar de nossa morte, signific-la.
VII
O que motivou a escrita desse texto, foi um trecho de A cmara clara que citei j no
primeiro captulo. Nele, Barthes fala da substituio do Monumento pela Fotografia como nossa
forma memorial predominante e nos diz que a Fotografia deve estar, historicamente, relacionada
com a crise da morte, que de acordo com ele se inicia em meados do sculo XIX. Uma vez que
nas modernas sociedades ocidentais, a Morte no est mais (ou est menos) no religioso, ele
supe que agora talvez ela se encontre na fotografia: talvez nessa imagem que produz a Morte
ao querer conservar a vida
151
.
Depois, de lamentar que o espanto causado pelo isso foi da fotografia desaparecer, e que
talvez j tenha desaparecido; fala de si como uma de suas ltimas testemunhas (testemunha do
inatual) e de seu livro, A cmara clara, como seu trao arcaico
152
.
O que Barthes lamenta, no fundo, a perda da noo do memento mori. Perda que ele
tenta repor ao escrever seu livro. E que os artistas econvocados a participar deste texto, ao seu
modo, tambm tentaram. Barthes, Renn, Boltanski, Beuys, Nan Goldin, Whiteread, Hiller,
Gonzlez-Torres, Kawara, entre tantos outros que ficaram de fora, como Anselm Kiefer com sua
biblioteca de livros de chumbo, macios, txicos, protetores e ilegveis a dizer:
Lembra-te que morrers.
151
BARTHES, 1984, p.138
152
Ibidem, p. 140
134
135
Referncias
Bibliogrficas
ARENDT, Hannah. A condio Humana. Trad.Roberto Raposo. Rio de J aneiro : Forense-
Universitaria: Salamandra, 1981.
AULT, J ulie. Felix Gonzalez-Torres : edited by J ulie Ault. Gttingen : SteidlDangin, 2006.
BARTHES, Roland. A cmara clara. Trad. J lio Castaon Guimares. Rio de J aneiro: Nova
Fronteira, 1984.
BARTHES, Roland. Michelet. Trad. Paulo Neves. So Paulo: Companhia das Letras, 1991.
BARTHES, Roland. Mitologias. Trad. Rita ] e Pedro de Souza. Rio de J aneiro: DIFEL, 1978.
BARTHES, Roland. O bvio e o obtuso. Trad. Leyla Perrone-Moiss. So Paulo: Companhia das
Letras, 2004.
BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. Trad. La Novaes. Rio de J aneiro:
Nova Fronteira, 2003.
BATTCOCK, Gregory (Org.). La idea como arte: documentos sobre el arte conceptual. Trad.
J ulio de Ass. Barcelona: G.Gilli, 1977.
BAUDRILLARD, J ean. Tela Total: mito-ironias da era do virtual e da imagem. Org. e Trad.
J uremir Machado da Silva. Porto Alegre: Ed. Sulina, 1997.
BENJ AMIN, Walter. Magia e tcnica, arte e poltica; ensaios sobre literatura e histria da
cultura. Trad. Sergio Paulo Rouanet. So Paulo, Brasiliense, 1985. (Obras Escolhidas v.1)
BENJ AMIN, Walter. Rua de mo nica. Trad. Sergio Paulo Rouanet. So Paulo, Brasiliense,
1995. (Obras Escolhidas v.2)
BENJ AMIN, Walter. Charles Baudelaire um lrico no auge do capitalismo. Trad. Sergio Paulo
Rouanet. So Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras Escolhidas v.3)
BENJ AMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mouro. Belo
Horizonte: Ed. UFMG e So Paulo: Imprensa Oficial do Estado de So Paulo, 2006.
136
BOLTANSKI, Christian. Kaddish. Munique: Kehayoff Verlag, 1998.
BOURRIAUD, Nicolas. Esthtique Relationnelle. Paris: Presses du rel, 1998.
BOURRIAUD, Nicolas. Post-Produccin. Buenos Aires : Adriana Hidalgo Editora, 2004.
BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451. Trad. Donaldson M. Garschanen. So Paulo:
Melhoramentos, 1988.
BRASSA. Proust e a fotografia. Trad. Andr Telles. Rio de J aneiro: J orge Zahara, 2005.
BORER, Alain e SCHIRMER, Lothar. Joseph Beuys por Alain Borer. Trad. Betina Bischot e
Nicols Campanrio. So Paulo: Cosac & Naify, 2001.
BERGER, Berger. Modos de ver. So Paulo, Martins Fontes, 1972.
BORGES, J orge Luis. O Aleph in BORGES, J orge Luis. O Aleph. Trad. Flvio J os Cardozo.
So Paulo: Ed. Globo, 2001.
BORGES, J orge Luis. Fices. Trad. Carlos Nejar. So Paulo: Ed. Globo, 2001.
CALVINO, talo. As aventuras de um fotgrafo in CALVINO, talo. Amores difceis. Trad.
Raquel Ramalhete. So Paulo: Companhia das Letras, 1992.
CALVINO, talo. As cidades e o cu 3 in CALVINO, talo. As cidades invisveis. Trad. Diogo
Mainardi. So Paulo: Companhia das Letras, 1995.
CALVINO, talo. O dia de um escrutinador Trad. Roberta Barni. So Paulo: Companhia das
Letras, 2002.
CAMERON, Dan. Entre as linhas. In: RENN, Rosngela. Hipocampo. Catlogo da Exposio.
So Paulo: Galeria Camargo Vilaa, 1995.
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. Trad. Reginaldo Carmello
Corra de Morais. So Paulo: Ed. UNESP/ Imprensa Oficial do Estado, 1999.
CHEVALIER, J ean; GHERRBRANT, Alain. Dicinrio de smbolos: mitos, sonhos, costumes,
gestos, formas, cores, nmeros. Trad. Vera da Costa e Silva, Raul de S Barbosa, ngela Melim
e Lcia Melim. Rio de J aneiro: J os Olympio, 1997.
CHIPP, Herschel B. (Org.). Teorias da arte moderna. Trad. Waltensir Dutra et al. So Paulo:
Martins Fontes,1988.
COMPAGNON, Antoine. Os cinco paradoxos da modernidade. Belo Horizonte: Editora da
UFMG, 1996.
137
DEBRAY, Rgis. Vida e da imagem: um histria do olhar no Ocidente. Petrpolis: Ed. Vozes,
1994.
DERRIDA, J acques. Mal de arquivo: uma impresso freudiana. Trad. Cudia Morais Rego. Rio
de J aneiro: Relume Dumar, 2001. (Conexes)
DICIONRIO Aurlio Buarque de Hollanda.
DUBOIS, Philippe. O ato fotogrfico e outros ensaios. Traduo Marina Appenzeller. Campinas,
SP: Papirus, 1993.
FABRIS, Annateresa (Org.). Fotografia: usos e funes no sculo XIX. So Paulo: EDUSP,
1991. (Texto & Arte, 3).
FLUSSER, Vilm. A filosofia da caixa preta. Rio de J aneiro: Relume Dumar, 2002. (Conexes)
FOSTER, Hal. Recodificao; arte, espetculo, poltica cultural. Trad. Duda Machado. So
Paulo: Casa Editorial Paulista, 1996.
FOSTER, Hal. The return of the real: the avant-garde at the end of the century. Cambridge: The
MIT Press, 1996.
FOUCAULT, Michel. Isto no um cachimbo. Trad. J orge Coli. Rio de J aneiro: Paz e Terra,
1988.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das cincias humanas. Trad.
Salma Tannus Muchail. So Paulo: Martins Fontes, 1981.
GAGNEBIN, J eanne Marie. Histria e narrao em Walter Benhjamin. So Paulo: Perspectiva,
2004. (Debates)
GOLDIN, Nan. The ballad of sexual dependency. New York: Aperture, 1989.
GRUZINSKI, Serge. A guerra das imagens: de Colombo a Blade Runner (1492-2019). Trad.
Rosa Freire dAguiar. So Paulo: Companhia das Letras, 2006.
GUMPERT, Lynn. Christian Boltanki. Paris: Flamarion, 1994.
HUYSSEN, Andras. En busca del futuro perdido. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 2002.
HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memria: arquitetura, monumentos, mdia. Trad. Srgio
Alcides. Rio de J aneiro, Aeroplano, 2000.
HUYSSEN, Andras. Memrias do Modernismo. Rio de J aneiro: Editora da UFRJ , 1999.
138
BEUYS, J oseph. Cata logo da exposio no Museu de Arte da Pampulha: Os mltiplos de Beuys:
Joseph Beuys na coleo Paola Calacurcio.
KRAUSS, Rosalind. Notes on the index: Seventies art in America. Nova York, MIT Press, 1977.
(October n3 [parte 1] e n 4 [parte 2] ).
KRAUSS, Rosalind. O fotogrfico. Trad. Anne Marie Dave. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
MACHADO, Arlindo. A iluso especular; introduo fotografia. So Paulo: Brasiliense,
1984.
MALRAUX, Andr. O museu imaginrio. Lisboa: Edies 70, s/d. (Arte e Comunicao)
MANGUEL, Alberto. Lendo Imagens.Trad. Rubens Figueiredo, Rosaura Eichemberg e Cludia
Strauch. So Paulo: Companhia das Letras, 2001.
MELENDI, Maria Anglica. Bibliotheca: Uma reserva de recordaes in RENN, Rosngela. O
Arquivo Universal e outros arquivos. So Paulo: Cosac & Nayfi, 2003.
MELENDI, Maria Anglica. Recuerdos Ajenos .in: Bibliotheca. Barcelona: Gustavo Gilli, 2003.
PEDROSA, Mrio. Mundo, Homem, Arte em crise (org.) Aracy Amaral. So Paulo: Perspectiva,
1986. (Debates)
PERNIOLA, Mario. Pensando o ritual. Sexualidade, morte, mundo. So Paulo: Studio Nobel,
2002.
PUNTO DE VISTA ( n 56). Variaciones sobre la memoria. Buenos Aires: 1996.
PUNTO DE VISTA ( n 64). Desaparecidos: Lugar de memoria, conflicto de interpretacin.
Buenos Aires: 1999
PUNTO DE VISTA (n 68). Arte y politica de la memria: relatos, smbolos, reconstrucciones.
Buenos Aires: 2000
RENN, Rosngela. O arquivo universal e outros arquivos. So Paulo: Cosac Naif, 2003.
RENN, Rosngela. Depoimento. Coleo Circuito Atelier. Belo Horizonte, c/Arte, 2003.
RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa.Tomo I. Trad. Marina Appenzeler. Campinas, SP: Papirus,
1995.
RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa.Tomo II. Trad. Marina Appenzeler. Campinas, SP: Papirus,
1995.
139
SANTOS, Luis Alberto Brando. Sujeito, tempo e espaos ficcionais: introduo teoria da
literatura. So Paulo, Martins Fontes, 2001.
SELIGMANN-SILVA, Mrcio. A redescoberta no realismo mgico in BENJ AMIN, Walter. O
conceito de crtica de arte no Romantismo alemo. So Paulo: Ed. Iluminuras, 1999.
SEMIN, Didier, BOLTANSKI, Christian, GARB, Tamar. KUSPIT, Donald B.. Christian
Boltanski / Didier Semin, Tamar Garb, Donald Kuspit. London: Phaidon, 1997. (Conteporary
artists)
SEMIN, Didier, BOLTANSKI, Christian, GARB, Tamar. KUSPIT, Donald. Christian Boltanski
/ Didier Semin, Tamar Garb, Donald Kuspit. London: Phaidon, 1997. (Conteporary artists)
SILVESTRI, Graciela. Memria y monumento in Punto de Vista, n64. Buenos Aires, 1999.
SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. Trad. So Paulo: Cia das Letras, 2003.
SONTAG, Susan. Ensaios sobre a Fotografia. Trad. J oaquim Paiva. Rio de J aneiro, Arbor, 1983.
WATKINS, J onathan, DENIZOT, Rene e KAWARA, On. On Kawara / Jonathan Watkins,
"Tribute" Ren Denizot. London ; New York : Phaidon, 2002. (Conteporary Artists)
Do meio eletrnico
DICIONRIO HOUAISS ELETRNICO
FOUCAULT, Michel. De espacios otros in http//:www.bazaramericano.com
http://benjiart.free.fr/cb/introductions_aux_oeuvres.htm
http://www.artnexus.com
http://www.bazaramericano.com
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-boltanski/ENS-boltanski.htm
http://www.exporevue.org/images/magazine/1702voisin_boltanski.jpg
http://www.wikipedia.org
140
You might also like
- Discursos críticos através da poética visual de Márcia X.: 2ª ediçãoFrom EverandDiscursos críticos através da poética visual de Márcia X.: 2ª ediçãoNo ratings yet
- A Reserva Dos Suiços MortosDocument5 pagesA Reserva Dos Suiços MortosKennedy SaldanhaNo ratings yet
- ARTIGO - CEBRAP - Adorno - e - o - Expressionismo Abstrato PDFDocument22 pagesARTIGO - CEBRAP - Adorno - e - o - Expressionismo Abstrato PDFCarlaAppollinarioNo ratings yet
- SONTAG, Susan. Na Caverna de Platão in Sobre FotografiaDocument13 pagesSONTAG, Susan. Na Caverna de Platão in Sobre FotografiaFilipe Affonso VelosoNo ratings yet
- Dossier Heidegger - Arte e Espaço PDFDocument75 pagesDossier Heidegger - Arte e Espaço PDFEdney CavalcanteNo ratings yet
- ANPAP 2020 Accepted Papers AbstractsDocument27 pagesANPAP 2020 Accepted Papers AbstractsVinícius LugeNo ratings yet
- Annateresa Fabris - Diálogos Entre Imagens PDFDocument13 pagesAnnateresa Fabris - Diálogos Entre Imagens PDFLuciano LanerNo ratings yet
- Derrida-Archivo y Mal de ArchivoDocument17 pagesDerrida-Archivo y Mal de ArchivoAna RappNo ratings yet
- Autoral Aula2 2018Document90 pagesAutoral Aula2 2018niwonderland100% (1)
- MPB Marginais Anos ChumboDocument224 pagesMPB Marginais Anos ChumboThomas CostelloNo ratings yet
- A Lição de KahnweilerDocument23 pagesA Lição de KahnweilerWilliam Funes100% (1)
- A Magia Da Imagem - GullarDocument2 pagesA Magia Da Imagem - Gullarodranoel2014No ratings yet
- Linda Nochlin - Mulheres, Arte e PoderDocument71 pagesLinda Nochlin - Mulheres, Arte e PoderLeonardo NonesNo ratings yet
- Alain Badiou Pequeno Manual de InesteticDocument94 pagesAlain Badiou Pequeno Manual de InesteticalessandroluzlearnNo ratings yet
- 02 Vanguardas Tardias e NeovanguardasDocument3 pages02 Vanguardas Tardias e NeovanguardasvaldrianaNo ratings yet
- O Sismógrafo da CulturaDocument17 pagesO Sismógrafo da CulturaDmitry KalinichenkoNo ratings yet
- Arte Moderna (Giulio Carlo Argan) (Z-Library)Document726 pagesArte Moderna (Giulio Carlo Argan) (Z-Library)Liz100% (1)
- A Filosofia de Andy Warhol PDFDocument29 pagesA Filosofia de Andy Warhol PDFDrica NovoNo ratings yet
- Expressionismo - Parte 1Document5 pagesExpressionismo - Parte 1Jamaira Jurich PillatiNo ratings yet
- Yves Klein e o Novo RealismoDocument20 pagesYves Klein e o Novo RealismoAntonio BorgesNo ratings yet
- Imaginário 06 2000 - PercepçãoDocument206 pagesImaginário 06 2000 - PercepçãoRob Hoo100% (1)
- Resenha - Natacha - Quando A Forma Se Transformou em Atitude e AlémDocument3 pagesResenha - Natacha - Quando A Forma Se Transformou em Atitude e AlémNatacha SouzaNo ratings yet
- 01 Do Mito Do Bom Selvagem 19n2Document9 pages01 Do Mito Do Bom Selvagem 19n2marianaNo ratings yet
- Krauss, Rosalind - Stieglitz Ou Os EquivalentesDocument13 pagesKrauss, Rosalind - Stieglitz Ou Os EquivalentesMarcos MartinsNo ratings yet
- AUT5836Document5 pagesAUT5836TucaVieiraNo ratings yet
- Transtemporalidade: avizinhando contextos históricosDocument5 pagesTranstemporalidade: avizinhando contextos históricosVinícius SchuchterNo ratings yet
- Imagem & Magia: Fotografia e Impressionismo - Um Diálogo ImagéticoDocument20 pagesImagem & Magia: Fotografia e Impressionismo - Um Diálogo Imagéticofrjefferson100% (1)
- O Impacto Do Ensino Da Arte (Ou Da Falta Dele) Na Percepção Do Mundo - Camille PagliaDocument3 pagesO Impacto Do Ensino Da Arte (Ou Da Falta Dele) Na Percepção Do Mundo - Camille PagliaRogério Rauber100% (1)
- IARA - PATRICIA - A Imagem Como Experimento - LivroDocument159 pagesIARA - PATRICIA - A Imagem Como Experimento - LivroCarolina Machado Dos SantosNo ratings yet
- Uma Arque-Genealogia Do Cyberpunk - Adriana AmaralDocument328 pagesUma Arque-Genealogia Do Cyberpunk - Adriana AmaralCibercultural100% (1)
- Ana Godoy - Menor Das Ecologias 2Document12 pagesAna Godoy - Menor Das Ecologias 2Ana GodoyNo ratings yet
- Ilana Goldstein - Autoria, Autenticidade e ApropriaçãoDocument27 pagesIlana Goldstein - Autoria, Autenticidade e ApropriaçãoFrederico BertaniNo ratings yet
- A Crítica de Arte PDFDocument29 pagesA Crítica de Arte PDFlucampanaNo ratings yet
- O desenho como fenômeno complexoDocument61 pagesO desenho como fenômeno complexodiogo.chagas02No ratings yet
- A presença fantasmagórica na fotografia pós-modernaDocument8 pagesA presença fantasmagórica na fotografia pós-modernaJim MorrisonNo ratings yet
- Análise e Identificação de Obras de Arte - 2012 PDFDocument133 pagesAnálise e Identificação de Obras de Arte - 2012 PDFAnastaciaNo ratings yet
- Cultura Celta Vida e MorteDocument2 pagesCultura Celta Vida e MorteMauricio Ferreira100% (3)
- Difícil É o ReinoDocument70 pagesDifícil É o ReinoMarcus Antonio Assim LimaNo ratings yet
- Entrevista com W. J. T. Mitchell sobre iconologia críticaDocument17 pagesEntrevista com W. J. T. Mitchell sobre iconologia críticaLeonardo Guarani Kaiowá Silva DiasNo ratings yet
- Experiência Histórica e Poesia Brasileira nos Anos 70Document390 pagesExperiência Histórica e Poesia Brasileira nos Anos 70Jucely RegisNo ratings yet
- A manifestação do presente antes da especulaçãoDocument9 pagesA manifestação do presente antes da especulaçãoÍcaro Moreno RamosNo ratings yet
- BESSE - Vapores No CéuDocument2 pagesBESSE - Vapores No CéuDenis JoelsonsNo ratings yet
- O visível, o invisível e o ofuscado na arteDocument3 pagesO visível, o invisível e o ofuscado na arteAntonio Herci Ferreira JuniorNo ratings yet
- Publicações Da Cinemateca PortuguesaDocument27 pagesPublicações Da Cinemateca PortuguesaWilliamConde0% (1)
- Estilo e Época: A busca por um novo estilo arquitetônicoDocument11 pagesEstilo e Época: A busca por um novo estilo arquitetônicoAline Beatriz de Souza100% (1)
- A formação da identidade umbaraense através da educaçãoDocument118 pagesA formação da identidade umbaraense através da educaçãoMilena Aparecida ChavesNo ratings yet
- A edição fotográfica como construção de narrativasDocument16 pagesA edição fotográfica como construção de narrativasvaleciaribeiroNo ratings yet
- A linha que contorna TarsilaDocument107 pagesA linha que contorna TarsilaElaine LimaNo ratings yet
- Resenha Joel Martins - Ed PoiesisDocument2 pagesResenha Joel Martins - Ed PoiesisconradoNo ratings yet
- A Apologia Da Paisagem e A Crítica Do Retrato - BaudelaireDocument10 pagesA Apologia Da Paisagem e A Crítica Do Retrato - BaudelaireLilith_11No ratings yet
- A Fotografia Como Exercicio Do OlharDocument14 pagesA Fotografia Como Exercicio Do OlharGustavo Salvador100% (1)
- Resenha sobre o livro A imagem sobrevivente de Didi-Huberman sobre a obra de Aby WarburgDocument5 pagesResenha sobre o livro A imagem sobrevivente de Didi-Huberman sobre a obra de Aby Warburgbeatriz vasconcelosNo ratings yet
- BORIS GROYS Universalismo FracoDocument8 pagesBORIS GROYS Universalismo FracoMarcella A. MoraesNo ratings yet
- FUC - Avaliação e Peritagem de Obras de Arte 1º Semestre 2016 - 2017 - ISCTE-IUL - ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa PDFDocument1 pageFUC - Avaliação e Peritagem de Obras de Arte 1º Semestre 2016 - 2017 - ISCTE-IUL - ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa PDFRômulo GonzalesNo ratings yet
- As Cores e Os Figurinos Nos Filmes de Pedro AlmodóvarDocument11 pagesAs Cores e Os Figurinos Nos Filmes de Pedro AlmodóvarHelena MarquesNo ratings yet
- Dissertacao Rubem BarrosDocument208 pagesDissertacao Rubem BarrosHelgaPeresNo ratings yet
- As Influencias Da Arte Africana GilsonDocument8 pagesAs Influencias Da Arte Africana GilsonAmanda Grasiele RamosNo ratings yet
- Arte negativa para um país negativo: Antonio Dias entre o Brasil e a EuropaFrom EverandArte negativa para um país negativo: Antonio Dias entre o Brasil e a EuropaNo ratings yet
- Páginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasFrom EverandPáginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasNo ratings yet
- Algumas Considerações Sobre A Ratio Studiorum e A Educação JesuítaDocument10 pagesAlgumas Considerações Sobre A Ratio Studiorum e A Educação JesuítaNahim Carvalho SilvaNo ratings yet
- Mikhail BirthDocument2 pagesMikhail BirthFranklin Dias RochaNo ratings yet
- Educação e Reconstrução SocialDocument5 pagesEducação e Reconstrução SocialFranklin Dias RochaNo ratings yet
- Kultivi Cursos Gratuitos - Francês - Plano de Estudos PDFDocument27 pagesKultivi Cursos Gratuitos - Francês - Plano de Estudos PDFMarianaMoreiraAndradeNo ratings yet
- TarotDocument96 pagesTarotLoahNo ratings yet
- Oferta Extra de Disciplinas - 1º LoteDocument3 pagesOferta Extra de Disciplinas - 1º LoteFranklin Dias RochaNo ratings yet
- Regras Do XadrezDocument12 pagesRegras Do XadrezMaria Luiza Correia FernandesNo ratings yet
- Queilinha BirthDocument2 pagesQueilinha BirthFranklin Dias RochaNo ratings yet
- 1982 6621 Edur 35 E214631 PDFDocument20 pages1982 6621 Edur 35 E214631 PDFGiovanni AtaídeNo ratings yet
- Xadrez - Apostila 1 PDFDocument10 pagesXadrez - Apostila 1 PDFmgv20140% (1)
- O Ensino Jesuítico No Período ColonialDocument21 pagesO Ensino Jesuítico No Período ColonialTata FreitasNo ratings yet
- John DeweyDocument136 pagesJohn DeweyMara BrumNo ratings yet
- Libras Apostila PDFDocument51 pagesLibras Apostila PDFjasj1960100% (1)
- O que são escolas para? A aquisição de conhecimento poderosoDocument16 pagesO que são escolas para? A aquisição de conhecimento poderosoIsaque Jp100% (2)
- Livros e autores lidosDocument5 pagesLivros e autores lidosDenílsonNo ratings yet
- Sugestões de Atividades Port - SurdosDocument119 pagesSugestões de Atividades Port - SurdosEstrela da ManhãNo ratings yet
- Documentos de Identidade, Uma Introdução Às Teorias Do Currículo by Tomaz Tadeu Da Silva (Z-Lib - Org) - 1Document77 pagesDocumentos de Identidade, Uma Introdução Às Teorias Do Currículo by Tomaz Tadeu Da Silva (Z-Lib - Org) - 1Franklin Dias RochaNo ratings yet
- 1001 Livros para Ler Antes de MorrerDocument30 pages1001 Livros para Ler Antes de MorrerLorena Nazar0% (1)
- Tecnologia e Educação na PandemiaDocument7 pagesTecnologia e Educação na PandemiaFranklin Dias RochaNo ratings yet
- Segredos de criançaDocument5 pagesSegredos de criançaUMBERTOGYNNo ratings yet
- Gibi Da Mesada PDFDocument16 pagesGibi Da Mesada PDFJoyce LeonNo ratings yet
- Edital credencia artistas Programa VocacionalDocument28 pagesEdital credencia artistas Programa VocacionalFranklin Dias RochaNo ratings yet
- FranklinDocument5 pagesFranklinFranklin Dias RochaNo ratings yet
- 54 Misterio Na BibliotecaDocument11 pages54 Misterio Na Bibliotecamarcopires2No ratings yet
- Queilinha BirthDocument2 pagesQueilinha BirthFranklin Dias RochaNo ratings yet
- Queilinha BirthDocument2 pagesQueilinha BirthFranklin Dias RochaNo ratings yet
- A história de Cauã, uma criança surda que aprendeu a se comunicarDocument10 pagesA história de Cauã, uma criança surda que aprendeu a se comunicarVeraCruzNo ratings yet
- Queilinha BirthDocument2 pagesQueilinha BirthFranklin Dias RochaNo ratings yet
- Piá - Edital de Chamamento para Credenciamento de Artistas para o Programa Piá 2021Document28 pagesPiá - Edital de Chamamento para Credenciamento de Artistas para o Programa Piá 2021Franklin Dias RochaNo ratings yet
- Edital credencia artistas Programa VocacionalDocument28 pagesEdital credencia artistas Programa VocacionalFranklin Dias RochaNo ratings yet
- Desigualdade e exclusão na raiz da lutaDocument14 pagesDesigualdade e exclusão na raiz da lutaFábio XavierNo ratings yet
- Tesouro macabro na cavernaDocument12 pagesTesouro macabro na cavernaRuan BoleslauNo ratings yet
- Vida Escondida Com CristoDocument13 pagesVida Escondida Com CristoCarlos Guiar NeuhausNo ratings yet
- Quando Deus Fala Ao CoraçãoDocument359 pagesQuando Deus Fala Ao CoraçãoVanderleia da Silva50% (4)
- Sobre (Prisões) - Uma Cartografia Do Possível em Um Brasil de MorteDocument2 pagesSobre (Prisões) - Uma Cartografia Do Possível em Um Brasil de MorteLaerte de PaulaNo ratings yet
- João Lourenço-Mokgweetsi Masisi identificam Educação e Minas como prioridadesDocument32 pagesJoão Lourenço-Mokgweetsi Masisi identificam Educação e Minas como prioridadesViana AlbertoNo ratings yet
- Manual Completo Do Suic Dio PDFDocument72 pagesManual Completo Do Suic Dio PDFAna Regina Portes57% (7)
- Maçonaria - O TestamentoDocument3 pagesMaçonaria - O TestamentoLeonardo RedaelliNo ratings yet
- RomantismoDocument8 pagesRomantismoNauj OdracirNo ratings yet
- OWbN Ventrue - Guia para o Prestígio de Clã (Dignitas) - 20160527 PDFDocument28 pagesOWbN Ventrue - Guia para o Prestígio de Clã (Dignitas) - 20160527 PDFrafaelNo ratings yet
- Revelações sobre o poder de Deus contra as trevasDocument178 pagesRevelações sobre o poder de Deus contra as trevasiaras2000br100% (10)
- O Clone de Cristo - J. R. LankfordDocument1,568 pagesO Clone de Cristo - J. R. LankfordArmando Costa100% (1)
- A antiga arte da pregação missionária dos padres redentoristasDocument35 pagesA antiga arte da pregação missionária dos padres redentoristasClaudiberto FagundesNo ratings yet
- IltoncesarmartinsDocument162 pagesIltoncesarmartinsdioneiakuzeNo ratings yet
- Limiar Da Terra: Guia de CampanhaDocument64 pagesLimiar Da Terra: Guia de CampanhaBia CoelhoNo ratings yet
- Olhar Por Mim Enquanto Cuido de Ti - Autocuidado de Psicólogos Que Trabalham em Cuidados PaliativosDocument74 pagesOlhar Por Mim Enquanto Cuido de Ti - Autocuidado de Psicólogos Que Trabalham em Cuidados PaliativosGabriella MulèNo ratings yet
- A Crónica e OutrosDocument7 pagesA Crónica e Outrospaulas_198No ratings yet
- O Primeiro Cerco de Diu - Francisco D'AndradeDocument724 pagesO Primeiro Cerco de Diu - Francisco D'AndradeGustavo NogueiraNo ratings yet
- Ricardo - de - La - Cierva - A - Maconaria InvisívelDocument281 pagesRicardo - de - La - Cierva - A - Maconaria InvisívelCelson MartinsNo ratings yet
- Jesus Desceu Ao Inferno e Pregou Aos MortosDocument11 pagesJesus Desceu Ao Inferno e Pregou Aos MortosEmanuele BonfimNo ratings yet
- birth-of-the-demonic-sword-capitulo-1-centralnovel.comDocument5 pagesbirth-of-the-demonic-sword-capitulo-1-centralnovel.comLeandro RodrigoNo ratings yet
- Luto da família SilvaDocument3 pagesLuto da família SilvaLenice Veloso100% (2)
- Sermão da Montanha no Século XXIDocument23 pagesSermão da Montanha no Século XXIcrdias59No ratings yet
- Teatro Reunido - Hilda Hilst PDFDocument350 pagesTeatro Reunido - Hilda Hilst PDFMatheus Nasca100% (8)
- Homens Da Tarde (Mário Ferreira Dos Santos)Document364 pagesHomens Da Tarde (Mário Ferreira Dos Santos)omago libertariorNo ratings yet
- 924K 930K 938K - Spbu9450-04 Ger IiDocument320 pages924K 930K 938K - Spbu9450-04 Ger IiClaudinho MontenegroNo ratings yet
- Sinntese Das Cenas Do Auto Da Barca Do Inferno PDFDocument3 pagesSinntese Das Cenas Do Auto Da Barca Do Inferno PDFJoão Ribeiro100% (2)
- DarkDocument677 pagesDarkLaura RosanaNo ratings yet
- Sedação paliativa no domicílioDocument4 pagesSedação paliativa no domicílioIsaías VicenteNo ratings yet
- Meditações para A Quaresma - PDFDocument86 pagesMeditações para A Quaresma - PDFAlciaCoanNo ratings yet