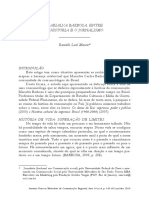Professional Documents
Culture Documents
1696 6604 1 PB
Uploaded by
Amanda SantosOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
1696 6604 1 PB
Uploaded by
Amanda SantosCopyright:
Available Formats
CADERNOS DE HISTRIA
Cad. hist.
Belo Horizonte
v. 4
n. 5
p. 1-52
dez. 1999
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DE MINAS GERAIS
Gro-Chanceler
Dom Serafim Fernandes de Arajo
Reitor
Prof. Pe. Geraldo Magela Teixeira
Pr-reitores
Execuo Administrativa ngela Maria Marques Cupertino; Extenso Bonifcio Jos
Teixeira; Graduao Miguel Alonso de Gouva Valle; Pesquisa e de Ps-graduao La
Guimares Souki; PUC Minas Arcos ngela Frana Versiani; PUC Minas Betim Carmen
Luiza Rabelo Xavier; PUC Minas Contagem Geraldo Mrcio Guimares; PUC Minas Poos de
Caldas Geraldo Rmulo Vilela Filho e Maria do Socorro Arajo Medeiros; PUC Minas So
Gabriel Jos Mrcio de Castro; Diretor do Instituto de Cincias Humanas: Audemaro
Taranto Goulart; Chefe do Departamento de Histria: Maria Mascarenhas de Andrade;
Colegiado de Coordenao Didtica: Luclia de Almeida Neves, Maria Alice Moreira
Lima, Maria Mascarenhas de Andrade (Coordenadora) e Rui Edmar Ribas;
Conselho Editorial: Carlos Fico (UFOP), Eliana Fonseca Stefani (PUC Minas),
Liana Maria Reis (PUC Minas), Luclia de Almeida Neves (PUC Minas),
Maria do Carmo Lana Figueiredo (PUC Minas), Maria Efignia Lage de
Rezende (UFMG); Coordenao Editorial: Alysson Parreiras Gomes,
Cludia Teles; Coordenao Grfica: Pr-reitoria de Extenso PROEx;
Reviso: Dila Bragana; Estagirio: Juniele Rabelo de Almeida
Pontifcia Universidade Catlica de Minas Gerais
Pr-reitoria de Extenso
Av. Dom Jos Gaspar, 500 Corao Eucarstico
Caixa postal: 1.686 Tel: (31) 319.4220 Fax: (31) 319.4129
30535-610 Belo Horizonte Minas Gerais Brasil
Tiragem
1.000 exemplares
Preparada pela Biblioteca da Pontifcia Universidade Catlica de Minas Gerais
Cadernos de Histria. out. 1997 Belo Horizonte: PUC Minas,
v.
Anual
1. Histria Peridicos. I. Pontifcia Universidade Catlica
de Minas Gerais. Departamento de Histria.
CDU: 98 (05)
SUMRIO
Manifesto comunista: histria, utopia e incluso social
Luclia de Almeida Neves .......................................................................................... 5
Sexualidade, casamento e confisso na Amrica portuguesa
Maria Augusta do Amaral Campos .......................................................................... 15
Os espelhos de prncipes: um velho gnero para
uma nova Histria das Idias
Marcos Antnio Lopes ............................................................................................... 21
Cultura, memria e identidade contribuio ao debate
Jos Mrcio Barros ..................................................................................................... 31
Democracia antiga e democracia moderna
Cristina Vilani ........................................................................................................... 37
RESENHAS
FRANCO JNIOR, Hilrio. Cocanha: a histria
de um pas imaginrio
Heloisa Guaracy Machado......................................................................................... 43
BLUMEMBERG, Hans. Naufrgio com espectador
Andrea Luciana Vieira, Cyntia Lacerda Bueno, Evandro Alves Bastos,
Fabiana Melo Neves, Jos Otvio Aguiar e Tereza Cristina de Laurentys ............... 48
Cad. hist.
Belo Horizonte
v. 4
n. 5
p. 1-52
dez. 1999
MANIFESTO COMUNISTA: HISTRIA, UTOPIA E INCLUSO SOCIAL
MANIFESTO COMUNISTA: HISTRIA,
UTOPIA E INCLUSO SOCIAL
Luclia de Almeida Neves*
RESUMO
O presente artigo aborda os conceitos de histria e utopia mediante
anlise do Manifesto comunista de Marx e Engels. Ele acentua o relevante papel de um dos mais famosos programas polticos do sculo
XIX e procura interpretar seu significado nos dias atuais, ao final do
sculo XX.
Palavras-chave: Utopia; Incluso social; Igualdade.
Manifesto do Partido Comunista, certamente o mais conhecido texto de Marx e Engels, influenciou de forma definitiva as lutas sociais e polticas dos sculos XIX e XX. Alm
disso, atravs da utilizao sensvel de metforas, constitui o texto tradutor de um
utpico, generoso e ousado projeto de
emancipao da humanidade: o igualitarismo.
Para Umberto Eco, o Manifesto um
texto formidvel que sabe alternar tons
apocalpticos e ironia, slogans eficazes e
explicaes claras. O texto, de estilo publicitrio extremamente atual, de acordo
com o referido autor, comea com um formidvel toque de tmpano, como a Quinta Sinfonia de Beethoven: Um espectro
*
ronda a Europa. Segue depois um vo
de guia sobre a histria das lutas sociais
desde a Roma antiga at o nascimento e
desenvolvimento da burguesia, e as pginas dedicadas s conquistas desta nova
classe revolucionria constituem o seu
poema fundador. (Eco, 1998, p. 32)
Poema fundador de uma utopia transformadora, que projetou o nascimento de
novos sujeitos histricos (os assalariados),
que identificou o carter modernizador e
revolucionrio do capitalismo, que assinalou a emergncia de uma economia internacionalizada e que previu uma trajetria de crises e de excluso social para o
prprio capitalismo.
Para Hobsbawm um texto arrebatador, marcado por forte convico apaixo-
Professora Titular PUC Minas.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 5-14, dez. 1999
Luclia de Almeida Neves
nada, por fora intelectual e estilstica, por
uma retrica poltica que possui uma fora quase bblica, representando o escrito poltico individual mais influente desde a Declarao dos Direitos do Homem
e do Cidado da Revoluo Francesa.
(Hobsbawm, 1998, p. 294 e 300)
UTOPIA E HISTRIA
Obra-prima de oratria e persuaso, o
Manifesto comunista constitui uma simbiose de utopia e prxis. um texto no
qual a questo terica (ali expressa de forma preliminar, mas densa) cede espao ao
empenho apaixonado e visionrio da prtica. Dessa forma, o olhar para o futuro,
em busca de uma sociedade igualitria,
tambm a luta do presente. Marx e Engels anteciparam, portanto, a concepo
de movimento da histria, segundo a qual
o futuro est contido no presente.
A dinmica da histria como j afirmava o clebre historiador francs, Jacques Le Goff constitui uma relao complexa entre passado e presente e/ou entre
presente e passado. Todavia, o mais importante significado da Histria encontrase na projeo de futuro. Os iluministas
do sc. XVIII, ao afirmarem uma viso otimista da Histria e do progresso, projetaram com toda a fora revolucionria da
poca a perspectiva de um novo tempo.
Para eles, o sentido da Histria consistia
na possibilidade de construo de um
mundo alternativo quele no qual estavam inseridos. Nesse sentido, para DAlembert, Diderot e Voltaire, o presente histrico era alimentado pela seiva visionria das utopias.
As utopias so aspiraes vivificadoras
da Histria, e seu florescimento nunca
aleatrio. Ao alimentarem inquietaes
generosas, desejos de transformaes e
mpetos de renovao e justia social, as
utopias revelam as carncias do tempo
presente e as possibilidades do tempo futuro. Nas metas utpicas est presente
uma conscincia antecipadora que transforma o movimento em direo ao futuro
em dinmica viva do tempo presente.
Dessa forma, o conceito de sonho relaciona-se aos sentimentos de melhoria do
vir-a-ser e de rechaamento da situao
presente. O olhar atravs do tempo faz o
homem maior do que seu prprio tempo,
tornando-o capaz no s de antever, mas
tambm de construir o porvir.
A viso de que as utopias so irrealizveis negada pelo movimento da Histria, atravs do qual os projetos de pensadores e revolucionrios, mesmo que na
maioria das vezes tendo se adaptado s
condies concretas da realidade, constituram estmulos para processos histricos transformadores. Para Ernst Bloch, a
conscincia antecipadora inerente s utopias imprescindvel prxis (Bloch,
1947). Constitui fermento de projees teleolgicas, aes atravs das quais a potencialidade do futuro converte-se em
concretude, metas alcanadas, mesmo que
em inmeras vezes de forma parcial.
Para Konder,
ao constiturem expresses das condies presentes em que o utopista sonha o futuro, as utopias influem de algum modo sobre a disposio
com que as pessoas passaro a enxergar os problemas do que est por vir. Utopias, por conseguinte, so manifestaes extremamente significativas no mbito da histria cultural. (1998,
p. 71)
O esprito utpico seiva viva das revolues, que s se concretizam se animadas pela energia dos lutadores do passado, pelo visionarismo que faz com que,
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 5-14, dez. 1999
MANIFESTO COMUNISTA: HISTRIA, UTOPIA E INCLUSO SOCIAL
de acordo com Benjamin, o sonho guarde
secretamente o despertar. (Benjamin, 1985)
Considerando que a mentalidade utpica pode transcender a realidade e se
transformar em conduta, Marx e Engels
apostaram na conclamao do proletariado luta pela transformao do mundo
no qual estavam inseridos. Utopia e prxis constituindo uma dupla mas nica realidade projetiva de um novo e renovado
tempo. A conscincia utpica transmudando-se, ento, em conscincia histrica, penetrando de forma integral o momento presente e transformando-o, com
vistas concretizao de um sonho de
transmutao do real.
Um olhar voltado para o futuro, um
princpio de esperana do porvir, um libelo revolucionrio so possveis maneiras de se identificar o Manifesto comunista de 1848. Todas elas, entretanto, contm a concepo de seus autores de que o
homem emancipado de toda a forma de
determinismo deveria e poderia tornarse o sujeito de sua prpria histria. Herdeiro, de certa forma, do Iluminismo, o
Marxismo, que nascia naquele tempo,
acreditava na possibilidade de compreender o mundo atravs da razo, para assim
poder transform-lo.
A perspectiva do pensamento marxista de antecipar o futuro, para poder dessa forma control-lo, se no chegou a se
concretizar em vrias frentes, influenciou,
sem dvida, os rumos da histria contempornea da humanidade. Em decorrncia, o princpio utpico que alimentou a
luta dos socialistas e comunistas, e as conquistas sociais decorrentes das lutas por
eles empreendidas ou por eles influenciadas, nos permitem afirmar que a histria
da humanidade, ps-sculo XIX, no teria sido a mesma sem a contribuio visionria de Marx e Engels.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 5-14, dez. 1999
UM MANIFESTO REVOLUCIONRIO
E SEU MUNDO
Foi em dezembro de 1847, no segundo
Congresso da Liga dos Comunistas, a antiga Liga dos Justos, que Karl Marx e Friedrich Engels receberam a incumbncia de
escrever um libelo que expressasse o programa da organizao e que pudesse servir de orientao para as lutas do nascente proletariado europeu.
A Liga dos Comunistas tinha pressa em
ver concludo o trabalho encomendado,
pois estava convicta de que uma grave crise ameaava o capitalismo, tornando frtil o terreno para pregaes e manifestaes revolucionrias. Em decorrncia dessa certeza, no hesitaram em pressionar
Marx e Engels para que conclussem rapidamente seu trabalho.
Com efeito, o ambiente da Revoluo
Industrial na Europa apresentava-se propcio s pregaes revolucionrias que
anunciassem a derrubada do sistema econmico capitalista. Mesmo porque tal sistema, apesar de revolucionrio, potencializava uma forte excluso social. Por isso,
tornavam-se candentes aos coraes do
proletariado propostas que previam a derrubada do modelo de dominao ento
predominante por eles mesmos novos e
revolucionrios sujeitos da Histria denominados por Marx e Engels de andrajos sem nada.
Identificado pelo marxismo como condutor de sua prpria histria, ao proletariado caberia a tarefa de mudar o mundo,
de criar um novo tempo, de plantar a semente da igualdade. Sem dvida, a conjuntura favorecia acalentarem-se certezas
de que um novo sujeito da histria, de fato, havia nascido. Cabia a ele auto-reconhecer-se como tal, para poder empreender a
revoluo que significaria sua redeno.
Luclia de Almeida Neves
Naquele ano de 1848, quando Marx e
Engels concluram a tarefa e publicaram
seu manifesto, a Europa vivia uma onda
de revolues movimento identificado
como a Primavera dos Povos. A conjuntura efervescente colocava em lados opostos burguesia e proletariado. Como toda
primavera efmera, a conjuntura tambm caracterizou-se por uma inegvel rapidez do processo histrico. Nos anos que
se seguiram onda revolucionria de
1848, o capital encontrou seu grande perodo de expanso atravs do imperialismo; todavia, os comunistas, j mais bem
organizados, fundaram a Primeira Internacional. Isso porque a primavera de 1848,
apesar de efmera, havia frutificado.
De fato, 1848 nasceu sob o signo das
insurreies. Em fevereiro, na Frana, um
levante operrio derrubava a monarquia
de Lus Felipe e proclamava a repblica,
constituindo um governo no qual os socialistas estavam presentes. O que ocorreu na Frana pode ser identificado como
paradigma de todas as revolues de 1848
na Europa. Em diversos lugares a burguesia parecia colocar-se em posio de recuo,
temendo a radicalizao dos socialistas.
Com certeza, a perspectiva revolucio-nria anunciava-se como uma ameaa pa-ra
a classe industrial. Marx e Engels, ao afirmarem no Manifesto comunista que o espectro do comunismo rondava a Europa,
tornaram real, aos olhos da burguesia, essa
ameaa.
Os acontecimentos da Frana irradiaram-se para o conjunto de pases europeus. Nesse contexto de turbulncia, pases como a Itlia, a Alemanha, a Polnia, a
ustria e a Blgica foram, cada um a seu
modo, sacudidos por insurreies revolucionrias.
O Manifesto foi publicado no ms de
fevereiro, em alemo, por uma editora
cuja sede localizava-se em Londres. evidente que sua influncia direta sobre os
acontecimentos de 1848 foi praticamente
inexistente, sobretudo porque a traduo
do texto para outras lnguas atrasou-se
consideravelmente. A verso em ingls
data de 1850; em russo, de 1859; e em francs somente foi publicada em 1872.
Mas se o Manifesto no chegou a ter
influncia determinante nos acontecimentos de 1848, sua relao com eles
real. Cabe, quanto a esse aspecto, destacar que a onda revolucionria que varreu
a Europa naquele ano constitui, juntamente com o Manifesto primeiro libelo
do marxismo, o substrato da marca de um
tempo: o signo de uma fase da histria na
qual se projetou e se buscou a tomada de
poder pela classe operria, mesmo em pases como a Itlia e a Alemanha, nos quais
sua existncia ainda era precria.
Certos perodos so marcados pela
ruptura, pela ecloso irrefrevel do novo
(Paula apud Reis, p. 141). So pocas da
histria nas quais a transformao predomina em detrimento da continuidade. So
tempos de se olhar para o futuro em detrimento da viso retrospectiva. Foi assim
com o advento da Idade Moderna, que
trouxe o Humanismo Renascentista, a
Revoluo Comercial, o descortinar de um
novo mundo e a Reforma Protestante. Foi
assim com o advento do Liberalismo, que
propugnou o rompimento com um Estado monrquico, centralizado e intervencionista. Foi assim com o sculo XVIII, que
protagonizou a independncia dos EUA
e a Revoluo Francesa. Essas duas experincias concretas, j mais prximas do af
socialista do sc. XIX, fariam da liberdade
poltica e da questo social temas centrais
em sua poca.
Cada poca revolucionria tem sua representao traduzida por imagens
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 5-14, dez. 1999
MANIFESTO COMUNISTA: HISTRIA, UTOPIA E INCLUSO SOCIAL
(construo imagtica de um tempo), por
obras de artes, por obras literrias, por
composies musicais, por obras filosficas, por manifestos e libelos. Para Joo
Antnio de Paula, O princpe, de Maquiavel (1513) e o Elogio da loucura, de Erasmo (1511) representaram o advento da
modernidade humanista. J O segundo
tratado sobre o governo, de Locke (1690),
um tpico ma-nifesto liberal. E as obras
de Rousseau, Di-derot e DAlembert representam o desejo de liberdade e de predomnio da razo iluminista que orientou
a Revoluo Francesa. Essas so obras que
representam a aspirao de seu tempo.
No so as nicas que o fazem, mas so
referncias significativas de que os signos
de uma poca so traduzidos pela capacidade criativa dos sujeitos histricos (artistas, intelectuais e povo) de cada tempo
especfico da trajetria da humanidade.
O Manifesto comunista e toda a obra
marxista que o sucedeu traduzem as condies do mundo capitalista industrializado do sc. XIX e a projeo de um futuro socialista renovador. Buscando falar
tanto razo quanto emoo, utilizouse de palavras e metforas que traduziram aspiraes de liberdade e anseios de
igualdade. Combinou, alm disso, uma
anlise do mundo burgus, que se consolidou com a Revoluo Industrial, com um
programa prtico de ao e de luta. Dois
eixos, portanto, o sustentam: a sntese terica e histrica, e a prxis (a ao).
Seu impacto ultrapassou a conjuntura
de sua publicao e inspirou lutas operrias para alm do sc. XIX. Sntese do sentimento de incompletude das conquistas
sociais que sucederam Revoluo Francesa, desfraldou novas bandeiras de luta,
anunciou a perspectiva de um mundo alternativo ao mundo capitalista e identificou a sociedade como local da ao, da
prxis transformadora.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 5-14, dez. 1999
Alm disso, consolidou as linhas essenciais da ontologia do ser social marxista
o materialismo histrico, j anteriormente elaboradas na Ideologia alem (1845) e
na Misria da filosofia (1847). A contribuio terica do materialismo dialtico
ultrapassou as possibilidades da prxis,
sempre delimitada pelas condies estruturais e conjunturais, transformando-se
em paradigma norteador de inmeras
obras filosficas, econmicas, histricas e
sociolgicas ao longo dos sculos XIX e XX.
OS 150 ANOS DO MANIFESTO:
A POSTERIDADE DE UM DESAFIO
(ATUALIDADE E LIMITES)
O Manifesto comunista, lanado h
150 anos, poderia parecer caduco neste
final de milnio, quando o marxismo vive
uma das suas mais profundas crises, cujo
momento mais marcante foi o do rompimento dos pases do leste europeu com
o socialismo real. Mas a atualidade de
seu libelo revolucionrio est em debate.
Para Carlos Nelson Coutinho (1998) surpreende a atualidade com que, por exemplo, seus autores descrevem os fundamentos do modo de produo e da formao econmico-social capitalistas, sob
cujo domnio continuamos a viver at hoje (p. 39). J o socilogo britnico Anthony Giddens, diretor da London School of
Economics, afirma que Marx foi o primeiro pensador da modernidade capitalista
e que O Manifesto continua vlido como
instrumento de crtica do sistema capitalista e da era da globalizao. (1998, p. 28)
Cabe ressaltar, todavia, que mesmo os
marxistas contemporneos no podem repetir mecanicamente o que dito no Manifesto, pois o mundo mudou. E mesmo
que os problemas mais graves do sistema
Luclia de Almeida Neves
capitalista continuem persistindo, a conjuntura atual decididamente diferente
da de 1848. Alm do mais, ao lado de sua
extraordinria grandeza e de sua reconhecida atualidade, o Manifesto tambm
apresenta limites, pois na verdade nenhuma obra histrica pode ser desprendida
das condies do tempo nas quais foi produzida.
Por isso, Coutinho insiste que reler o
Manifesto, mesmo do ponto de vista marxista, significa rel-lo de modo crtico,
relativiz-lo, situ-lo historicamente
(1998, p. 152). Essa relativizao histrica
no significa, contudo, desconhecer que
o Manifesto est includo no elenco das
obras clssicas criadas pela humanidade,
que resistiram ao tempo, podendo ser permanentemente revisitadas, pois apresentam um enfoque sempre atualizvel.
O Manifesto comunista, que buscou
sintetizar as aspiraes e o pensamento de
comunistas de diferentes pases europeus,
apresenta dez mandamentos, alguns apropriados conjuntura na qual foi publicado, outros, todavia, bastante sintonizados
com os problemas econmicos e de excluso social do final do presente milnio. Assim, resumidamente, so estes os principais pontos do programa do Manifesto:
1. Expropriao da propriedade latifundiria e
utilizao da renda da terra para cobrir despesas do Estado;
2. Imposto fortemente progressivo;
3. Abolio do direito de herana;
4. Confisco da propriedade de todos os emigrados e sediciosos;
5. Centralizao do crdito nas mos do Estado,
atravs de um banco nacional com capital
estatal e monoplio exclusivo;
6. Centralizao do sistema de transportes nas
mos do Estado;
7. Multiplicao das fbricas e dos instrumentos de produo pertencentes ao Estado, desbravamento das terras incultas e melhora das
terras cultivadas, segundo um plano geral;
10
8. Trabalho obrigatrio para todos, constituio
de brigadas industriais, especialmente para
a agricultura;
9. Organizao conjunta da agricultura e indstria com o objetivo de suprimir paulatinamente a diferena entre cidade e campo;
10. Educao pblica e gratuita para todas as crianas. Supresso do trabalho fabril das crianas, tal com praticado hoje. Integrao da
educao com a produo material.
Esses pontos programticos permitemnos reafirmar que o Manifesto comunista decididamente datado e reflete as condies daquele longnquo 1848. Todavia,
algumas de suas formulaes, especialmente as relativas s questes sociais, educacionais e do trabalho revertem-se de
atualidade alarmante, uma vez que, passados 150 anos de sua publicao, so problemas que continuam afligindo a humanidade.
Dessa forma, cabe destacar o primeiro
item do programa, que diz respeito questo agrcola, ao problema da terra. Na atualidade, nos pases desenvolvidos e de tradio minifundiria, este problema no se
cerca das conseqncias sociais graves que
o tornam to contundente nas naes
no-desenvolvidas ou de desenvolvimento interno desequilibrado. No Brasil, por
exemplo, o problema da terra estrutural. Constitui um fardo pesado e carregado por um perodo de longa durao. Remonta s capitanias hereditrias, teve sua
marca indelvel no coronelismo e manifesta-se de forma marcante na conjuntura atual pela misria dos bias-frias e pelo
movimento dos trabalhadores sem terra.
Quanto questo tributria, lugarcomum afirmar que, no caso brasileiro,
ainda um problema muito mal resolvido. Os impostos mais drsticos incidem
principalmente sobre os assalariados. O
capital proporcionalmente pouco tributado e a utilizao dos recursos advindos
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 5-14, dez. 1999
MANIFESTO COMUNISTA: HISTRIA, UTOPIA E INCLUSO SOCIAL
da tributao mal implementada, no
privilegiando programas sociais.
A questo do trabalho e do emprego,
podemos afirmar, de forma categrica,
indiscutivelmente atual. O problema do
desemprego atinge a maioria dos pases
capitalistas do mundo, chegando em algumas naes europias marca dos 16%
e em outras latino-americanas faixa dos
13%. Quando se v no Brasil um processo de precarizao dos contratos de trabalho, experincia j em curso e sem xito na Argentina, a proposio de direito
ao trabalho decididamente muito importante e reverte-se de uma urgncia inquestionvel.
J o ponto do programa que trata da
organizao conjunta da indstria e da
agricultura tem, segundo Joo Antnio
Paula, a fora da antecipao, luz das
idias que avanam o seu tempo e so contemporneas do futuro (p. 152). Para o
autor, essa idia bastante atual, relacionando-se a problemas socioambientais.
Trata-se de uma estratgia premonitria
de enfrentamento da crise de exploso urbana e de precarizao das condies de
vida das grandes metrpoles no sc. XX.
O dcimo ponto cala fundo, principalmente nos pases nos quais a mo-de-obra
infantil vergonhosamente explorada e
em que os problemas educacionais, principalmente os relativos ao acesso escolaridade e permanncia no sistema escolar, ainda encontram-se sem soluo. No
Brasil, de acordo com dados do IBGE/Unicef (1997), alarmante a incidncia de trabalho infantil, que chega a atingir cerca de
3,2% de crianas na faixa etria de 5 a 9 anos,
especialmente nas reas rurais e 24% de crianas e adolescentes entre 10 e 14 anos, considerando-se o universo da populao do
pas nessa faixa de idade. (p. 130 e 132)
Analisados alguns pontos programtiCad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 5-14, dez. 1999
cos do Manifesto, consideramos ser necessrio dar uma ateno especial nfase do texto sobre a questo internacional.
A profecia de Marx e Engels de que o capital age sem fronteiras em todo o mundo no s se confirmou ao longo dos sculos XIX e XX, como ganhou dimenses
especiais neste final dos anos de 1900. O
tema da globalizao, hoje em moda no
mundo ocidental e oriental, h muito foi
enfrentado pelos pais do marxismo. Mas,
na anlise contempornea que se faz da
globalizao, preciso destacar que as
condies internacionais do mundo contemporneo em muito diferem daquelas
prprias aos idos da primeira metade do
sculo XIX.
O cenrio aberto pelo texto de 1848
apresenta-se bastante diferente, pois os
sujeitos histricos j no so os mesmos.
Em suma, a sociedade tornou-se mais
complexa, mais pluralista. A dicotomia
burguesia/proletariado, que j era limitada para se explicar a sociedade emergente nos primeiros anos da industrializao,
definitivamente no se encaixa na complexidade social do mundo no qual vivemos. Camadas sociais intermedirias (tcnicos, gerentes, executivos, profissionais
de servios) so ativas e correspondem
diversificao de atividades econmicas
do mundo capitalista. Alm disso, existem
segmentos expressivos da populao
mundial que desenvolvem seu trabalho
nas reas rurais, atravs de diferentes formas de insero no processo produtivo
(assalariados, pequenos proprietrios, arrendatrios, bias-frias, etc). Tambm cabe registrar que significativo o nmero
de profissionais liberais que no se encaixam na dicotomia apresentada nos primrdios do marxismo. Finalmente, existem segmentos expressivos da populao
que freqentemente esto fora do proces-
11
Luclia de Almeida Neves
so produtivo. No Brasil eles constituem
1/3 da populao e na sia correspondem
a quase a metade dos asiticos. So os excludos do processo produtivo...
Mas esta no a principal diferena entre a globalizao atual e a prevista pelo
marxismo. Marx e Engels previram que a
internacionalizao da economia capitalista seria, em um primeiro momento,
opressiva, especialmente para os pases
mais pobres, mas que uma segunda fase
da internacionalizao seria caracterizada
pela libertao revolucionria dos trabalhadores de todo o mundo. Tal prognstico no se confirmou. O processo de globalizao no se tem caracterizado por
uma linearidade definida. O desequilbrio
entre as naes continua favorecendo os
pases mais fortes. Em outras palavras, o
mundo unificado pelo capitalismo no se
tornou homogneo. Pelo contrrio, marcado por uma distribuio desigual dos
poderes econmico, militar e poltico.
Quanto libertao revolucionria do
mundo do trabalho, pelo menos na atualidade no constituiu realidade. Ao revs,
inmeras conquistas de direitos sociais e
trabalhistas, alcanadas pelas lutas dos trabalhadores no decorrer dos ltimos 150
anos, esto ameaadas nesses tempos de
neoliberalismo e desregulamentao da
ordem social.
Mas a imagem dos textos clssicos de
Marx e Engels de que a internacionalizao capitalista seria como fogo na pradaria, consumindo culturas nacionais e descaracterizando as fronteiras polticas,
hoje uma realidade inexorvel. De fato, o
intercmbio universal, mesmo que assimtrico, est presente no cotidiano de todos os pases do mundo.
12
RECONSTRUIR UTOPIAS: PRESENTE E
FUTURO FRENTE AOS DESAFIOS DA
EXCLUSO SOCIAL
O pensamento histrico marxista identifica na dimenso temporal uma tenso
constitutiva peculiar, atravs da qual
possvel identificar os movimentos transformativos, que so o cerne da Histria.
Trata-se de movimentos dialticos, que
compreendem a relao entre presente e
passado, e entre pensar e agir. Assim, na
concepo marxista, o conhecimento histrico pressupe articular a temporalidade com as mltiplas dimenses da vida
social e econmica. As contribuies de
Marx nesse terreno so fundamentais, especialmente no que se refere questo da
totalidade, pois a leitura de sua obra indica que, longe de estar preso a um economicismo reducionista, havia compreendido ser a pluralidade uma dimenso essencial da vida humana. Pluralidade inerente totalidade, e totalidade como sntese,
que compreende os aspectos econmicos,
essenciais concepo marxista, mas incorpora tambm as formas polticas, culturais e ideolgicas prprias vida em sociedade.
O Manifesto pode ser identificado como um texto referencial do marxismo, que
considera a vida humana nas suas mltiplas dimenses. um libelo poltico, que
compreende tambm uma anlise histrico-dialtica na qual as dimenses econmicas e sociais da emergente sociedade industrial esto registradas. Nesse sentido, alm da anlise especfica do modo
de produo capitalista e dos impasses da
modernidade nascente, contm uma dimenso de futuro, uma forte carga emancipatria, um apelo luta para que excluso social peculiar ao capitalismo
suceda a incluso social, atravs da imCad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 5-14, dez. 1999
MANIFESTO COMUNISTA: HISTRIA, UTOPIA E INCLUSO SOCIAL
plantao de uma nova ordem inspirada
nos princpios do igualitarismo.
Talvez possamos afirmar que o contedo utpico emancipatrio do Manifesto
comunista esteja hoje em parte superado, pois as condies histricas do tempo
presente so substantivamente diferentes
daquelas predominantes na primeira metade do sculo passado. Talvez possamos
tambm considerar, reportando-nos a Coutinho (1998), que, mesmo um marxista,
(...) que compreenda a ortodoxia no como uma
reverncia fetichista aos textos, mas como um
empenho em ser metodologicamente fiel ao movimento histrico do real, no pode repetir essas definies como sendo plenamente vlidas
hoje. (p. 36)
Mas, com certeza, podemos afirmar
que Marx e Engels no se enganaram ao
identificar um carter de barbrie na modernidade capitalista. No se enganaram
tambm ao preconizar a consolidao da
assimetria e da dominao nas relaes
entre as naes, nem ao concluir que o desenvolvimento do capitalismo contraditrio, gerando a tendncia de acumulao de riqueza em uma extremidade e de
misria na outra.
No h tambm como negar que o
mundo contemporneo, conforme afirma
Hobsbawm (1995), na sua recm-lanada
obra A era dos extremos, apesar de a globalizao o ter transformado em uma unidade operacional nica, continua sendo
um mundo polarizado entre a misria e a
riqueza. Um mundo no qual, considerando-se o conjunto de sua populao, o nmero dos que esto de fora dos benefcios
do desenvolvimento cada vez maior.
Basta olhar o mapa-mndi, e vir em um
segundo a constatao evidente de que a
maior parte do territrio do planeta Terra
habitado por pobres e miserveis.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 5-14, dez. 1999
Dessa forma, a construo de novas
utopias visionrias da incluso social reverte-se de urgncia clamorosa. A perspectiva do alvorecer de um novo milnio
contempla a humanidade com suas luzes.
Por isso, a ousadia do sonho de uma sociedade mais igualitria reatualiza-se,
mesclando-se proposio de uma ordem
poltica na qual persistam os valores da liberdade individual.
Utopia? Sonho ingnuo dos que insistem em afirmar os valores da solidariedade humana? Talvez sim. Mas, se considerarmos que so as utopias motor da Histria, talvez valha a pena investir no presente com os olhos abertos para os horizontes do futuro e buscar inspirao na
concepo marxista que, de acordo com
Hobsbawm (1998), caracteriza-se pelo entendimento de que a mudana histrica
processa-se mediante a prxis social, mediante a ao coletiva. (p. 308)
Talvez seja hora, de como prope Garcia (1998), pensar o pas e o mundo existentes, ousar encarar de frente as profundas mudanas, ainda que abalem dogmas
e convices, colocar a reflexo altura da
generosidade dos que suportam a explorao e lutam contra ela (p. 37). As razes para que se persiga essa proposta so
evidentes para os que no se deixaram seduzir pelos arautos do individualismo e,
portanto, no abandonaram a perspectiva da solidariedade.
Trata-se de perseguir a meta, aparentemente to pouco ousada, de se assegurar um mnimo de renda e bem-estar social para todos, pois hoje o grande problema do mundo no a criao de riquezas mas a sua distribuio. Trata-se, tambm, de lutar contra o trabalho e a prostituio infantis, e tornar a sade e a educao bens universais. Alm disso, necessrio implementar uma distribuio
13
Luclia de Almeida Neves
mais equitativa da propriedade da terra,
realizando uma efetiva reforma agrria.
Cabe, enfim, retomar algumas das proposies do Manifesto comunista do longnquo 1848 e atualiz-las luz das necessidades do tempo presente.
O retorno a um pluralismo reflexivo e
frtil, acompanhado do rompimento com
a cadeia esterilizadora do pensamento
nico e homogeneizador predominante
neste final de sculo, com certeza seria um
passo importante para a construo de novas proposies visionrias. preciso,
mais do que nunca, considerar a perspectiva de uma ordem amplamente democrtica, na qual, como diziam Marx e Engels, predomine o livre desenvolvimento
de cada um como condio para o livre
desenvolvimento de todos. necessrio
tambm implementar um projeto de desenvolvimento econmico que considere
as questes ambientais, alm das exigncias de superao da pobreza e da excluso social e cultural, que afetam expressivo segmento da populao do globo terrestre. Finalmente, urgente a implementao de aes instituidoras de uma cida-
dania includente e legitimadora de um estado de direito apto criao e consolidao de novos direitos.
E, no caso brasileiro, urgente e imperativo que se criem alternativas para que
o Pas no continue sendo identificado
mundialmente, qual feito por Hobsbawm,
como um monumento negligncia social.
Considerando que os processos e acontecimentos histricos so antecipaes do
futuro e que a construo de utopias os
precede, fazemos nossas as palavras de
Ernst Bloch:
O homem, em vivendo, voltado, em primeiro
lugar, para o porvir. O passado um tempo j
vivido e o presente autntico, por assim dizer,
no est mais aqui. O futuro o que ns tememos ou em quem confiamos; sob esse plano de
inteno humana, que recusa o fracasso, o porvir o que ns esperamos (...) Podem ento os
sonhos vivos realmente se enriquecer, quer dizer, vir a ser sempre mais claros, menos abandonados sorte, melhor conhecidos, melhor compreendidos e melhor mediados no curso das coisas. (...) O trabalho desta ordem reclama aos homens que se atirem ao devir, do qual eles mesmos sero partes. (Bloch, 1974, p. 9-10)
Referncias bibliogrficas
BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas. (v. 1). So Paulo: Brasiliense, 1985.
BLOCH, Ernst. Le principe esprance. Paris: Gallimard, 1947.
COUTINHO, Carlos Nelson. Grandezas e limites do Manifesto. In: Teoria e Debate. n. 36, ano
10. So Paulo: Fundao Perseu Abramo, 1998.
ECO, Humberto. A retrica afinada do visionarismo. Jornal do Brasil. 25/01/98.
GARCIA, Marco Aurlio. O Manifesto e a fundao do comunismo. In: Teoria e Debates. n. 36,
ano 10. So Paulo: Fundao Perseu Abramo, 1998.
HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos; o breve sculo XX. So Paulo: Cia das Letras, 1995.
HOBSBAWM, Eric. Introduo ao manifesto omunista. In: Sobre Histria. So Paulo: Cia das
Letras, 1998.
INDICADORES SOBRE CRIANAS E ADOLESCENTES NO BRASIL 1991-1996. UNICEF/IBGE,
1997.
KONDER, Leandro. Marx, Engels e a utopia. In: REIS, Daniel (Org.). Manifesto Comunista: 150
anos depois. So Paulo: Fundao Perseu Abramo, 1998.
14
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 5-14, dez. 1999
SEXUALIDADE, CASAMENTO E CONFISSO NA AMRICA PORTUGUESA
SEXUALIDADE, CASAMENTO E CONFISSO
NA AMRICA PORTUGUESA
Maria Augusta do Amaral Campos*
RESUMO
A inteno deste artigo refletir sobre como a Igreja esteve presente
na formao de uma moral crist, em que o casamento e a confisso
foram utilizados como mecanismos de controle, atuando sobre o imaginrio social, numa sociedade em construo.
Palavras-chave: Casamento; Sexualidade; Confisso.
o incio da Idade Moderna, a Europa passava por uma grande
crise em todos os sentidos. Foi
uma poca de quebras e reformas, e os valores morais e religiosos necessitavam de
reformas urgentes. Vindas de uma civilizao em descaracterizao, podiam-se
detectar crises econmicas, polticas, sociais e culturais em decorrncia da desestruturao do sistema feudal.
No plano poltico, o coordenador dessas foras em crise foi o Estado Absoluto, o grande empreendedor das viagens
martimas e das novas descobertas almmar. O mundo rural fechado foi ficando
para trs, os horizontes se alargaram; com
isso, tornou-se necessrio adaptar a mentalidade do homem moderno nova
realidade.
A abertura do comrcio, a urbanizao,
o aparecimento de uma nova classe social
urbana e comerciante o surgimento
dos Estados Nacionais, a centralizao
do poder comearam a despertar novos
valores e a urgncia de mudar outros.
H algum tempo vinha-se questionando o papel da Igreja frente aos fiis. Estes
ltimos, muito afastados dos dogmas da
instituio, viviam sua religiosidade de
forma comunitria e folclorizada.
Durante o sculo XIII, a Igreja Catlica, atenta ao afastamento dos fiis, pro-
Pesquisadora do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional (IPHAN). Mestre em Histria pela FAFICH/
UFMG.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 15-20, dez. 1999
15
Maria Augusta do Amaral Campos
moveu algumas reformas conhecidas como Reforma Gregoriana e implantadas no
IV Conclio de Latro. Defendia, entre outros, os seguintes dogmas: o celibato clerical, o casamento indissolvel e a confisso anual obrigatria.
No entanto, essas reformas no foram
capazes de aproximar os fiis e continuaram preocupando os pensadores da f.
Isso resultou num cisma dentro da Igreja
de Roma. Os dissidentes, atravs do questionamento dos dogmas e sacramentos,
iniciaram o que se denominou de Reforma Protestante.
Na realidade, todo esse processo levaria superao de uma religiosidade popular e regionalizada por uma religio intelectualizada, dogmtica e ideolgica,
fazendo-se necessrias a reviso dos costumes e a imposio de regras morais de
comportamento cristo.
Como reao Reforma, em 1545 e
1563, a Igreja Catlica reuniu-se no Conclio de Trento, promovendo mudanas
que ficaram conhecidas como a ContraReforma. O Conclio nada mais foi do que
a afirmao dos dogmas estabelecidos pela Reforma Gregoriana.
Tanto a Reforma Protestante como a
Contra-Reforma fizeram grandes transformaes no cerne de suas Igrejas. Diferiram em vrias questes de ordem teolgica e poltica, mas ambas tiveram como
objetivo bsico a evangelizao em massa
dos fiis. As duas Reformas caminharam
juntas no mais extraordinrio processo de
aculturao posto em prtica no Ocidente. (Vainfas, 1989, p. 10)
A EVANGELIZAO PROCESSADA
NOS TRPICOS
Portugal transformou-se em Estado
Nacional logo no incio da Idade Moderna e para tal teve a colaborao da Igreja
Catlica. Foi institudo o padroado,1 e os
soberanos portugueses passaram a controlar os negcios espirituais. Esse controle
sobre os assuntos religiosos estendeu-se
tambm s terras conquistadas.
Como a Igreja de Roma, durante a instituio das medidas tridentinas, teve toda
a sua ateno voltada para a Europa, o Estado Portugus, atravs da Companhia de
Jesus, ocupou o espao de catequese e
propagao da f crist, nos padres estabelecidos pela Contra-Reforma, em suas
conquistas ultramarinas.
O controle da religio pelo Estado, em
que muitas vezes questes polticas eram
colocadas acima das religiosas, aliado falta de representantes da Igreja de Roma
com suas normas de evangelizao, provocaram na colnia uma religiosidade peculiar.
Essa religio foi marcada pelo sincretismo na fuso de elementos tnicos dos
brancos, ndios e negros. Foi uma religio
de fachada, exteriorista, ritualista, sem nenhuma convico intimista de f.
A originalidade da cristandade brasileira residira portanto na mestiagem, na excentricidade em relao a Roma e no eterno conflito representado pelo fato de, sendo expresso do sistema colonial, ter que engolir a escravido: cristandade marcada pelo estigma da no fraternidade. (Mello e Souza, 1987, p. 88)
O direito de padroado dos reis de Portugal s pode ser entendido dentro de todo o contexto da histria
medieval. Na realidade, no se trata de uma usurpao dos monarcas portugueses de atribuies religiosas da igreja, mas de uma forma tpica de compromisso entre a Igreja de Roma e o governo de Portugal. (Hoornaert apud Boschi, 1986, p. 42)
16
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 15-20, dez. 1999
SEXUALIDADE, CASAMENTO E CONFISSO NA AMRICA PORTUGUESA
dentro desse contexto que tentaremos analisar os efeitos das medidas tridentinas e os mecanismos por ela utilizados na Amrica Portuguesa.
Como j foi dito anteriormente, a Contra-Reforma foi uma reao contra a crise
que ocorreu na Igreja Catlica durante o
sculo XVI. Instituda para perseguir os
que se afastavam da religio catlica, ela
criou os instrumentos necessrios para
efetivar seus ideais no Tribunal do Santo
Ofcio. Alm da perseguio aos infiis, foram criadas prticas de condutas morais
familiares e sexuais.
Entre as prticas de conduta moral,
apontamos a exaltao ao casamento. O
estado de casado era um ideal a ser perseguido, significando status social e fazendo parte das tradies ibricas herdadas
pela colnia portuguesa na Amrica. Tanto a Igreja como o Estado empenharamse na divulgao do casamento.
Existiram no s textos eclesisticos que
divulgavam o matrimnio, como tambm
manuais de casamento produzidos por
leigos. Esses manuais eram dirigidos aos
homens e tinham como objetivo ensinar
a escolha da esposa ideal, bem como as
atitudes em relao vida conjugal cotidiana e s prticas sexuais. A figura da mulher apareceu ligada da feiticeira, ao diabo; por isso, a necessidade de control-la.
O sexo s era permitido com intuito de
procriao e somente em posies lcitas.
O casamento era indissocivel, portanto,
necessidade da escolha certa. Tudo o que
fosse feito ao contrrio estava contra as leis
de Deus, fazendo com que o indivduo
casse em pecado.
Todas as normas dirigiam-se ao bomsenso, ao meio-termo e sair fora delas implicava a no-aceitao dentro da sociedade. Criou-se, dessa forma, todo um mecanismo de controle ideolgico sobre a populao.
Em cada famlia que se constitua formava-se uma unidade micro do que deveria ser a nao, na qual o pai tinha autoridade total e representava, em pequena escala, o rei ou o sacerdote, estabelecendo, assim, um exerccio de respeito s
normas sociais.
Para garantir a eficcia da pastoral crist, a Igreja utilizou como instrumento a
confisso sacramental. Foi atravs da confisso que ela garantiu o controle dos fiis. Aquele que confessava tinha culpa,
portanto necessitava do perdo, que era
dado via penitncia. Logo, a confisso foi
o discurso da culpa e um ato de sujeio a
essa instituio.
Como ocorreu em relao aos manuais de casamento, tambm existiram os
manuais dos confessores e confidentes.
Nesses manuais ficava bem clara a forma
como o confessor deveria conduzir a confisso e, na qualidade de avaliador da verdade do outro, ele no poderia ser nem
muito benevolente, nem muito duro. O
importante no era o ato em si, e sim o
controle do pensamento. Em relao aos
pecados, a Igreja elaborou manuais prticos do que era permitido e do que no
era. Quanto aos atos sexuais, percebemos
restries a tudo o que pudesse levar ao
prazer. O importante era controlar o desejo. Um outro componente fundamental criado para a eficcia da confisso foi a
figura do delator. Criaram-se, dessa maneira, no seio da sociedade, os guardies
da moral e dos bons costumes.
Durante a estada do visitador do Santo Ofcio, fazia-se uma convocao atra-
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 15-20, dez. 1999
17
CASAMENTO E CONFISSO:
MECANISMOS DE CONTROLE
Maria Augusta do Amaral Campos
vs do Edito de F para que todos os moradores denunciassem os que atentavam
contra a moral e a f. Aqueles que quisessem confessar poderiam faz-lo ainda no
perodo denominado de tempo da graa e seriam absolvidos dos seus pecados.
O que podemos perceber a a figura do
de-lator inserida no cotidiano social.
A convocao do visitador era feita
atravs do Monitrio Geral e, exceto os crimes contra a f e a bigamia, os outros pecados eram colocados de maneira globalizante, possibilitando uma margem enorme de delaes. Portanto, cada indivduo
passou a ser uma ameaa ao outro, alis
muito bem retratada no poema de Gregrio de Matos:
Tal era o medo dos casais em relao
ao Santo Ofcio que era impossvel se sentirem a ss no leito conjugal. Alguns prazeres e caprichos eram sempre persegui-
dos pelo pnico do delator e do inquisidor. De tal forma estava inserido no imaginrio o que era o sexo lcito que qualquer ultrapassagem ao permitido fazialhes sentir pecadores e prestes confisso e tortura. Alm disso, como era no
casamento que o sexo lcito era permitido, os confessores estavam sempre atentos ao que se passava nele. Tentavam controlar os atos e pensamentos dos casais para que no excedessem ao permitido, utilizando-se do instrumento da confisso.
O casamento foi to bem incutido nas
mentalidades que, como vimos acima, excetuando-se os crimes de f, todos os outros confessados ou delatados eram pecados sexuais, se sexo lcito, que no visavam procriao.
No entanto, aparece tambm, entre os
crimes confessados, a discusso entre o estado de casado e de celibatrio. Alguns indivduos se viram frente do visitador por
afirmarem ser o estado dos casados a ordem que mais agradava a Deus.
importante salientar que essa discusso inclua-se num contexto mais amplo.
Quando ocorreu a Reforma protestante,
um dos dogmas da Igreja Catlica o celibato clerical foi abolido pelos dissidentes que acreditavam ser um fingimento
impor o celibato aos religiosos. Como reao, Trento no s reafirmou o celibato clerical como tambm o colocou acima do estado conjugal. Para a Contra-Reforma, o
celibato e a virgindade eram mais abenoados por Deus que o casamento. Logo,
afirmar que o casamento era melhor que
o estado de religioso tornava-se um crime, pois ia contra as normas tridentinas,
portanto, uma heresia.
Durante o perodo colonial o mau comportamento de muitos padres deu margem para que se questionassem suas atitudes pecaminosas e at discutir o celiba-
18
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 15-20, dez. 1999
(...) Em cada porta um freqentado olheiro,
Que a vida do vizinho, e da vizinha
Pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha
Para levar Praa e ao Terreiro.
(Matos apud Vainfas, 1986, p. 41)
Os principais crimes delatados so os
considerados nefandos: sodomia, bigamia, defesa da fornicao, sacrilgios ligados a relaes sexuais, adultrio e concubinato, solicitao e os de negao da castidade como estado ideal. Isso nos leva a
concluir o quanto estavam introjetados na
mentalidade cotidiana os princpios tridentinos de que o ato sexual s era lcito
no sentido da procriao e permitido somente no casamento.
A sexualidade se confundia com o casamento,
legitimando-se nele; o objetivo mximo de um e
de outro era a procriao: como conseqncia
natural, amor e fertilidade acabavam se identificando na mentalidade popular. (Mello e Souza, 1986, p. 13)
SEXUALIDADE, CASAMENTO E CONFISSO NA AMRICA PORTUGUESA
to, colocando-o abaixo do casamento aos
olhos de Deus.
Entretanto, o que percebemos no discurso popular sobre os dois estados era
que, mais do que condenar o celibato, esses indivduos se apegavam ao casamento e o glorificavam. Eles afirmavam que
Deus o fizera primeiro e, desde que fosse
obedecido tudo o que esse mesmo Deus
mandasse, os homens seriam felizes e viveriam bem. Tambm aqui vemos como
as normas tridentinas, no sentido de disciplinar e controlar os homens, haviam se
introjetado em seu imaginrio. O casamento, socialmente valorizado, era uma
meta a se realizar.
Fica-nos a seguinte questo: ser que,
quando colocava o matrimnio acima do
estado religioso, a sociedade fazia isso por
no acreditar no celibato, pois os padres
da colnia portuguesa na Amrica constantemente cometiam os pecados nefandos? Ou porque acreditava que o casamento nos moldes tridentinos, com o intuito da procriao e da obedincia, era
verdadeiramente o estado escolhido por
Deus?
De qualquer maneira, gostaramos de
salientar a forma como a Igreja, utilizando-se eficazmente dos instrumentos criados, foi capaz de controlar e exercer o poder sobre os homens. Acrescente-se que,
para o sucesso dessa empreitada, contou
com a colaborao do Estado. A exaltao
ao casamento no modelo tridentino, no
qual o sexo tinha a funo to-somente
de procriao, era a maneira de controlar
o prazer, o excesso.
Para o Estado, normatizar a populao
atravs do casamento permitiria melhor
govern-la, alm de extrair-lhe maior proveito no sentido de no s provar a recm-criada colnia portuguesa nos trpicos, mas tambm de manter a propriedade. Constituindo famlias, os indivduos
se preocupariam em manter e aumentar
seus bens. Acreditavam ainda que a falta
de base familiar interferia negativamente
no rendimento do trabalho. A famlia possibilitava a sedentarizao da sociedade,
enquanto que indivduos solteiros eram
atrados para uma vida nmade.
A Igreja, atravs da confisso, incentivou no homem o sentimento de culpa, da
angstia moral e, para aplac-la, era necessrio falar, conseguir o perdo. Criouse, por conseguinte, um discurso, por sinal muito bem conduzido pela figura do
confessor.
Detectamos uma relao de dependncia, respeito e medo, na qual o confessor
personificava o condutor do pecador a
Deus, ao estado de graa. Ele analisava o
outro e atravs da penitncia, portanto do
castigo, lhe concedia o perdo. Essa situao representou a submisso do homem
instituio.
Passados trs sculos dessa aculturao
crist realizada no Ocidente pela Igreja,
percebemos o quanto essas normas morais ainda fazem parte do imaginrio da
humanidade e como a vida cotidiana do
homem contemporneo est marcada por
esses valores.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 15-20, dez. 1999
19
Maria Augusta do Amaral Campos
Referncias bibliogrficas
ALMEIDA, Angela Mendes de. Os manuais de casamento dos sculos XVI e XVII. In: Revista
Brasileira de Histria. So Paulo, v. 17, 1989.
BOSCHI, Caio Csar. Os leigos e o poder. Irmandades leigas e poltica colonizadora em Minas
Gerais. So Paulo: tica, 1986.
CAMPOS, Adalgisa Arantes. Consideraes sobre a pompa fnebre na Capitania das Minas
Gerais. O Sculo XVIII. In: Revista do Departamento de Histria. Belo Horizonte: FAFICH/
UFMG, v.4, 1987.
CAMPOS, Adalgisa Arantes. A presena do macabro na cultura barroca. In: Revista do Departamento de Histria. FAFICH/UFMG, v. 5, 1987.
DELUMEAU, Jean. Histria do Medo no Ocidente. 1300-1800. So Paulo: Cia. das Letras, 1989.
FOUCAULT, Michel. Histria da Sexualidade I: a vontade do saber. Rio de Janeiro: Graal, 1977.
LIMA, Lana Lage da Gama. Aprisionando o desejo. Confisso e sexualidade. In: VAINFAS, Ronaldo (Org.). Histria da Sexualidade no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1986.
MELLO E SOUZA, Laura de. O Diabo e a Terra de Santa Cruz. So Paulo: Cia. das Letras, 1987.
MELLO E SOUZA, Laura de. O padre e as feiticeiras. Notas sobre a sexualidade no Brasil Colonial. In: VAINFAS, Ronaldo (Org.). Histria da Sexualidade no Brasil. Rio de Janeiro: Graal,
1986.
VAINFAS, Ronaldo. Trpico dos Pecados; moral, sexualidade e inquisio no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1989.
VAINFAS, Ronaldo. A problemtica das mentalidades e a inquisio no Brasil Colonial. In: Estudos Histricos. v. 1, 1988.
VAINFAS, Ronaldo. A Teia da Intriga. Delao e moralidade na sociedade colonial. In: VAINFAS,
Ronaldo (Org.). Histria da Sexualidade no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1986.
VENNCIO, Renato P. Nos limites da sagrada famlia: ilegitimidade e casamento no Brasil-Colnia. In: VAINFAS, Ronaldo (Org.). Histria da Sexualidade no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1986.
20
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 15-20, dez. 1999
OS ESPELHOS DE PRNCIPES: UM VELHO GNERO PARA UMA NOVA HISTRIA DAS IDIAS
OS ESPELHOS DE PRNCIPES: UM
VELHO GNERO PARA UMA
NOVA
HISTRIA DAS IDIAS
Marcos Antnio Lopes*
RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar o Estado monrquico da poca
Moderna a partir do reconhecimento do ideal tico da realeza edificado durante os sculos XVII e XVIII, e tomando como referncia a evoluo da historiografia poltica no presente sculo.
Palavras-chave: Absolutismo; tica; Histria poltica.
Se a histria fosse intil aos outros homens, seria preciso l-la aos prncipes. No h melhor
meio de lhes ensinar o que podem as paixes e
os interesses, os tempos e as conjunturas, os bons
e os maus conselhos. (Bossuet, 1967)
Estado monrquico da poca
Moderna apresenta-se como
um dos temas clssicos da historiografia europia. De maneira sistemtica, o sculo XIX concedeu espao privilegiado aos estudiosos do Estado moderno. Sem incorrer em exagero, Pierre Chaunu define a historiografia europia do sculo passado como uma histria do Estado no sculo dos nacionalismos. (Chaunu, 1976, p. 65)
O Estado moderno, com sua grande capacidade de organizar homens e reunir
recursos, continua exercendo no Sculo da
*
Histria a mesma atrao que fascinar
Voltaire e a maior parte dos escritores polticos das Luzes. Para Lawrence Stone, isso se deve ao fato de que o Estado monrquico (...) constitui talvez o que a civilizao ocidental trouxe ao mundo de mais
notvel, se no de mais admirvel, no curso dos cinco ltimos sculos. (Stone, 1974,
p. 63)
Durante boa parte do sculo XX, apesar das constantes exortaes metodolgicas de um historiador influente como
Lucien Febvre e do exemplo concreto das
novas pesquisas pouco a pouco inauguradas e consolidadas na Frana, a Histria Poltica, com nfase sobre os aspectos
jurdicos e institucionais das monarquias
modernas, persistiu como horizonte privilegiado de pesquisa. Como frisa Emmanuel Le Roy Ladurie, foi somente quan-
Professor de Histria Moderna Unioeste.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 21-30, dez. 1999
21
Marcos Antnio Lopes
do, nos anos 40 e 50, o grupo dos Annales
firmou-se como establishment historiogrfico que se assistiu a um eclipse da velha
Histria Poltica, transformada ento numa parente pobre das novas tendncias (Le Roy Ladurie, 1985). Jacques Julliard,
num artigo que reflete os movimentos da
historiografia francesa dos anos 70, lembra que
Por uns trinta anos ou talvez um pouco mais, a Histria Poltica viveu em completa desventura entre os historiadores da
Idade Moderna francesa ligados aos Annales. Robert Mandrou, especialista em
Histria da Frana do sculo XVIII, talvez
seja o nico nome de expresso a ter dedicado parte de sua ateno Histria das
estruturas polticas do Antigo Regime nos
anos 60 e 70, fase em que ela gozara de
maior desprestgio. (Mandrou, 1973 e
1978)
O livro de Marc Bloch, apesar do interesse despertado e at de uma certa estupefao provocada poca de seu lanamento, no inspirou estudos que seguissem na mesma trilha (Bloch, 1924). A Histria Poltica fundada em prticas cerimoniais, como o toque mgico da realeza no
Ancien Rgime e em outras dimenses simblicas do territrio poltico, como a crena generalizada no carter sobrenatural
dos reis, no fez descendncia entre os
especialistas franceses.
Nos Estados Unidos, nas dcadas de
40 e 50, um historiador europeu praticamente inaugurou um novo campo de possibilidades para a Histria Poltica. Reelaborando o conceito de Teologia Poltica,
anteriormente trabalhado por historiadores alemes do direito, Ernst Kantorowicz (1985) definiu e ajudou a fixar um novo
questionrio para o estudo da ritualidade
na esfera do poder real na Baixa Idade Mdia e incio dos Tempos Modernos.
Ao contrrio do ocorrido com Os reis
taumaturgos, a obra de Ernst Kantorowicz conheceu um enorme sucesso, acabando por fazer eco surpreendente entre especialistas de muitos centros de pesquisa
norte-americanos. A partir das pesquisas
de Ernst Kantorowicz, desenvolvidas nos
Estados Unidos nas dcadas de 40 e 50,
surgiu um grupo de historiadores especialistas em Histria da Frana, o que se
denomina hoje de escola cerimonialista
norte-americana, responsvel por uma
notvel renovao dos estudos sobre o Estado monrquico francs.
A partir das dcadas de 60 e 70, por influxo de Ernst Kantorowicz e seus herdeiros intelectuais norte-americanos, como
Ralph Giesey, Laurence M. Bryant e Sarah Hanley Madden, a Histria Poltica da
poca Moderna conheceu um sensvel impulso. Como reconhece um especialista
francs, Alain Boureau (1991), a escola
americanista que detm as anlises mais
amplas e completas sobre a linguagem ritual do Estado Monrquico francs, desenvolvida entre os sculos XVI e XVII.
Isso porque entre os cerimonialistas norte-americanos no se observa uma linha
de demarcao rgida entre Histria Medieval e Histria Moderna, mas uma preocupao em distinguir e destacar um pe-
22
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 21-30, dez. 1999
A Histria Poltica tem m reputao entre os
historiadores franceses. Condenada, faz quarenta
anos, pelos melhores entre eles, um Marc Bloch, um Lucien Febvre, vtima de sua solidariedade de fato com as formas as mais tradicionais
da historiografia do comeo do sculo, ela conserva hoje um perfume Langlois-Seignobos que
desvia dela os mais dotados, todos os inovadores entre os jovens historiadores franceses. O
que, naturalmente, no contribui para melhorar as coisas... Tudo tomado em considerao, a
Histria Poltica pereceu, vtima de suas ms
amizades. (Juliard, apud Le Goff & Nora,
1988, p. 180-181)
OS ESPELHOS DE PRNCIPES: UM VELHO GNERO PARA UMA NOVA HISTRIA DAS IDIAS
rodo contnuo no qual as nuanas simblicas das cerimnias monrquicas foram
sistematicamente desenvolvidas na corte
de Frana.
O fechamento cerrado Histria Poltica tradicional, moda do sculo passado e primeiras dcadas do sculo XX, com
seus estudos de natureza predominantemente jurdica e institucional, um fato
inquestionvel na historiografia francesa,
mesmo muito tempo aps os artigos de
Henri Beer e Franois Simiand, publicados na Revue de Synthse Historique na
entrada do sculo.
Intelectual combatente por uma Histria distanciada do esquema historicizante, pista seguida por Febvre a partir
dos anos 30, Henri Beer fundou a Revue
de Synthse, atravs da qual semeou dvidas e questes novas. O artigo clssico
de Franois Simiand, Mthode historique
et science social, de 1903, segundo Jacques Revel, foi o texto desestabilizante
contra as regras da histria positivista
(pela qual) Simiand denunciava os dolos
da tribo dos historiadores: dolo poltico,
dolo individual, dolo cronolgico. (Revel apud Le Goff et al, 1990, p. 567)
Trinta anos mais tarde, Lucien Febvre
e seus seguidores criticaram de forma contundente a Histria Poltica de efemrides
predominante em seu tempo. Como se referiu Jacques Le Goff, h uns quinze anos,
a volta mais importante a da Histria
Poltica (Le Goff, 1990, p. 8). Entretanto,
Ralph Giesey frisa que no se pode construir uma histria do simblico, na esfera
do poder real na Europa de fins da Idade
Mdia e incio da poca Moderna, sem o
slido apoio de uma Histria factual:
eventos, que traduza a permanncia do sentido
de um ato indefinido e mutante; a pesquisa dos
valores simblicos do mesmo cerimonial reclama, por seu lado, um domnio do factual. (Giesey, 1986, p. 580)
Domnio do factual no certamente alcanado pela explorao sistemtica da velha Histria Poltica, ainda que esta tambm seja til, mas sobre os textos de poca deixados em profuso pelos mestres de
cerimnias da monarquia francesa. A nova Histria Poltica, fundada no simbolismo dos cerimoniais monrquicos, vem
ampliando com xito o conceito de Estado moderno do Antigo Regime.
No Grand Sicle o poltico continua a
se manter sob um modelo religioso, mas
as novas circunstncias histricas fizeram
inverter e at apagar completamente certos valores dos velhos espelhos de prncipes. Desde a Antigidade Clssica se conhece no Ocidente uma literatura voltada para a formao moral dos homens de
Estado. Na Idade Mdia os espelhos de
prncipes mantm essa tradio. Produzidos por clrigos, dedicam-se a realar as
virtudes crists para a boa conduo do
governo por parte de prncipes, reis e imperadores. De acordo com Franois Bluche,
A Idade Mdia adorava compor estes manuais
ticos e polticos, logo denominados Songe ou
Miroir du prince. Detalham-se a as virtudes,
mas tambm os deveres do prncipe ideal. (...)
No sculo XVII este gnero no existe verdadeiramente. (...) Mas as Histrias da Frana,
eruditas ou populares, desenham a imagem do
rei, de Pharamond o chefe mstico a Lus XIII o
Justo, mostrando implicitamente tambm o que
se espera de Lus XIV, aquilo que se admira nele.
(Bluche, 1986, p. 261)
uma informao detalhada sobre as diversas formas de celebraes sucessivas de um mesmo cerimonial nas monarquias ocidentais necessita
praticamente da redao de uma histria dos
exatamente o que fazem certos autores, e podemos perceber na literatura poltica do sculo XVII um Lus XIV por ele
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 21-30, dez. 1999
23
Marcos Antnio Lopes
mesmo, ou seja, o que o Grande Rei acha
que se deve esperar da realeza. Certamente que no no esprito da Idade Mdia, o
que seria um perfeito anacronismo. Dessa forma, no foram somente as obras de
Histria que se ocupam do ideal tico da
realeza, mas quase todos os textos de natureza poltica, e at mesmo em obras no
explicitamente dessa natureza, como um
sem nmero de Memrias entre as quais
se destacam os escritos de Madame de
Svign. Assim sendo, no se cometeria
grande ousadia em afirmar que a figura
do prncipe cristo absorve a literatura do
Ancien Rgime.
A poca Moderna, sua maneira, deu
seqncia a esse tipo de literatura poltica. No sculo XVII, muitos escritores polticos, defensores do absolutismo, ocuparam-se em traar normas para guiar os governantes pela via da prudncia, justia,
caridade e sabedoria, entre tantas outras
virtudes de um extenso catlogo. Mas o
fizeram por meio de exortaes bem menos diretas e doutrinrias, pelo emprego
de um mtodo discursivo claramente mais
terico e abstrato, at porque a realeza no
sculo XVII tende a sobrepor-se a todos,
numa espcie de isolamento simblico cuja expresso mais complexa foi alcanada
com Lus XIV. Ao dirigir-se ao soberano
absoluto, foi preciso modular a nfase das
exortaes. Acerca desse aspecto Robert
Muchembled se pergunta:
A fora principal do absolutismo no est no fato
de fundar o consenso social sobre a qualidade
sagrada e inacessvel do prncipe, que no possvel somente admirar, como se adora a divindade, sob pena de ser lanado para a periferia
dessa verdadeira cidade de Deus sobre a terra?
Se revoltar pura e simplesmente cometer um
crime de lesa-majestade, reunindo as cortes demonacas em rebelio contra o criador. (Muchembled, 1994, p. 127)
24
De todo modo, os espelhos de prncipes modernos, apesar de incorporarem
elementos novos, mantiveram-se como
uma espcie de catecismo real, trazendo
as normas para administrar o Estado, segundo as virtudes crists. Tais textos modelam a imagem tradicional do prncipe,
esboada desde a Baixa Idade Mdia e embelezada pelas geraes posteriores, constituindo uma espcie de catlogo das virtudes convenientes a uma autoridade crist, comumente usado como obra pedaggica para a edificao da realeza. O prncipe cristo na Frana Moderna, para alguns autores, aproxima-se mais da perfeio por assumir posturas cada vez mais
polticas; para outros, por observar valores morais em sua conduta. Na Idade Mdia francesa, a idia do prncipe perfeito
esteve intimamente ligada piedade e
contrio.
Mas foi a partir de meados do sculo
XVII que se assistiu ao mximo desenvolvimento do Estado absolutista na Frana;
em seguida, e talvez por aderncia a esse
dado, por se referir ao sculo XVII francs como um perodo de intensa propaganda monrquica, pela proliferao de
um autntico dilvio de literatura poltica (Prlot, 1974), que com alta densidade
metafrica retrata a realeza sagrada do Ancien Rgime em suas estruturas simblicas
mais significativas, fazendo com que as
grandes cerimnias do Estado monrquico atingissem seu mximo desenvolvimento e complexidade por essa poca.
Richelieu, Lus XVI, La Bruyre e Bossuet abordam temas polticos muito semelhantes, mas no ao ponto de constiturem uma corrente de pensamento, uma
vez que exprimem idias bem contraditrias sobre um mesmo aspecto. A realeza est no centro do discurso poltico. Apesar do grande investimento na figura do
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 21-30, dez. 1999
OS ESPELHOS DE PRNCIPES: UM VELHO GNERO PARA UMA NOVA HISTRIA DAS IDIAS
prncipe, no se verifica uma unidade de
sentido a seu respeito. No se pode negar
que, tanto nos grandes quanto nos pequenos autores, a tradio terica do absolutismo esteve ligada realeza.
Entretanto, o que se verifica um emaranhado de imagens em que o tradicional catlogo de virtudes e vcios da realeza, varia sensivelmente de autor para
autor. Na Baixa Idade Mdia houve uma
teoria homognea sobre a realeza, poca
em que a esfera poltica se equilibrava exclusivamente sobre uma plataforma religiosa. Uma realeza evangelicamente correta nesse perodo bastava para garantir
o assentimento unnime sobre si mesma.
Como afirma Jacques Le Goff, o equilbrio
medieval, a interdependncia das trs ordens s pode ser garantida pela presena
real, por sua mstica ubiqidade.
O fato que no h um enfoque unvoco sobre a realeza no sculo XVII. Fnelon e Bossuet, homens de um mesmo
crculo, exprimem idias amplamente
contraditrias sobre o mesmo tema. Nos
Discours sur lhistoire universelle e na
Politique tire des propres paroles de lEcriture Sainte Bossuet traou o retrato
ideal do soberano. Segundo Jacques Le
Brun, a figura de Lus XIV exerceu um imprio absoluto sobre o Bispo de Meaux,
que nunca lhe dirigiu uma admoestao
severa. Refletindo sobre o dilema luiscatorziano, pendente entre a glria pessoal
e a salvao pblica, Fnelon era capaz
de crticas desconcertantes. Numa carta
dirigida ao Rei ele adverte:
Como demonstram vrios autores
(Mousnier, 1972; Truc, 1947; Ferrier-Caverivire, 1981), os miroir des princes so um
dos gneros dominantes na cultura poltica da segunda metade do sculo XVII.
Salvaguardando certas nuanas, no me
parece arriscado falar de espelhos de prncipes do sculo XVII, principalmente porque o domnio da moralidade real uma
coordenada ainda muito importante no
perodo. Como se refere Michel Tyvaert,
Numerosos foram, na Idade Mdia, os miroir
des princes encarregados de lembrar aos soberanos a prtica de algumas altas virtudes. Se as
obras de um Erasmo ou de um Pierre Nicole
so, nos tempos modernos, as herdeiras diretas
deste gnero literrio, as histrias de Frana [do
sculo XVII] tomam igualmente parte nesta herana. Elas tambm pretendem dar lies de moral a seus leitores, e muito particularmente ao
primeiro dentre eles, o rei. Elas lhe propem como exemplo a conduta de seus predecessores sobre o trono, e certamente vo at o ponto de precisar as qualidades e defeitos de cada um ao fim
da narrativa que lhe consagrada. (Tyvaert,
1974, p. 531)
Esta glria, que endurece vosso corao, vos
mais cara que a justia, que vosso prprio repouso, que a conservao de seu povo que perece todos os dias de doenas causadas pela fome,
enfim que vossa salvao eterna incompatvel
com este dolo de glria. (cit. In: Roger, 1962,
p. 261)
Para Georges Durant, a literatura do sculo XVII apresenta duas tendncias convergentes: as tentativas de uma quase total divinizao do soberano Vs sois Deus
na terra, afirmava Bossuet , e o desejo
de guiar-lhe os passos por meio de lies
exemplares de conduta, no exerccio do
mtier royal (Durand, 1969). A realeza como o astro do dia da literatura poltica,
a todo tempo empenhada em traar uma
pedagogia real.
Os autores do sculo XVII acima referenciados enquadram-se num mesmo
ethos, ou seja, no esprito poltico do Grand
Sicle, que Nicole Ferrier-Caverivire classificou em trs vertentes: a corrente crtica, da qual so expoentes Fnelon e La
Bruyre, e que desfere alguns ataques
frontais realeza solar; a linhagem fr-
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 21-30, dez. 1999
25
Marcos Antnio Lopes
As dimenses religiosas do absolutismo monrquico, os seus aspectos teolgico-polticos dificilmente so expostos por
historiadores das idias polticas. Tais aspectos no correspondem muito bem a
um certo carter pragmtico, recorrente
na obra da maioria dos especialistas da
rea, pelo menos at poca bem recente.
Desse modo, estudam-se os pensadores
polticos quase exclusivamente em funo
de suas contribuies em torno de problemas que esto sendo vivenciados. Os
programas universitrios em Histria das
Idias Polticas so montados a partir das
grandes expresses do pensamento poltico secularizado do sculo XVI.
Formulaes do tipo tudo comeou
com Maquiavel ou da poltica de Maquiavel a nossos dias muitas vezes excluem textos polticos encobertos por um discurso teolgico-religioso muito marcante
em autores bem posteriores a Maquiavel.
Se Maquiavel e Hobbes operaram um verdadeiro curto-circuito no domnio das
idias polticas, queimando os fios da tradio pelo afastamento das nuvens da
transcendncia, que por to longo tempo
obscureceram o territrio do poltico, no
cabe mais buscar apenas suas ressonncias pelo futuro, os seus elementos intemporais.
No campo da Histria das Idias, essa
hoje uma atitude metodologicamente
anacrnica. Com certeza, um timo representante da nova Histria das Idias o
historiador de Cambridge, Quentin Skinner. Abandonando o modelo tradicional
das grandes obras e das grandes correntes de pensamento poltico, Skinner desce ao leito largo das diversas tendncias,
dos autores menores e esquecidos, dos trabalhos considerados contemporaneamente como fruto de pensadores datados,
integrando, compreendendo e valorizando seus textos segundo o peso que tinham
em seus respectivos contextos. (Skinner,
1985)
Como se refere Michel Winock, a Histria das Idias da poca Moderna no
pode ser mais concebida simplesmente
como a marcha dos Estados Modernos
ao absolutismo monrquico, na qual s
tm assento os grandes nomes (Winock
apud Rmond, 1988, p. 236). Nesse velho
departamento da Histria Poltica, que de
vinte anos para c passou da pura Histria da Filosofia a uma Histria das Mentalidades Polticas, preciso inserir tambm
os autores menores que sequer foram notados em seu prprio tempo, acentuando
os valores intrnsecos da obra no contexto de sua produo sem a obsessiva preocupao em ouvir os seus ecos na posteridade, numa espcie de teleomania. Esse
um dos pecados de muitos professores
de teoria poltica, como se um Hobbes ou
26
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 21-30, dez. 1999
mito do corao, que esteve marcada por
um devotamento sincero ao monarca, como o autntico desejo de reformar sua ndole herica e guerreira; e, por fim, a literatura encomistica dos turiferrios da
Academia Francesa, que, por meio de homenagens obrigadas, exalta a imagem
real at ao artifcio e ao exagero (cit. Ferrier-Caverivire, 1981). Acerca dessas clebres homenagens, Voltaire desperta o riso
ao defini-las no tempo de Lus XIV. Fazendo o discurso sair da boca de um refinado
personagem ingls, perplexo diante da encenao, ele observa:
Tudo que enxergo nesses discursos que o novo
membro, tendo assegurado que seu predecessor
era um grande homem, que o cardeal Richelieu
era um muito grande homem, que o chanceler
Sguier era um bastante grande homem, que
Lus XIV era ainda mais do que um muito grande homem e, que ele, diretor, no deixa de ter
parte nisso. (Voltaire, 1978, p. 44)
OS ESPELHOS DE PRNCIPES: UM VELHO GNERO PARA UMA NOVA HISTRIA DAS IDIAS
um Maquiavel fossem meramente futurologistas, que no tenham se preocupado e tentado responder em seus textos aos
problemas colocados pelo presente vivido, como se um Locke ou um Rousseau,
ao parar para pensar em suas teorias polticas, refletissem: o que que eu vou escrever agora para fundir os neurnios da
posteridade? A esse respeito Raoul Girardet afirma que
Correndo o risco de parecer a prpria
voz da vanguarda, no se trata certamente de fazer uma Histria das Idias Polticas no estilo dos grands doctrinaires, como
criticou asperamente Marc Bloch, para
acentuar o desinteresse de Bossuet pelo
toque taumatrgico da realeza. Trata-se de
revisitar as idias polticas de Bossuet e
seus contemporneos, no apenas em
suas relaes com o Estado monrquico,
mas em suas confidncias com as crenas
religiosas, as doutrinas cientficas e os mitos populares. Em sntese, em suas confluncias com o esprito social, em sentido lato. Como aponta Jean Touchard,
uma idia poltica tem uma certa espessura, um certo peso social. (Touchard,
1970, p. 3)
Dessa forma, procura-se no confundir o domnio da teoria poltica com o campo mais amplo, e talvez mais fecundo, da
Histria das Idias Polticas. De fato, do
ponto de vista da metodologia, as idias
polticas foram concebidas durante muito tempo como conjuntos genricos de
pensamento, como doutrinas completas
em forma de sistema filosfico fechado.
Sem desconsiderar a importncia de um
conhecimento mais aprofundado das
doutrinas polticas, a Histria das Idias
Polticas pensada hoje de maneira bem
diferente. Esfora-se por integrar as doutrinas, os sistemas filosficos dos grandes autores ao complexo de crenas polticas comum tambm a seus contemporneos no eruditos, da a proposta de uma
histria social das idias, tomando por objeto o seu enraizamento e circulao, lembra Roger Chartier (Chartier, 1990, p. 48).
Tal o caso da crena generalizada, nos
sculos XVI e XVII, na natureza diablica
das prticas mgicas, aquela histeria social que Norman Cohn rotulou elegantemente de os demnios internos da Europa.
(Cohn, 1975)
Ao mesmo tempo que uma estratgia
consciente de luta aberta do Estado absolutista, que dessa forma inventa a marginalidade no Ocidente, o fenmeno da ca-
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 21-30, dez. 1999
27
O estudo do que se designa habitualmente pelo
termo ambguo de Histria das Idias Polticas
no cessou de suscitar, e h vrias geraes, obras
belas e fortes. (...) [Entretanto], com algumas
excees, e essas excees so recentes, todas tendem a restringir sua explorao ao domnio exclusivo do pensamento organizado. (...) no final
das contas a anlise se acha sempre, ou quase
sempre, reduzida ao exame de certo nmero de
obras tericas, obras classificadas em funo do
que a tradio lhes atribui em valor de intemporalidade (...) Tudo o que escapa s formulaes
demonstrativas, tudo o que brota das profundezas secretas das potncias onricas permanece,
de fato, relegado a uma zona de sombra(...). (Girardet, 1987, p. 9-10)
Analogamente, John G. Gunnel (1981)
adverte:
Enquanto a atitude histrica trata o passado como um objeto intrinsecamente digno de investigao, a atitude prtica mostra interesse pelo
passado em relao com o presente. (...) Enquanto a atitude histrica a de produzir um relato
concreto do passado, a atitude prtica tende a
tratar o passado em termos derivados do pressente, em ler os eventos em sentido contrrio,
em compreender o passado em relao com o presente, em selecionar o que relevante para discutir problemas contemporneos, para justificar e condenar. (p. 21)
Marcos Antnio Lopes
a s bruxas enraizou-se profundamente
entre as elites, o que Robert Muchembled
chama de a ausncia do sentido do impossvel, s muito lentamente desenvolvido a partir dos progressos do racionalismo cientfico. Como reflete Georges
Bouthoul (1976),
Toda mentalidade constitui, no conjunto e na
mdia dos casos, um edifcio lgico cujas peas
se suportam reciprocamente e se encadeiam entre si por relaes de crena. As mentalidades
so compostos psicolgicos extremamente estveis. No se pode mudar vontade, mesmo sob
coao. Se nos separarmos de nosso meio social,
como Robinson Cruso, nossa mentalidade nos
permanecer fiel.
Torna-se, ento, compreensvel como
um humanista do porte de um Jean Bodin, que transita com fantstica erudio
da filosofia economia, no somente pode
acreditar em feiticeiras e malefcios, mas
foi ao ponto de escrever obras de combate a esse respeito.
O enfoque teolgico-religioso do mundo se apresenta como um trao importante entre os escritores polticos do Antigo
Regime. Segundo Cardin Le Bret, terico
do poder real, a marca da realeza a de
no depender seno de Deus. O direito
divino isola a realeza numa espcie de empreo da histria, anulando a velha teoria
medieval do poder ascendente: a soberania vinda de Deus para o povo, e deste
para os reis. Na poca Moderna a teoria
descendente do poder reina absoluta, ficando interditada qualquer intermediao
popular na esfera da soberania. A crise de
insegurana dos sculos XVI e XVII ajudou a definir uma formatao cultural
28
submissa a um sistema hierrquico cujo
centro vital o prncipe, o nico elemento capaz de dissipar as trevas da desordem e colocar o reino na rota da paz e da
prosperidade.
Num trabalho de Histria das Idias,
cujos dados empricos so textos polticos,
a anlise deve centrar-se sobre uma multiplicidade de discursos. Mas, como recorda um especialista em histria do sculo
XVII, Pierre Goubert, sempre necessrio ter em mente que essas fontes
exprimem antes de tudo seus autores, o clima
socioeconmico-intelectual, etc... no qual eles
nasceram, tradies geralmente muito antigas,
esquemas, mitos velhos de vrios sculos (...);
bom saber que uma grande parte das idias ou
dos princpios propagados [no Antigo Regime]
eram frmulas que se arrastavam desde Santo
Toms, seno desde perodos mais antigos.
(Goubert, cit. por Duccini apud Mchoulan,
1985, p. 371).
Com efeito, a realeza francesa se inscreve na histria mtica de um povo, cujo
grande marco a sagrao de seus reis,
atravs de uma interveno providencial. Essa relao privilegiada com o celeste, que fez da realeza francesa um arqutipo entre as demais realezas europias,
est na base de um imaginrio poltico de
tipo cosmolgico, definido pela crena numa hierarquia celeste e terrena, rompido
no Ocidente Moderno apenas com os desdobramentos da Revoluo Cientfica do
sculo XVII. De fato, a realeza sagrada como centro da narrativa atravessou mil
anos de histria para atingir o sculo XVII
de forma magnificente.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 21-30, dez. 1999
OS ESPELHOS DE PRNCIPES: UM VELHO GNERO PARA UMA NOVA HISTRIA DAS IDIAS
Referncias bibliogrficas
BLOCH, M. Les rois thaumaturges. Strasbourg: Librairie Istra, 1924. (H trad. Bras. Cia. das
Letras, 1993).
BLUCHE, F. LAncien Rgime: institutions et socit. Paris: ditions de Fallois, 1993.
BLUCHE, F. Louis XIV. Paris: Arthme Fayard, 1986.
BOSSUET, J. B. Discours sur lhistoire universelle. A monseigneur le Dauphin. Paris: Flammarion,
s/d.
BOSSUET, J. B. Politique tire des propres paroles de lEcriture Sainte. Genve: Droz, 1967.
(Edition critique avec introduction et notes par Jacques le Brun).
BOUREAL, A. Les crmonies royales franaises entre performance juridique et comptence
liturgique. In: Annales Esc. Paris, n. 6, 1991.
BOUTHOUL, G. Sociologia da poltica. So Paulo: Difel, 1967.
BRYANT, L. M. La crmonie de lentre Paris au Moyen ge. In: Annales Esc. Paris, n. 3,
1986.
BURKE, P. A fabricao do rei. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
CHARTIER, R. A Histria cultural entre prticas representaes. So Paulo: Difel, 1990.
CHAUNU, P. A civilizao da Europa Clssica. Lisboa, Estampa, 1987. 2v.
CHAUNU, P. A Histria como cincia social. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
COHN, Norman. Europes Inner Demons. An enquiry inspired by the great witch-hunt. London, Chatto, 1975.
DUPRONT, A. Problmes et mthodes dune histoire de la psychologie collective. In: Annales
Esc. Paris, n. 2, 1965.
DURAND, G. Etats et institutions. XVI-XVIIe sicles. Paris: Armand Colin, 1969.
ELIADE, M. Lo sagrado y lo profano. Madrid: Guadarrama, 1970.
ELIAS, N. La socit de cour. Paris: Flammarion, 1985.
ELIAS, N. O processo civilizacional. Lisboa: Dom Quixote, 1990.
FERRIER-CAVERIVIRE, N. Limage de Louis XIV dans la littrature franaise de 1660 1715.
Paris: PUF, 1985.
FERRIER-CAVERIVIRE, N. Le Grand Roi laube des lumires (1715-1751). Paris: PUF, 1985.
FRAZER, J. O ramo de ouro. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981.
GIESEY, R. Le roi ne meurt jamais. Paris: Arthaud-Flammarion, 1987.
GIESEY, R. Modles de pouvoir dans les rites royaux en France. In: Annales Esc. Paris, n. 3, 1986.
GIRARDET, R. Mitos e mitologias polticas. So Paulo: Cia. das Letras, 1987.
GOUBERT, P. Lancienne socit dordres: verbiage ou realit? In: Cilo parmi les hommes. Paris:
E. H. E. S. S., 1976.
GUNNEL, J. Teoria poltica. Braslia: EUB, 1981.
HUPPERT, G. Lide de lHistoire parfaite. Paris: Flammarion, 1973.
JULLIARD, J. A poltica. In: Jacques LE GOFF e Pierre NORA. Histria: novas abordagens. Rio
de Janeiro: Francisco Alves, 1988.
KANTOROWICZ, Ernest. Secretos de Estado (Un concepto absolutista y sus tardios origenes
medievales). Estudios Politicos, Madrid, n. 104, 1959.
KANTOROWICZ, Ernest. Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teologia poltica medieval.
Madrid: Alianza Editorial, 1985.
KANTOROWICZ, Ernest. Mourir pour la patrie. Paris: PUF, 1984.
LA BRUYRE, Jean de. Les caractres ou les moeurs de ce sicle. Paris: Hachette, 1890. (Publis
avec Discours sur Thophraste suivis du Discours lAcadmie Franaise. Notes de G. Servois
et A. Rbelliau).
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 21-30, dez. 1999
29
Marcos Antnio Lopes
LE GOFF, J. et al. A nova Histria. Coimbra: Almedina, 1990.
LE GOFF, J. et al. A Histria nova. So Paulo: Martins Fontes, 1990.
LE GOFF, J. Notas sobre sociedade tripartida, ideologia monrquica e renovao econmica na
cristandade do sculo IX ao XII. In: Para um novo conceito da Idade Mdia. Lisboa: Estampa, 1980.
LE ROY LADURIE, E. Robert Mandrou. In: Annales Esc. Paris, Jan./Mar., 1985.
LE ROY LADURIE, E. Systme de la cour. (Versailles vers 1709). In: LARC. Marseille, n. 85, 1976.
LOUIS XIV. Mmoires. Paris: Le livre club du libraire, 1960. (Avec introduction par Jean Longnon).
MADDEN, Sarah Hanley. Lidologie constitutionnelle en France: le lit de justice. Annales Esc.,
n. 1, 1982.
MADDEN, Sarah Hanley. Le lit de justice des rois de France. Paris, PUF, 1991.
MANDROU, R. Introduccion a la Francia Moderna (1500-1640). Ensayo de psicologia histrica.
Mxico: UTEHA, 1969.
MANDROU, R. La raison du prince. Paris: Marabout, 1978.
MANDROU, R. Louis XIV en son temps. Paris: Armand Colin, 1973.
MCHOULAN, H. (Org.). LEtat Baroque (1610-1652). Paris: J. Vrin, 1985.
MOUSINIER, R. La formation des rois du XVIIe sicle. In: Les institutions de la France sous la
monarchie absolue. Paris: PUF, 1972. v. 2.
MOUSINIER, R. La monarquia absoluta en Europa: del siglo V a nuestros das. Madrid: Taurus,
1986.
MOUSINIER, R. Les concepts dordres, dtats, de fidlit et de monarchie absolue en
France de la fin du XVe sicle la fin du XVIIe. In: Revue Historique. Paris, n. 2, 1972.
MOUSINIER, R. Monarchies et royauts. De la prhistoire nos jours. Paris: Perrin, 1989.
MOUSINIER, R. Problmes de mthode dans ltude des structures sociales des XVIe, XVIIe et
XVIIIe sicles. In: Revue Historique. Paris, n. 3, 1964.
MUCHEMBLED, R. Le temps des supplices. De lobissance sous les rois absolus. Paris: Arthme
Fayard, 1991.
MUCHEMBLED, R. Socits, cultures et mentalits dans la France Moderne. Paris: Armand
Colin, 1994.
PRLOT, M. As doutrinas polticas. Lisboa: Presena, 1974. v. 1.
RMOND, R. (Org.). Pour une Histoire Politique. Paris, Seuil, 1988.
RICHELIEU. Testament politique. In: Oeuvres du Cardinal de Richelieu. Paris: Plon, 1933. (Avec
introduction et des notes par Roger Gaucheron).
ROGER, J. Panorama illustr du XVIIe sicle. Le grand sicle. Paris: Seghers, 1962.
SKINNER, Q. Los fundamentos del pensamiento poltico moderno. Mxico: Fondo de Cultura
Economica, 1984, v. 1.
STONE, L. Les causes de la rvolution anglaise. Paris: Flammarion, 1974.
TOUCHARD, J. (Org.) Histria das idias polticas. Lisboa: Presena, 1976, v. 1.
TRUC, G. Education des princes. Paris: Editions de Fontenelle, 1974.
TYVAERT, M. Limage du roi. Lgitimit et moralit royales dans les histoires de France au XVIIe
sicle. In: Revue de Histoire Moderne et Contemporaine. Paris, n. 21, 1974.
VOLTAIRE. Cartas inglesas e dicionrio filosfico. So Paulo: Abril Cultural, 1978. (Coleo Os
Pensadores).
30
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 21-30, dez. 1999
CULTURA, MEMRIA E IDENTIDADE CONTRIBUIO AO DEBATE
CULTURA, MEMRIA E IDENTIDADE
CONTRIBUIO AO DEBATE*
Jos Mrcio Barros**
RESUMO
Escrito originalmente como contribuio ao debate sobre O direito
memria, realizado no II Encontro Intermunicipal de Cultura, este
trabalho aborda a questo da memria a partir das contribuies trazidas pela Antropologia Social e pela Histria contempornea, especialmente no que se refere perspectiva significacional da cultura e
da identidade. A questo central tratada refere-se aos desafios que as
sociedades atuais, marcadas pela globalizao das identidades, apresentam para a anlise da identidade, da memria e seus papis na
construo da cidadania.
Palavras-chave: Memria; Identidade; Histria.
O passado e o presente no so coisas estveis
tornadas interpenetrveis pela memria, que arruma e desarruma as cartas que vai embaralhando. O passado no ordenado nem imvel
pode vir em imagens sucessivas, mas sua verdadeira fora reside na simultaneidade e na multiplicidade das visagens que se depem, se desarranjam, combinam-se umas s outras e logo
se repelem, construindo no um passado, mas
vrios passados... vo e vm segundo as solicitaes da realidade atual tambm fictcia porque sempre em desgaste e capaz de instituir
contemporaneidade com o passado, igual que
pode estabelecer com o futuro tornando de vidro as barreiras do tempo. (Nava, 1974)
odernamente, o conceito de cultura se refere a toda e qualquer
ao humana sobre a natureza
e, por extenso, aos resultados e produ-
tos dessa ao. Decorre desse conceito a
possibilidade de se afirmar que, tanto a
ao, que trabalho e transformao,
quanto seu resultado produtos e processos culturais definem e so definidos
por padres, normas e valores, provenientes de relaes sociais desenvolvidas
por sujeitos em contextos e situaes especficas.
A experincia e formao cultural de
um indivduo so, portanto, o resultado
do desenvolvimento, a partir de processos de socializao, de um repertrio que,
compartilhado com o grupo social a que
pertence, viabiliza sua existncia e permanncia no coletivo. Indivduo e grupo
existem porque partilham um repertrio
Texto apresentado na mesa-redonda O direito memria no II Encontro Intermunicipal de Cultura,
realizado entre os dias 29 de maio e 1 de junho de 1996, na cidade de Vitria, ES. Parte das idias deste
texto foram publicadas em outros artigos e tiveram a importante contribuio de Maria Helena Cunha,
Nsio Teixeira e Patrcia Moran, com quem dividi a responsabilidade da concepo e implantao do
Centro de Referncia Audiovisual de Belo Horizonte.
** Professor da PUC Minas e da UFMG.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 31-36, dez. 1999
31
Jos Mrcio Barros
de significados, capaz de tornar possvel
a comunicao e a identificao.
Esse repertrio se ordena atravs de sistemas de cdigos que traduzem as representaes sociais prprias de sociedades
e grupos sociais especficos, tomados em
contextos tambm especficos. Pode-se
afirmar, como o faz a Antropologia Social
contempornea, que a noo de cultura
parte do estabelecimento de uma unidade fundamental entre ao e representao, unidade esta que est dada em todo
o comportamento social (Durham, 1980),
ou seja, a prpria ao j representao,
pois a traduo de sistemas de valores,
padres e concepes de vida.
Assim, o produto cultural, seja qual for
o seu formato e suporte (hbitos cotidianos, obras de arte, ritos religiosos, modelos arquitetnicos etc.) passa a representar algo que lhe anterior e maior porque
tanto a ao que o engendra quanto os
resultados e significados que adquire implicam a disposio e o uso de representaes simblicas inerentes a cdigos ou
sistemas de classificao de determinados
grupos e sociedades.
Ao se entender que os processos sociais e culturais s se realizam atravs de
sistemas simblicos, confere-se cultura
uma dimenso coletiva e dinmica que
pressupe a troca de representaes, de
valores, de leituras da sociedade. Podemos
afirmar, ento, que a cultura, como sugere a antroploga Ruth Benedit, uma espcie de lente atravs da qual os homens
orientam e do significado s suas aes,
atravs da manipulao simblica, que
atributo fundamental de toda prtica humana. Ou seja, a cultura ponto de onde
se avista e se constitui a realidade; condio para a construo da histria e da
memria de um povo e, portanto, formadora de sua identidade.
Mas a sociedade moderna e, se quiserem, a sociedade ps-moderna, marcada por uma tenso contnua entre a homogeneidade e a heterogeneidade, tomadas aqui como dimenses complementares que resultam de uma organizao social, ao mesmo tempo localista e globalista. Como afirma o antroplogo Gustavo
Lins Ribeiro, nessas sociedades a tenso
heterogneo/ homogneo situa-se, assim,
no campo das contradies, criada por foras globalistas versus localistas. (...) A proximidade e interdependncia das diferenas, que se do de maneira cada vez
mais complexa e crescente, so fatores que
contribuem tanto para a percepo de encolhimento do mundo contemporneo
quanto para a fragmentao das percepes individuais, num movimento duplo
de homogeneizao e de heterogeneizao que se d pela exposio simultnea a
uma mesma realidade compartilhada por
olhares claramente diferenciados.
Conseqentemente, os fenmenos socioculturais localizados e especficos passam a exigir uma anlise no mais centrada apenas em si prprios, pois resultam
de uma estrutura social, que distribui seus
bens materiais e informaes de maneira
diferenciada e cada vez mais inter-relacionada.
Assim, o termo cultura passa a se referir a tudo o que marca a semelhana e a
diferena entre os indivduos e os povos.
A identidade dos indivduos, grupos e sociedades passa a ser pensada como decorrncia da multiplicidade de suas referncias constitutivas, ora localistas, ora globalistas.
Portanto, a identidade cultural nas sociedades complexas ser a traduo da diversificao das experincias sociais e de
seus sistemas de representao, apontando para o fato de coexistirem em situao
32
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 31-36, dez. 1999
CULTURA, MEMRIA E IDENTIDADE CONTRIBUIO AO DEBATE
de contato cada vez mais recorrentes, distintas e, s vezes, divergentes formas de
conceber e agir sobre o mundo, inaugurando um processo contnuo de negociao e comunicao.
Delineia ainda esse quadro o fato de
que, mesmo em sociedades que definem
com maior rigor o espao de autonomia
individual, inexiste um processo de socializao nico e integral dos indivduos de
um mesmo grupo ou sociedade. O indivduo moderno e ps-moderno vive diferentes padres e dinmicas culturais.
possvel, ento, afirmar que, para alm da
heterogeneidade e da complexidade, marca essa dinmica cultural a maneira diferenciada e contraditria com que cada um
dela participa.
Se a identidade cultural de uma sociedade, grupo ou indivduo, se os significados de suas tradies, de suas prticas e
hbitos culturais s podem ser pensados
a partir do sistema de representao e classificao a que pertencem, este resulta de
um singular processo de troca entre universos cada vez mais intercambiveis, resultado de complexas interaes e negociaes simblicas.
Todas as sociedades mudam. As mais
complexas a uma velocidade maior; as
menos complexas, mais lentamente. O
tempo, elemento importante na anlise da
cultura, encerra sempre uma tenso: A
oposio antigo/moderno um dos conflitos atravs dos quais as sociedades vivem as suas relaes contraditrias com o
passado (Legof, 1984). Na sociedade complexa urbano-industrial, os processos de
transformao so muito rpidos e fazem
com que o indivduo se reproduza socialmente de forma fragmentada em seu prprio meio.
Tal dinmica e velocidade costumam
sugerir aos seguidores de Adorno, Hork-
heimer e Marcuse o advento de uma sociedade de massa, marcada pela perda irremedivel e irrecupervel das identidades culturais. A coisificao do esprito
e a unidimensionalidade da cultura de
massa so marcas dessa viso apocalptica-contempornea. Tal viso, entretanto,
ao considerar a cultura como unificada pela Indstria Cultural, toma o sujeito receptor como agente passivo, esquecendo de
qualific-lo como o agente receptor que
manipula os novos cdigos simblicos
luz de seu contexto cultural, que amplo
e variado.
Na verdade, a cultura sempre uma
experincia seletiva. A diversidade de produtos e manifestaes culturais oferecida
pela indstria cultural nas sociedades
complexas no se implanta nos indivduos como uma espcie de terreno virgem,
pois estes possuem cdigos, referenciais
a partir dos quais realizam ativa e seletivamente sua leitura do mundo.
O desafio da experincia cultural, hoje,
parece nos remeter a trs ordens de situaes/problema:
1. A primeira, referente a sujeitos e grupos que resistem e sobrevivem fechados sobre si prprios, desenvolvendo mecanismos de controle da
reproduo de seus sistemas de representao, esquivando-se do contato com o diferente. Incluem-se,
nessa situao, minorias tnicas, religiosas, grupos radicais urbanos,
que, atravs de vises fortemente etnocntricas, desenvolvem uma postura de recusa mudana. Aqui o desafio a compreenso da permanncia e suas vrias formas, num mundo cada vez mais mutante.
2. A segunda, referente aos grupos e
sujeitos de grandes centros urbanos
industrializados, cujo processo de
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 31-36, dez. 1999
33
Jos Mrcio Barros
globalizao da economia j atinge
seu cotidiano cultural, atravs da exposio e do convvio com uma gama variada de representaes que
transcendem origens geogrficas, limites nacionais e determinaes
temporais. Trata-se de uma experincia onde se intensificam as misturas, pulverizam-se as identidades e
homogeneizam-se as subjetividades
(Rolnik, 1996). Aqui o desafio compreender como as modelaes do
universo subjetivo advindas das velozes transformaes geradas pelo
mercado cultural globalizado convivem com as foras locais, as referncias identitrias tradicionais, ou seja,
como compreender as relaes entre o mundializado e o local.
3. A terceira diz respeito quele segmento da sociedade que, nem entrincheirado em suas singularidades,
nem tocado pelas antenas da psmodernidade atravs das infovias,
vive mudanas em suas dinmicas
culturais originais sem, contudo,
perder seus referentes, seus laos
que o prendem a uma origem, a um
grupo, a um tempo. Aqui o desafio
compreender como, sem aguar o
sentimento etnocntrico e sem inscrever-se na experincia da mestiagem ps-moderna, as subjetividades
de sujeitos, grupos e sociedades,
continuam a ignorar as foras que
as constituem e as desestabilizam
por todos os lados, para organizarse em torno de uma representao de
si dada a priori, mesmo que, na atualidade, no seja sempre a mesma esta representao. (Rolnik, 1996)
Voltando questo da memria, seu
exerccio , pois, o exerccio da lembrana, que, por sua vez, o exerccio do pen-
samento simblico caracterstica fundamental do homem. So, portanto, processos e prticas culturais. Ao recolher fragmentos essenciais para a reconstruo e a
manuteno presente e futura da identidade humana, lembrana e memria
agem, contudo, diferentemente. A lembrana a sobrevivncia do passado, que
emerge conscincia na forma de imagens-lembranas. A sua forma pura estaria, como afirma Bergson, nos sonhos, e a
sua forma impura em nossas mquinas
fotogrficas e cmeras de vdeos portteis.
So acontecimentos isolados, que promovem a ressurreio do passado, do acontecido, caracterizando-se pela sua singularidade evocativa.
Por outro lado, a memria pode ser definida como um hbito, ou seja, como um
mecanismo motor e cultural, cotidianamente presente na vida de indivduos e
grupos. Ela depositria dos valores culturais estruturantes das prticas sociais necessrias ao convvio em grupo, da qual
no se pode falar de forma isolada ou descontextualizada, mas sempre em termos
de quadros sociais da memria (Hawlbaks, 1983), referentes s classes sociais,
grupos de socializao, trabalho etc. Inscrita na cultura e produtora de processos
culturais, a memria uma espcie de reservatrio que aglutina os processos de
identidade e identificao. Nesse sentido,
sempre um refazer, reviver, repensar
com imagens, conceitos, prticas, objetos
e idias. Entendida como trabalho de reconstruo do passado, de ressignificao
do presente e antecipao do futuro, a memria consolida-se como um trabalho sobre o tempo e no tempo. (Chau, 1983)
O passado no sobrevive ao tempo
nem ascende memria como simples objeto. A imagem do passado sempre diferente do passado experimentado, con-
34
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 31-36, dez. 1999
CULTURA, MEMRIA E IDENTIDADE CONTRIBUIO AO DEBATE
solidando seu carter dinmico e seletivo
tal e qual os processos culturais globais.
Entretanto, tero maior ressonncia no
presente os fatos e emoes que, de alguma maneira, constituram experincia para o indivduo, inscrevendo-se, assim, em
seu sistema de representaes.
Sem memria, o presente de uma cultura perde as referncias ideolgicas, econmicas e culturais que a originaram. Reside aqui sua dimenso poltica. Como elemento fundamental na identidade cultural de um grupo tanto dos dominados
quanto dos dominadores, dos vencedores e dos vencidos, dos colonizadores e
dos colonizados, a memria constitui um
sistema seletivo e referencial, que ir localizar no presente os cdigos e experincias culturais. A memria individual ou
coletiva , pois, um sistema onde se cruzam estruturas culturais, polticas e econmicas enquanto cdigos de representao. As representaes do passado e do
presente e as idealizaes do futuro tambm convivem na memria, conferindo ao
indivduo identidade cultural e grupal.
Procurar uma verdade na memria
deixar passar sua riqueza simblica. procurar uma unidade no campo da diversidade, pois confundem-se na recordao
A memria , portanto, fonte de experincia.
inquietante a memria quando ressuscita a
voz dos que foram apagados, quando revela o
que no conhecemos e vivemos mais. Mas ela
tambm nosso nico instrumento para reencontrar e habitar ocasies cada vez mais favorveis.
(Lvi-Strauss, apud Ponty, 1980)
Nesse sentido, no se trata de procurar coerncia nas lembranas, mas tentar
encontrar as matrizes fundadoras das aparentes contradies. No h evocao
sem uma inteligncia do presente, um homem no sabe o que ele se no for capaz de sair das determinaes atuais.
(Bosi, 1983)
Como se afirmou anteriormente, crticas sociedade urbano-industrial apontam a perda da memria como um dos
motivos para se depreciar a vida moderna. O indiferenciado cenrio urbano e a
troca de informaes em detrimento da
experincia produziriam um sujeito desmemoriado, carente de experincia e, conseqentemente, de uma insero sociocultural crtica e atuante. Relativizando o sentido apocalptico dessa viso, cabe ressaltar o papel da memria como via de acesso experincia, produo simblica e,
conseqentemente, releitura do tempo
e espao presentes luz do passado. A memria promove a sntese do tempo e do
espao, guardando a simultaneidade de
nveis de produo cultural.
Mas o que fazer com a memria, com
as identidades, com as subjetividades
num mundo ainda mais diverso, ambgo
e veloz? Segundo Suely Rolnik, dois processos opostos parecem acontecer nas subjetividades em meio ao terremoto que
as transforma irreversivelmente:
1. Por um lado, a postura das minorias
que, viciadas em suas prprias identidades originais, so consideradas
politicamente corretas, pois se trataria de uma rebelio contra a globalizao da identidade, alm de ser
importante arma no combate s injustias a que grupos diferenciados
pela etnia, pelo sexo, pela nacionalidade esto expostos.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 31-36, dez. 1999
35
o sujeito recordador e a coisa recordada (...) Ento far tanto sentido entender o sujeito a partir do que recordou, quanto o que recordou a
partir do modo como ele fez. (Gonalves Filho, 1989, p. 15)
Jos Mrcio Barros
2. Por outro lado, a sndrome do pnico, fruto da exacerbao das trocas e exigncias do mundo ps-moderno, estaria levando o sujeito a um
dilaceramento subjetivo que o faz
projetar no outro globalizado uma
espcie de prtese que substitui seu
eu original.
No primeiro caso, o reconhecimento da
importncia de tal postura est na medida em que se caracteriza como luta pelo
direito construo das referncias identitrias como um processo de singularizao, de criao existencial. a manuteno da condio de sujeito de sua prpria
existncia que deve estar em questo. No
segundo caso, trata-se de potencializar a
relao do local e do global na construo
da subjetividade e da identidade contempornea, relao esta que marcada pelo
poder disruptivo e tenso entre os envolvidos.
Hoje, o desafio a todos (de lugares os
mais diferentes a partir de estratgias as
mais diversas, tomam a memria e a subjetividade como instrumentos insubstituveis na construo das identidades) , para uns, criar condies para o enfrentamento da experincia dos vazios de sentido, provocados pela dissoluo de suas
figuras, visando a reconstruo de sua
condio de sujeito ativo; para outros, ao
viciar-lhe em seu eu histrico, mold-lo
como sujeito aberto s transformaes e
s diferenas.
Referncias bibliogrficas
BARROS, Jos Mrcio et al. PROJETO DE IMPLANTAO DO CENTRO DE REFERNCIA
AUDIOVISUAL DA RMBH, SMC/PBH, 1992.
BARROS, Jos Mrcio. Cultura e Memria. Cadernos de Cincias Sociais, v. 3, n. 4, 1993. PUC
Minas.
BARROS, Jos Mrcio. Os daqui e os de l; um estudo sobre negociao de identidade. Tese de
Mestrado apresentada UNICAMP, 1992.
BOSI, Ecla. Memria e sociedade: lembrana de velhos. So Paulo: T. A. Queirz, 1983.
DURHAM, Eunice. A dinmica cultural na sociedade moderna. Arte e Revista, n. 3, 1988.
GONALVES FILHO, Jos Moura. Olhar e memria. O olhar. So Paulo: Cia. das Letras, 1989.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura, um conceito antropolgico. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.
LE GOFF, Jacques. Passado/Presente, Antigo/moderno, Progresso/Reao, Documento/
Monumento. In: Memria-Histria: Enciclopdia Einaudi, v. 1. Lisboa: Casa da Moeda, 1984.
MARQUES, Reinaldo, PEREIRA, Vera Lcia. O artesanato da memria na literatura popular do
Vale do Jequitinhonha. s/r
MERLEAU-PONTY, M. Os pensadores: textos selecionados. So Paulo: Abril Cultural, 1980.
NAVA, Pedro. O balo cativo. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1974.
RIBEIRO, Gustavo. Bichos de obra: fragmentao e reconstruo de identidades no sistema
mundial. mimeo. ANPOCS, 1980.
ROLNIK, Suely. A multiplicao da subjetividade. Folha de S. Paulo, 19/5/96.
36
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 31-36, dez. 1999
DEMOCRACIA
ANTIGA E DEMOCRACIA MODERNA
DEMOCRACIA ANTIGA E
DEMOCRACIA MODERNA
Cristina Vilani*
RESUMO
Este artigo faz um paralelo entre a democracia grega antiga e a democracia moderna. Procuramos mostrar quo diferentes so essas duas
formas de experincias democrticas. Enquanto as instituies democrtico-modernas se baseiam em uma concepo individualista, as instituies grego-antigas tinham como base uma concepo coletivista
da sociedade.
Palavras-chave: Democracia; Participao; Individualismo.
termo demokratia1 foi cunhado
pelos gregos na antigidade para designar uma forma de governo em que o conjunto dos cidados tem a
titularidade do poder poltico. Isto , uma
forma em que a administrao da coisa
pblica responsabilidade do povo e est
sob o seu controle.
Dentre as instituies da Grcia Antiga destacou-se, pelo seu significado poltico, a cidade-repblica de Atenas a plis
que teve seu apogeu entre os sculos VI
e IV a.C. Ali, os cidados, em assemblia,
reuniam-se para discutir e deliberar sobre
as leis e a organizao da vida coletiva. O
demos era soberano e tinha a autoridade
suprema para exercer as funes legislativa e judiciria. Os requisitos para o per*
1
tencimento ao espao da plis eram a liberdade e a igualdade. Para o ateniense,
o homem s podia exercer a poltica em
liberdade e s podia ser livre entre seus
pares.
A plis grega com seus ideais de liberdade, igualdade e respeito pela lei, tem
sido considerada fonte de inspirao para
o pensamento democrtico moderno. Entretanto, tem-se dado pouca ateno ao
fato de que, embora tenhamos guardado
aqueles ideais, a concepo e a forma da
moderna democracia distanciam-se sobremaneira da concepo e da forma dos antigos. Quando hoje falamos em democracia, estamos falando de um governo representativo, de um Estado constitucional e das garantias das liberdades indivi-
Departamento de Sociologia PUC Minas.
Demokratia palavra grega composta por demos, que quer dizer povo, e kratia, originria de kratos, que
significa governo, fora ou potncia de dominao. Literalmente democracia significa governo do povo.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 37-41, dez. 1999
37
Cristina Vilani
duais. Essa democracia tem pouca semelhana com a cidade-repblica dos gregos.
Somos diferentes dos antigos porque nossa democracia assenta-se em premissas e
valores que a poltica grega desconhecia.
Na nossa era a forma liberal de democracia tornou-se o marco dominante no
ocidente. Por isso, no presente texto, ela
o foco privilegiado de anlise. Nos limites deste estudo no abordamos a democracia direta ou as formas mescladas coexistentes na modernidade. A nfase na
forma liberal no significa, entretanto,
conferncia de qualquer valor, isto , no
entramos na considerao da melhor democracia.
Vejamos os aspectos salientes da moderna experincia democrtica, em contraste com a antiga.
A CONCEPO INDIVIDUALISTA MODERNA
O que sustenta e d sentido s instituies modernas a concepo individualista, segundo a qual a ao individual
ganha relevo e a realidade social vista
como resultante da interao de sujeitos
individuais, que a moldam de acordo com
seus interesses. Essa concepo difere das
concepes holsticas, para as quais o todo
anterior s partes, isto , a sociedade tem
suas prprias leis de desenvolvimento que
independem da vontade ou da inteno
dos indivduos. Enquanto para os modernos o ser humano particular, com seus in-
teresses e com suas necessidades, tornouse o valor supremo na constituio das instituies sociais, para os antigos, o ideal
comum impunha-se a todos e o indivduo
era visto sobretudo como parte do rgo
coletivo, do corpo social. Nessa perspectiva, a virtude cvica significava subordinao dos interesses pessoais aos ideais
coletivos. Entre os modernos, o ordenamento das questes pblicas deve respeitar e refletir as preferncias individuais.
Isto , a dimenso cvica da cidadania
(busca do bem pblico) inseparvel da
sua dimenso civil (afirmao dos direitos individuais). Assim, na viso liberal
predominante na era moderna, o objetivo da poltica a busca da realizao de
um compromisso optimal entre os interesses privados. (Elster, 1989)2
Quando a vida coletiva se impe sobre os indivduos, a idia de liberdade
diversa daquela em que a sociedade ontologicamente no existe, e o reino dos
fins coincide com os fins legtimos de cada
homem (Dumont, 1985). No seu famoso
texto De la libert des anciens compare
celle des modernes (1818), Benjamin
Constant assinala que, enquanto para os
antigos liberdade significava distribuio
do poder poltico entre os cidados e participao no organismo coletivo, para os
modernos liberdade implica segurana
nas fruies privadas, ou seja, a segurana de esferas individuais de liberdade.
Constant quis mostrar que a experincia
antiga, diferentemente da moderna, no
A interpretao binria pode ser simplista e perigosa mas, como procedimento analtico, nos foi til,
porque privilegiamos o que h de mais peculiar na ideologia moderna, a fim de buscar seus reflexos no
mundo da poltica. Para a compreenso das representaes coletivistas e suas formas mescladas com o
individualismo, na era moderna, ver o texto de Dumont (1985). Segundo ele, embora o individualismo
seja a marca distintiva da modernidade, no lhe coextensivo. O mundo ideolgico contemporneo
tecido da interao de culturas, (...) feito de aes e reaes do individualismo e de seu contrrio, resultando, muitas vezes, em representaes hbridas. (p. 30)
No interior do prprio movimento liberal, diferentes correntes combinaram diversamente os plos do
interesse coletivo versus interesse individual, na busca da melhor maneira de conceber a vida social.
38
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 37-41, dez. 1999
DEMOCRACIA
conheceu nenhuma forma de independncia da vontade e de proteo ao indivduo, a quem o organismo coletivo absorvia completamente.
Os antigos no conheciam a noo de
livre arbtrio e de espao privado como expresso de autonomia e singularidade. Erase plenamente homem enquanto membro
de um rgo coletivo; ser livre significava
estar situado na plis. Como chamou a
ateno Hannah Arendt, no seu livro A
condio humana, na antigidade grega
a liberdade era um conceito exclusivamente poltico.
Com essas afirmaes no estamos desconhecendo a importncia, para o grego
antigo, daquilo que pertencia ao particular e dizia respeito ao indivduo: a vida
domstica, a educao das crianas, o convvio com familiares e amigos, as prticas
religiosas. Como escreve Vernant, os gregos arcaicos e clssicos tm, bem entendido, uma experincia do seu eu, de sua pessoa, assim como do seu corpo, mas essa
experincia organizada de forma diferente da nossa (Vernant, 1987). Entre os
antigos, continua ele, o mundo do indivduo no adquiriu (como para os modernos) a forma de uma conscincia de si, de
um universo interior que define, na sua
forma radical, a personalidade de cada
um (Vernant, 1987). A experincia de cada ser humano, na antigidade, era orientada para o exterior e no para o interior. O brilho e a majestade dos que se distinguiam eram reconhecidos e conferidos
pelo corpo social, e era com referncia a
esse corpo que os homens buscavam a
perfeio pessoal. Entre os modernos, a
nova forma de pensar o prprio eu fez do
homem um ser que compartilha o mundo com outros seres enquanto indivduo
3
ANTIGA E DEMOCRACIA MODERNA
singular e autodeterminado. No mundo
moderno, o privado adquiriu outra conotao, transformando-se no espao da individualidade, onde o homem afirma a
sua autonomia e define suas escolhas.
A maturao da concepo individualista, como a conhecemos modernamente, foi lenta, e a sua gnese dificilmente
pode ser atribuda a um pensador ou
evento particular. Foi fruto de uma acumulao histrica que teve um ponto de
inflexo fundamental no Nominalismo
medieval, passou pelas esteiras do Renascimento e da Reforma, ganhou corpo com
o Jusnaturalismo dos sculos XVII e XVIII
e encontrou sua sistematizao doutrinria no Liberalismo.
John Stuart Mill, um dos expoentes da
democracia liberal, na sua obra intitulada
On liberty (1859), definiu a liberdade como aquela situao em que ningum deve
estar impedido de fazer aquilo que deseja e no deve ser constrangido a fazer o
que no deseja. Essa liberdade deve ser a
mais ampla possvel: s encontra limites
na igual liberdade dos demais e base da
adequao entre o interesse individual e
o interesse coletivo. Uma sociedade democrtica aquela que possibilita a autonomia de cada um e convive com o choque de opinies e de interesses, gerando
uma arena de embate entre diversas foras polticas.
Muitos tm chamado a ateno para o
fato de que a plis grega valorizou sobremaneira o livre debate entre homens plenamente cidados, independentemente
das posies econmica e social de cada
um. Todos os que faziam parte da comunidade cvica podiam participar ativamente dos debates tanto quanto das decises
finais a respeito da coisa pblica.3 Mas,
Ver Hannah Arendt e M. J. Finley: A condio humana e Democracia antiga e moderna, respectivamente.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 37-41, dez. 1999
39
Cristina Vilani
embora os gregos tenham valorizado as
diferenas e as divergncias no debate livre a respeito das questes pblicas, a concepo coletivista, predominante na antigidade, gerou um centro nico de poder poltico a assemblia soberana dos
cidados. Nesse sentido podemos afirmar
que a democracia dos antigos foi uma democracia concebida de forma monoltica.
Entre os modernos, a viso individualista
criou um sistema pluripartidrio, atravs
do qual grupos diversos se contrapem
pela conquista temporria do governo.
Assim, afirma-se que, na experincia moderna, a democracia assumiu uma forma
pluralista.
A IGUALDADE POLTICA
O enunciado moderno de poder igual
para todos est muito longe do ideal grego de igualdade poltica. Entre os antigos,
a participao na coisa pblica no era um
direito de todos porque nem todos eram
iguais. O demos era constitudo pelo corpo de cidados, considerados como tais
somente os homens livres, ficando margem da vida pblica a maioria da populao composta por mulheres, escravos e
metecos (estrangeiros e seus descendentes).
Na Era Moderna, a cidadania adquiriu a dimenso de universalidade, e o domnio pblico foi aberto para todos. Entre os sculos XVIII e XIX, deu-se paulatinamente a ampliao dos direitos de cidadania, terminando por resultar no redimensionamento da plis. O problema da
organizao do Estado, desse modo, passou a estar subordinado ao imperativo de
possibilitar a todos, porque cidados, o
exerccio do poder poltico.
O CONSTITUCIONALISMO
Para os antigos, obedecer lei era condio de estabilidade da boa ordem poltica. Os textos de Plato e Aristteles ficaram famosos pela defesa do primado do
governo das leis. Tanto um quanto outro
sustentavam que da submisso de todos
governantes e governados ao imprio
da lei dependia a salvao da cidade.4
Os modernos no inventaram a supremacia da lei, mas acrescentaram algo importante a ela: criaram um sistema constitucional que, alm de garantir a proteo aos indivduos, distribuiu o poder poltico de forma que a nenhuma autoridade fosse conferido poder absoluto. Assim,
o constitucionalismo moderno inaugurou
uma forma de exerccio democrtico desconhecido pelos antigos: assegurou as liberdades individuais e dividiu o poder do
Estado. O governo deve proteger os direitos dos indivduos e operar mantendo
rigorosa distino entre as funes executiva, legislativa e judiciria. O jusnaturalismo moderno ocupou lugar de destaque
nessa transformao. Segundo essa doutrina, todos os homens tm, por natureza, certos direitos fundamentais, como o
direito vida, segurana, liberdade,
que no podem ser violados por quem
quer que seja; cabe ao Estado respeitar, garantir e proteger. O que pensadores como
Locke, Montesquieu e Kant tinham em
mente era um sistema capaz de impedir a
consolidao de um poder absoluto e de
dar garantias ao cidado.
Ver principalmente os textos Leis e Poltica de Plato e Aristteles, respectivamente.
40
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 37-41, dez. 1999
DEMOCRACIA
A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
A politia era constituda por um corpo
de cidados ativos dedicados ao processo
de autogoverno e pouco tem a ver com o
moderno sistema representativo e com a
estrutura impessoal de comando que chamamos de Estado. A plis era uma cidade comunidade, uma koinonia, e o governo, para os gregos, consistia na participao contnua e direta dos cidados no processo de tomada de decises pblicas. O
poltes dedicava-se completamente plis:
governar a si mesmo significava passar a
vida governando. (Sartori, 1994)
No nosso sistema representativo, as
decises sobre a administrao pblica so
tomadas, no pela coletividade, mas por
pessoas eleitas para isso. O poder popular, para o moderno, no concebido como o direito do cidado governar e sim
como direito de autorizar o governo e de
impedir o arbtrio do governante. Nas palavras de Matteucci, a democracia, como
ns a conhecemos, consiste num
ANTIGA E DEMOCRACIA MODERNA
complexo processo de formao da vontade poltica que, partindo dos cidados, passa pelos partidos e pela assemblia e culmina na ao do governo limitada pela lei constitucional. (Bobbio
e Matteucci, 1992)
As distines entre Estado e sociedade, cidado e governo, representantes e
representados prprias da viso moderna eram estranhas cidade-repblica
grega.
A democracia representativa liberal teve seus contornos traados entre os sculos XVIII e XIX. Consolidou-se h menos
de cem anos com o ingresso de todos na
arena poltica. Contm a marca do individualismo e seus traos distintivos so o
pluralismo, a constitucionalidade e a representao.
A questo que se coloca para o homem
moderno como ser governado sem ser
oprimido e tem pouco a ver com um povo que se autogoverna. Embora a palavra demokratia seja grega, o que agora indicamos com ela originou-se fora da Grcia e em premissas que a poltica grega ignorava por completo. (Sartori, 1994)
Referncias bibliogrficas
BOBBIO, M. P. Dicionrio de poltica. Braslia: UNB, 1992.
DUMONT, Louis. O individualismo. Uma perspectiva antropolgica da ideologia moderna.
Rio de Janeiro: Rocco, 1985.
ELSTER, J. Marx, hoje. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada. Debate contemporneo. So Paulo:
tica, v. 1, 1994.
VERNANT, J. P. et al. Individualismo e poder. Lisboa: Edies 70, 1987.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 37-41, dez. 1999
41
RESENHAS
RESENHAS
FRANCO JNIOR, Hilrio: Cocanha:
a histria de um pas imaginrio. So
Paulo: Cia. das Letras, 1998. 313p.
Heloisa Guaracy Machado (Departamento de Histria PUC Minas, doutoranda em Histria Social pela USP)
a segunda metade do sculo XII, um poeta annimo do norte da Frana imaginou
um pas maravilhoso, cujos componentes foram recolhidos quer da literatura clssica, quer
da cultura folclrica e atualizados pelos elementos de sua poca. Trata-se da Cocanha,
uma terra de prazeres e de abundncia, de harmonia social e de liberdade sexual, onde no
h espao para o sofrimento, o envelhecimento e o esforo do trabalho. No sculo XIII, depois de ter circulado oralmente por dcadas,
essa lenda foi registrada por escrito, em francs arcaico e sob a forma de versos, no Fabliau
de Cocagne, analisado com muita propriedade por Hilrio Franco Jnior em Cocanha: a
histria de um pas imaginrio.
Com efeito, como afirma Jacques Le Goff
no prefcio, os prximos estudos sobre a sociedade cocaniana e sobre o perodo enfocado
devero passar, necessariamente, pelo grande
livro de Hilrio Franco Jnior. Entre os seus
mritos, podemos citar o ineditismo do tratamento global do corpus sobre a Cocanha, as
articulaes bem efetuadas entre um pas imaginrio e as sociedades reais histricas, o enorme acervo de informaes histricas e bibliogrficas, a incluso de ilustraes bem escolhidas e um ndice remissivo incluindo muitos verbetes alusivos ao texto. Conscientes das
dificuldades em tecer uma apreciao condizente com a amplitude da obra, optamos por
apresentar a nossa leitura a partir de trs aspectos relevantes que expomos a seguir.
Em primeiro lugar, destacamos o contedo enfocado e organizado em torno de quatro
grandes eixos temticos que integram a uto-
pia cocaniana como projees do universo do
desejo da populao medieval: a abundncia,
a ociosidade, a juventude, a liberdade (analisados, respectivamente, nos captulos 2, 3, 4 e
5). Esses tpicos funcionavam como um mecanismo de compensao concretude mais
ch, marcada, ao contrrio, pela escassez (sobretudo de gneros alimentcios), pelo trabalho incessante, pela supremacia indiscutvel
das tradies mais antigas sobre as inovaes
e da maturidade sobre a juventude, pela presso das normas sociais e religiosas sobre as
pulses particulares e grupais.
A Cocanha o mundo do excesso e da gratuidade; seus habitantes so sempre jovens e
completamente livres. Em linguagem freudiana cujos conceitos so s vezes utilizados
por Franco Jnior na sua anlise poderamos
dizer que se trata de um mundo conduzido
pelo princpio do prazer e pela negao do
princpio de realidade... da dura realidade
medieval. Uma negao que atua atravs da
inverso da realidade imediata, mas no visa
uma ruptura, pois no pretende destruir os
fundamentos da sociedade ocidental e sim reform-la ou restaur-la, eliminando as ameaas de um cotidiano inspito ou das incertezas provenientes de um mundo novo em franca ascenso no sculo XIII: o mundo urbano,
com as suas tendncias laicas e liberalizantes,
que tentavam quebrar as resistncias do mundo rural, aristocrtico e religioso. Da a fuga
rumo a um tempo e espao indefinidos, ou
melhor, a um tempo suspenso no eterno presente de um espao orgistico: a Cocanha
uma festa permanente.
Por outro lado, a gama de referncias preciosas provenientes do exame minucioso dos
temas indicados faz emergir, secundariamente, em maior ou menor grau, vrios outros que,
reunidos, compem um quadro cultural impressionante, especialmente no que se refere
(por vezes) chamada Idade Mdia Central: as
suas prticas alimentares, o mundo das festas,
dos jogos e demais formas de lazer, os espaos
privilegiados e as edificaes mais comuns, as
cidades e pases importantes ou as adversidades provocadas pelas guerras e epidemias, em
um confronto permanente com a morte.
Departamento de Histria PUC Minas, doutoranda em Histria Social pela USP.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 43-52, dez. 1999
43
RESENHAS
Conhecemos a aspereza do mundo do trabalho, os aspectos da produo e de seus usos;
a comunidade de clrigos, guerreiros e trabalhadores que compunham a sociedade crist,
envolvendo certas nuances muito interessantes do psiquismo dos homens e mulheres medievais; as relaes de poder, no embate entre
a aristocracia (laica e eclesistica) e as monarquias, de um lado, ou na organizao dos feudos e das comunas, de outro. E, por fim, o universo de suas representaes artsticas e intelectuais: a poesia medieval, a iconografia, a
msica, a organizao do saber formal e informal. Tudo isso tendo como eixo o universo religioso de uma idade crstica cujo modelo
era a cidade de Deus apoiada nos pressupostos da ortodoxia catlica, em torno dos seus
dogmas, sacramentos e personagens.
Entramos em contato tambm com os sentimentos e sensibilidades que distinguiam particularmente a sociedade medieval, isto , as
suas tendncias (o esprito de grupo, a estabilidade, a solidariedade, os valores corteses), as
suas formas de manifestao (os sonhos e as
vises, o ldico, a sonoridade, a oralidade e a
literaridade, o sensualismo e a sexualidade) e
as suas idiossincrasias (o orgulho, a avareza,
os tabus sexuais, as novidades, o individualismo).
Sentimentos e sensibilidades em consonncia com uma viso de mundo peculiar, escatolgica, no mbito do maravilhoso cristo, o
qual funcionava como um contraponto ao
cotidiano, exercia uma funo compensatria
em relao ao conhecido, ao previsvel, ao regular, sendo assim, e conforme Le Goff, uma
forma de resistncia ideologia oficial do cristianismo. No maravilhoso se mesclavam
certas categorias posteriormente seccionadas
pelo pensamento moderno, tais como o natural e o sobrenatural, o profano e o sagrado, compondo um quadro mental que
Aron Gurevich chamou o grotesco medieval.
Na anlise desse quadro, Franco Jnior nos informa a respeito das concepes vigentes de
tempo e de espao, de histria, de cultura e de
natureza, alm do iderio que influenciava o
pensamento poltico-filosfico, no embate entre os agentes de conservao e de mudanas
sociais: o monismo, o pantesmo, o amaurianismo, o anarquismo, o naturalismo, o nomi-
nalismo, o realismo. Em suma, podemos dizer
que se a Cocanha, ao promover a petrificao
do tempo, nega a histria, acaba contando, por
vias avessas, a histria de uma determinada
poca.
Em segundo lugar, destacamos os pressupostos terico-metodolgicos (discutidos na
Introduo) que servem de suporte obra na
investigao do seu objeto: o Fabliau de Cocagne.
A perspectiva adotada a da histria social do imaginrio, que leva em conta a influncia do imaginrio na vida das sociedades
histricas e que considera os condicionantes
sociais nas produes imaginrias. Apoiado
na historiografia recente e em exemplos bastante consistentes e bem explicitados, Franco
Jnior defende a validade da reconstruo histrica das sociedades imaginrias tanto quanto das sociedades concretas bem identificadas no tempo e a necessidade de uma investigao que articule as duas sociedades, chamando a ateno para o fato de que a fronteira colocada entre elas , via de regra, arbitrria. De fato, como enfatiza o autor, h uma larga faixa de domnio comum que constitui o
ponto de observao do historiador para uma
e outra esferas da experincia social.
Ao desenvolver a sua argumentao terica, ele nos revela a sua prpria concepo de
histria, isto , aquela que considera o homem na sua complexidade e totalidade, encontra-se na articulao entre a realidade vivida
externamente e a realidade vivida oniricamente. Uma no existe sem a outra, e ambas constroem, juntas, os comportamentos coletivos, o
suceder dos eventos histricos. O conjunto
dessas premissas justifica, alm disso, o objetivo geral e os critrios de sua anlise: examinar a Cocanha como uma manifestao do
maravilhoso, no sentido, no de uma manifestao literria extica, mas como elemento
pleno de significao histrica e social, esclarecendo as articulaes entre mundo objetivo
e subjetivo, externo e interno, material e psicolgico, no mbito de uma coletividade.
Efetivamente, a literatura constitui um instrumento privilegiado para o estudo do imaginrio e das mentalidades. A literatura, como
a iconografia, uma construo social e, por
conseguinte, em relao Idade Mdia, elas
44
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 43-52, dez. 1999
RESENHAS
podem ser consideradas formas coletivas de
representao dos mundos divino, natural e
humano. Assim, visando uma interpretao semntica do documento e no necessariamente a sua forma literria, o autor procura resgatar certas imagens cujo significado nos remete
compreenso da Cocanha uma sociedade
perfeita do ponto de vista de determinados
segmentos sociais, mas que atende tambm,
em alguma medida, s expectativas de toda a
comunidade.
Tais imagens so apreendidas no s pela
sua incluso no texto cocaniano, como tambm
pela sua ausncia, pois devemos considerar
que a literatura reflete e, ao mesmo tempo,
refrata a realidade social. Em outras palavras,
cabe ao historiador desvelar os elementos subjacentes escritura, buscando a sua intencionalidade inconsciente e as condies histricas de sua produo, aqui reunidas na figura
do autor coletivo. Essa nfase no significado
do texto no exclui, contudo, um estudo da
ordem do significante, tendo em vista a caraterizao do campo semntico dos jovens,
apontados como os emissores e os destinatrios preferenciais do poema. Por isso, no captulo 4, sobre a juventude, Franco Jnior inclui uma anlise lexicogrfica, que incide sobre trs tipos de palavras principais adjetivos, artigos e verbos e outras secundrias
substantivos e advrbios.
As consideraes tecidas no pargrafo anterior so reveladoras do mtodo de trabalho
adotado, to consistente quanto a sua fundamentao terica. Outros indicativos, nesse
sentido, perfilam o captulo inicial, na conceituao rigorosa das categorias empregadas
(como imaginrio e as suas modalidades,
utopia, mito e ideologia) e na caracterizao cuidadosa do poema em anlise: na indicao das razes etimolgicas do termo Cocagne, na descrio das diversas definies atribudas ao fabliau como gnero literrio, no levantamento da historiografia relativa ao tema
da Cocanha, bem como a insero desse tema
no contexto cultural que lhe serve de base. Ou,
ainda, no exame do material constitutivo do
poema sempre na perspectiva da intertextualidade e da intervocalidade rastreando as
(sete) principais heranas culturais que compem aquilo que ele denomina como um mosaico tnico.
O reconhecimento das enormes dificuldades em acompanhar o trajeto dessas heranas
no impede a investigao obstinada do pesquisador. Dessa forma, ele remonta ao Antigo
Oriente Mdio, s culturas sumeriana e judaica, perpassando os mundos greco-romano,
cltico, escandinavo e muulmano, para chegar tradio folclrica e s elaboraes eruditas que integram a cultura crist medieval,
destacando alguns dos paralelismos possveis
entre a Cocanha e obras como a Bblia, a Repblica de Plato e o Coro. O captulo inclui
tambm a transcrio do poema na ntegra, no
original analisado e no francs arcaico, bem
como a sua traduo para o portugus moderno uma tarefa restrita aos especialistas do
porte de Franco Jnior.
Mas o autor no se limita, na sua anlise
diacrnica, aos elementos precursores do Fabliau de Cocagne. De forma instigante e verticalizada ele investiga, nos captulos 6 e 7, as
suas permanncias nas produes iconogrficas e sobretudo literrias, que se multiplicaram na modernidade. O captulo 6 inteiramente dedicado verso inglesa do poema,
seguida tambm de uma traduo para o portugus. O captulo 7 examina as verses tardias, subdivididas em utopias eruditas
(como a de Tomas More ou Bacon) e as verses modernas populares europias na
Frana, na Inglaterra, na Alemanha, na Itlia,
na Holanda. Nas trs verses, so apontadas
as transformaes sofridas pela temtica cocaniana, segundo as razes de um contexto
histrico distinto: a substituio do carter utpico pelo ideolgico no poema ingls, a negao da Cocanha no novo universo de idealizao das utopias eruditas e a mudana do carter do relato cocaniano de utopia aristocrtica para utopia popular e camponesa nas verses modernas populares.
No entanto, a grande surpresa, nesse captulo, aquela que fala mais de perto aos brasileiros, diz respeito aos ecos da Cocanha no
Novo Mundo, na Amrica espanhola e na
Amrica portuguesa, consideradas como receptculos de vrios elementos do imaginrio
medieval. Um bom exemplo, nesse caso, o
popular pau de sebo, um descendente direto da prtica do mastro da Cocanha na Europa, cujo aparecimento, no Brasil, foi regis-
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 43-52, dez. 1999
45
RESENHAS
trado pela primeira vez em 1763, no Rio de Janeiro, por ocasio da festa do Divino Esprito
Santo.
Tais permanncias podem ser principalmente observadas no cordel nordestino So
Saru, atribudo a um certo Manoel Camilo, a
comear pelo vocbulo Saru (derivado do
francs soire), correspondente a uma modalidade de dana que associa elementos franceses e americanos. Depois, pelos paralelismos
to evidentes entre o Fabliau de Cocagne e
aquele cordel na configurao da utopia da
terra maravilhosa, praticamente impossvel
apont-los como simples coincidncias.
Em funo da sua grande relevncia e do
seu forte apelo cultural, no poderamos deixar de nos deter um pouco mais demoradamente nessa passagem do livro, destacando, a
ttulo de ilustrao, algumas expresses equivalentes na qualificao da terra maravilhosa no texto francs e no texto nordestino, respectivamente: como um lugar onde chove
pudim ou chove manteiga (no caso da
abundncia), povoado por gansos que assam por si ou por peixes que se cozinham
sozinhos (no caso da ociosidade), cujos smbolos so a fonte da juventude ou o rio da
mocidade (no caso da juventude), tratando-se, alm disso, de uma terra sem oposio
e proibio ou onde no h contrariedade
(no caso da liberdade). Como idia geral, por
conseguinte, e de modo similar Cocanha, So
Saru se tornou sinnimo de coisa impossvel:
(...) s em So Saru, onde feijo brota sem
chov.
No aprofundamento da sua anlise, Franco Jnior utiliza o mtodo regressivo de Marc
Bloch, que segue um percurso cronologicamente invertido, no rastreamento de quatro
camadas histrico-culturais da estratigrafia
folclrica do nordeste brasileiro, cuja confluncia teria possibilitado o aparecimento das
primeiras imagens do pas de So Saru: as
condies arcaicizantes que distinguem o Nordeste no sculo XX e a forte mentalidade messinico-milenarista dos seus habitantes; a presena holandesa, no sculo XVII, que poderia
ter trazido para o Brasil as tradies sobre a
Cocanha que circulavam nos Pases Baixos; as
narrativas mticas indgenas que, levadas pelos tupinambs ao serto, interagiram com o
universo cultural dos holandeses e franceses;
finalmente, o substrato medieval francs trazido ou pelos soldados e comerciantes franceses que acompanhavam os holandeses, ou, diretamente, pelos colonizadores ibricos.
Evidentemente, no se trata de ignorar a
grande distncia que separa os tempos histricos mencionados, incorrendo em anacronismos que negam a prpria dinmica histrica.
Parece-nos bvio o fato de que cada poca
deve ser tratada na sua especificidade cultural, o que no impede, contudo, o reconhecimento das aproximaes possveis entre elas
ou as atualizaes particulares realizadas a
partir de elementos simblicos partilhados
pelo conjunto ocidental. No tocante temtica cocaniana, as diferenas so culturais, no
estruturais; nesse caso, como afirma Franco
Jnior, recorrendo a Lvi-Strauss, o que importa, fundamentalmente, a histria que o mito
narra.
Para ns, uma das qualidades do livro ,
justamente, resgatar a validade da perspectiva da longa durao histrica para a atualidade, em um contexto epistemolgico dominado pela fragmentao, pelos estudos voltados
para as micro-histrias. Acreditamos que,
quando bem trabalhada, aquela perspectiva
capaz de esclarecer uma srie de questes que
nos permitem ampliar o leque das reflexes
acerca de uma tradio cultural que, queiramos ou no, constitui um dos pilares da organizao do nosso prprio universo material e
espiritual, como podemos perceber no desenvolvimento da investigao.
No entanto, talvez o maior mrito da anlise repouse na forma de sua problematizao,
segundo os moldes propostos pela Nova Histria, mas que raras vezes foi to bem realizada, pela sua coerncia e originalidade, como
neste trabalho sobre a Cocanha.
Com efeito, o texto um convite permanente ao dilogo com outras obras, com outras disciplinas, com outras pocas e com o leitor, levantando pistas e convidando-nos a segui-las, ou abrindo espao para a continuidade dos estudos do gnero. Dessa forma, apesar de delinear a sua posio pessoal no fim
de cada captulo, para melhor defini-la, na concluso o autor no aponta solues definitivas
para o que ele apresenta como indefinies
46
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 43-52, dez. 1999
RESENHAS
historiogrficas, oferecendo, ao invs disso,
uma gama de possibilidades de interpretao
s suas (trs) interrogaes principais: quem
foi o autor responsvel pela elaborao do Fabliau de Cocagne? Por que este foi criado,
isto , qual a sua funo? Para quem o autor
escrevia?
Desse modo, na concluso, ele enumera algumas tentativas de respostas a essas questes.
Quanto autoria do Fabliau (quem?), por
exemplo, ele aponta quatro alternativas nas
figuras de um trovador da corte feudal de Coincy, de um jogral de Arras, de um estudante
picardo de Paris e de um goliardo de Amiens
ou Leon, os quais integravam ou a baixa aristocracia laica, ou o baixo clero citadino, tocados pelas mesmas inquietaes advindas das
transformaes sociais da poca. O mesmo
raciocnio se estende s funes da Cocanha
(por qu?) e aos seus mltiplos pretensos receptores (para quem?) espalhados pelos castelos, pelas praas pblicas e pelas tavernas
possveis locais de divulgao do poema.
Nesse ponto, o grande medievalista contraria alguns dos traos fundantes do maniquesmo medieval, na verso contempornea
de uma certa racionalidade cientfica e acadmica que, assentada nos velhos paradigmas do
falso e do verdadeiro, do certo e do errado,
atribui a si prpria o papel de arauto de uma
verdade monoltica, cristalizada. Como o autor annimo do Fabliau, o autor do livro sobre a Cocanha subverte a viso de mundo binria: o primeiro, no que se refere bipolaridade tpica da sensibilidade medieval; o segundo, na quebra da repetio estril e na renncia ao mundo da certeza, para instaurar
um momento criativo, que brota no campo do
provvel, abre-se ao novo imprevisvel e se
expe luz de variados olhares.
Essas caractersticas esto estreitamente
associadas ao terceiro ponto que analisamos
aqui: a escritura propriamente dita. Acompanhando o percurso do enunciado, deparamonos com uma rara combinao de simplicidade e de sofisticao, de mincia e de conciso,
imputando clareza a uma erudio que rejeita
o hermetismo, mas se curva aos enigmas da
prpria histria. Assim, Franco Jnior no se
limita s notas explicativas e bibliogrficas no
final do livro, endereadas, provavelmente, ao
seus pares intelectuais. Ao mencionar um termo em latim ou um conceito de maior complexidade, ele tem o cuidado de, imediatamente, explic-lo, precis-lo e traduzi-lo, numa atitude de respeito para com o leitor menos familiarizado com o assunto. Desse modo, a densidade da escritura no inviabiliza a feio de
um texto agradvel, de fcil compreenso, que
permite nveis diferenciados de leitura; atinge um pblico amplo, desde os especialistas
da matria at o pblico leigo este, cada vez
mais interessado na cultura medieval, haja vista o consumo progressivo das obras relativas
ao perodo, no Brasil, inclusive. Nesse sentido, o livro cumpre a funo social que, a nosso ver, constitui a razo ltima de todo trabalho acadmico.
Quem tem o privilgio de acompanhar um
pouco mais de perto a trajetria do Professor
Hilrio percebe que essa conduta est em plena sintonia com o perfil pessoal e profissional
do investigador vocacionado pela busca genuna do conhecimento e do comunicador nato
comprometido com a divulgao desse conhecimento. Pode-se no concordar inteiramente
com as suas formulaes em alguns momentos, at mesmo por incompatibilidades tericas, mas no se pode negar sua seriedade e
flego para coletar dados, reuni-los, mergulhar
nas suas entrelinhas e faz-los interagir com
outros campos do conhecimento. Tais procedimentos, conduzidos por uma rara acuidade
mental, possibilitam certos vos epistemolgicos bem realizados e apoiados em uma slida fundamentao. Uma ousadia restrita ao
profundo conhecedor do seu objeto e j definida no momento mesmo de sua escolha: estudar Idade Mdia , em principio, um desafio que poucos tm a disposio de assumir,
principalmente na Amrica Latina.
Ao finalizarmos a nossa leitura/viagem pela
Cocanha. A histria de um pas imaginrio, temos a sensao de ter assistido a uma aulamestra sobre metodologia da histria e sobre
cultura medieval. Certamente, estamos diante de uma obra que j nasce como um clssico,
em virtude de suas importantes contribuies
para a histria cultural, as quais s podem ser
devidamente aquilatadas no contato direto
com o texto.
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 43-52, dez. 1999
47
RESENHAS
screver uma resenha crtica sobre o livro
Naufrgio com espectador, do historiador
e filsofo alemo Hans Blumemberg, uma
tarefa extremamente angustiante. Isso porque
antes de chegarmos a esse ponto, durante a
nossa jornada, tivemos que deixar o lugar de
meros espectadores para seguir a rota construda pelo autor. A surpresa que, para alm
de qualquer expectativa de alcanar um porto
seguro aps a travessia, ficamos felizes ao naufragar. Mas afinal, em que consiste naufragar?
Primeiro, violamos inmeras fronteiras. A
fronteira, assim como a navegao temerria,
tambm uma metfora recorrente na histria dos homens. O sentido etimolgico de fronteira pode ser buscado no latim. As palavras
fines e limen expressam bem sua significao.
Elas no implicam somente uma mera delimitao espacial mas esto imbudas de um carter sacrlego. O homem sempre imps um
limen para alm do qual se estende algo que
ele no compreende, no alcana. Mas, paradoxalmente, o homem no se contenta com o
fines. Ele almeja o infinitus. Nesse sentido, ele
impulsionado a ultrapassar as fronteiras de
sua prpria existncia mesmo consciente de
que uma violao, que um tomar de assalto a si mesmo. Nem a angstia do confronto
com o desconhecido, com o que est mais
alm pode conter o homem que vislumbra
confrontar-se com sua totalidade. O castigo
lanado sobre o homem que viola o limes que
lhe foi legado a impossibilidade de retornar
ileso. Alea jacta est.
Uma vez que uma metfora o elemento
norteador da discusso trazida pelo livro de
Hans Blumenberg, de fundamental importncia compreendermos as relaes que ela
traa entre o que Jos A. Bragana de Miranda
(apresentador do livro) denomina de devir
mundo da linguagem e devir linguagem do mundo.
O termo metfora vem do grego metaphora
e significa transporte, translao. Assim compreendida, a metfora a ponte que se constri
entre a experincia concreta do ser humano e
as sensaes dela advindas, de modo a tornar
possvel dizer o indizvel ou, qui, descobrir algo no que no se pode descobrir.
Para expressarmos a impreciso, recorremos a uma fonte de impreciso, em todo o contexto objetivo: a metfora. Esta ltima introduz um elemento heterogneo. Corrigir essas
discordncias parece ser a tarefa constante da
conscincia, que se esfora por reunir os dados como parte de uma experincia una. No
entanto, a metfora em si discordncia, uma
quebra da unidade originalmente concordante dos fenmenos. Como observa com propriedade Blumenberg: O elemento ao princpio
destrutivo torna-se, sob a presso da obrigao da conscincia ameaada, em metfora.
Hans Blumemberg, utilizando-se da metfora do naufrgio com espectador empregada por diversos pensadores ao longo dos sculos, constri um estudo filosfico-histricoliterrio a respeito da existncia humana, do
fazer e do caminhar da histria. No obstante,
uma advertncia deve ser feita: Hans Blumemberg no quer analisar as mudanas, mas o
comportamento dos homens diante delas.
Mas por que a opo pela metfora do
naufrgio com espectador? Talvez porque ela
seja a expresso do problema da posio do
homem perante o mundo da experincia. A
metfora do naufrgio com espectador a
metfora da existncia humana. Est imbuda
dos paradoxos que assustam o homem desde
tempos imemoriais: cosmo e caos, terra e mar,
razo e paixo, prudncia e arroubo, porto e
nau, espectador e argonauta, avano e recuo,
nascimento e morte. Todos esses paradoxos
articulam-se e rearticulam-se num jogo sistemtico entre ordem e movimento, tal qual
num caleidoscpio. Nesse brinquedo de criana que parafraseia a impreciso da vida, a
ordem apenas o pressuposto do movimento
48
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 43-52, dez. 1999
BLUMEMBERG, HANS. Naufrgio
com espectador. Lisboa: Ed. Veja,
1992.
Andrea Luciana Vieira, Cyntia Lacerda
Bueno, Evandro Alves Bastos, Fabiana Melo
Neves, Jos Otvio Aguiar e Tereza Cristina
de Laurentys (alunas do curso de Histria
PUC Minas)
HANS BLUMENBERG: REFLEXES
SOBRE A METFORA DA NAVEGAO
RESENHAS
e vice-versa. Nesse sentido, o espectador logo
o nufrago, e o nufrago logo pode vir a ser o
espectador. nesse eterno jogo entre o avanar e o recuar que o homem constri o viver.
Mas o que est permeando nufrago e espectador?
O requisito fundamental para que haja um
nufrago no nem tanto a nau, mas a representao do mar. O mar um dos fines diante
do qual o homem se depara. E o anseio de lanar-se para alm dele uma transgresso que
quase se impe como uma necessidade. O
homem situado enquanto um ser de terra
firme. A sua vida, seu quotidiano esto institudos sobre terra firme, e o mar surge como o
limite do habitvel. Aqui, onde a terra se acaba e
o mar comea (Cames).
A mitologia e a iconografia crist alimentaram essa concepo de mar tenebroso durante milnios. Para os gregos, o mar o territrio do terrvel Posidon. Zeus se torna o
maior deus do panteo grego, dominando o
cu e os fenmenos atmosfricos aps vencer
seu pai Cronos com a ajuda dos irmos Posidon e Hades. Como reconhecimento valorosa ajuda dos irmos, Zeus divide com eles o
governo do mundo: deu os infernos a Hades
e o mar a Posidon. Embora Posidon seja uma
divindade martima, consegue a honra de ser
includo entre os doze grandes deuses do
Olimpo. Posidon governa seu imprio aqutico com extrema autoridade. Seu palcio erguia-se no fundo do mar Egeu habitao
resplandecente e eterna. Quando o deus saa,
vestido com sua armadura de ouro, pegava um
chicote brilhante, atrelava os cavalos que corriam como o vento, subia para o seu carro e
lanava-se sobre as ondas. Os monstros marinhos o acompanhavam sopreando bzios. Mas
Posidon era tambm um deus caprichoso:
quando se enfurecia se tornava terrvel e indomvel. A Odissia conta que, para fazer
perder Ulisses, o senhor dos mares adensou
as nuvens sobre ele, levantou as ondas e desencadeou os ventos. Fez tambm surgir dos
abismos monstros terrveis, que simbolizavam
as vagas alterosas, as tempestades e os macarus devastadores. Da sua unio com Anfrite
nasceu um filho, Trito, semideus ciumento e
predisposto violncia, que soprava um bzio para apavorar os marinheiros. A posteri-
dade de Posidon constitui uma verdadeira
multido de monstros e gigantes, violentos e
malfazejos, o que ilustra bem o caos que reinava no mar e fazia tremer os homens que
ousavam invadir o territrio de Posidon.
A iconografia crist tambm delega ao mar
o local ideal para a manifestao do mal, atribuindo-lhe o trao gnstico de sinalizar a matria bruta que faz tudo retornar a ela prpria
e tudo devora. Nesse sentido, a fronteira entre terra firme e o mar representaria a queda
no pecado original, ou seja, um passo dado
para o inconforme e o desmesurado. Da a promessa de que no estado messinico no haveria a necessidade do mar (ou do territrio do
mal), como props o apocalipse de Joo.
Mas se o mar o limite do habitvel, no
o limite do explorvel. J dissemos que o homem almeja a sua totalidade. Nesse sentido,
ele busca avidamente a interao entre o cosmos (representado pela terra) e o caos (representado pelo mar). O instrumento que viabiliza essa interao a navegao temerria. O
significado mesmo de temerrio j nos lana a
ponte para a compreenso da inconformidade do homem diante dos limites entre o terreno do habitvel e o do desconhecido e temido. Num primeiro momento a navegao
temerria por ser considerada arriscada, imprudente, pois impera a concepo do mar
enquanto limite natural do espao e empreendimentos humanos e a sua demonizao
enquanto esfera do incalculvel, da desordem,
do incomensurvel. Mas logo se esboa o significado de temerrio que acaba por lanar o
homem ao mar: agora o homem se permite ser
arrojado, audacioso, atrevido.
Sendo a navegao temerria, nesse contexto, a metfora simbolizadora da prpria
existncia, o homem enquanto argonauta tem
no naufrgio uma conseqncia legtima da
navegao, naufrgio este entendido enquanto mergulho em sua prpria subjetividade. O
homem que conquistou os ares, arroteou todos os continentes da terra, conheceu os mares e ousou atravessar o limite atmosfrico do
planeta, conhece pouco ou nada a respeito de
seu prprio oceano interior, no raro acometido pelas tempestades causadas pela angstia.
Angstia esta entendida aqui no sentido kierkegaardiano (determinao que revela a
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 43-52, dez. 1999
49
RESENHAS
condio humana caso se manifeste psicologicamente de maneira ambga e o desperte
para a possibilidade de ser livre).
Nesse sentido, o naufrgio o momento
no qual o homem experimenta uma redefinio e/ou recomeo, por vezes converso, em
seus objetivos existenciais bsicos. Ora, todo
naufrgio pressupe o impulso primeiro de se
lanar ao mar: o naufrgio , por assim dizer,
uma conseqncia legtima da navegao. O
aspecto ilusrio do porto alcanado com felicidade e a calmaria que impede o avanar do
barco so antteses do sentido maior que a tempestade possui para o argonauta. Na verdade,
o homem precisa do naufrgio porque precisa de confrontar-se consigo mesmo: o momento turbulento do naufrgio , qui, o nico
momento no qual o homem est sozinho consigo mesmo, est totalmente merc do seu
eu. No pode se agarrar ao outro: s conta consigo mesmo. No so muitos os que se aventuram a enfrentar-se a si prprio. H sempre a
possibilidade do espanto.
Mas h sempre aqueles que, ao se disporem a levar a cabo essa rdua jornada, conseguem dela extrair a essncia do naufrgio.
Zeno de Chipre (340-264 a.C.) nos fornece a
chave para nos embrenharmos na metfora do
naufrgio enquanto uma figura filosfica: ao
experimentar um naufrgio, teria compreendido o sentido primeiro da vida que no se situaria no acmulo de posses maiores do que
aquelas que poderiam ser transportadas por
um provvel nufrago ao nadar. S como
nufrago naveguei pelo mar com felicidade.
No entanto, o que interessa a Blumemberg
no so as vicissitudes porventura experimentadas durante a viagem nutica, mas a atitude
do argonauta diante delas, sua reao e o estado de sua alma aps o que, por assim dizer,
metaforicamente, poderamos designar como
o naufrgio. Caminhando por aqueles que, na
esteira da histria clssica grega, seriam alvo
de toda a detrao por parte dos socrticos,
chegamos a Aristipo. Esse sofista, tendo sofrido um naufrgio e aportado em uma praia na
qual se vislumbravam figuras geomtricas na
areia, sente suscitar-lhe, como inspirao, a
brilhante idia de dirigir-se ao ginsio da cidade e, atravs de seus apurados conhecimentos, conquistar em disputas filosficas os v-
veres necessrios para si e seus companheiros.
A figura geomtrica a se coloca enquanto sinnimo da presena de seres humanos racionais. um momento at mesmo de reavaliao dos valores, aquele momento do qual se
extrai a essncia da vida. Nesse sentido, nos
revela Aristipo: S aquilo que as inclemncias do destino, a revoluo ou a guerra no
podem prejudicar importante para a vida.
Tambm na Odissia, Homero para quem os
olhos do corpo estavam fechados e os do esprito abertos s imagens inspiradas pelas musas classifica como humanas as sociedades
que conhecem e se utilizam do po e do vinho. Condio de humanidade ou no, toda a
Europa, h milnios, tem nesses dois elementos a base de sua alimentao. A condio eurocntrica da razo ocidental imposta ao mundo pelas grandes navegaes e pela expanso
imperialista faz crer tambm que a razo, exaltada pelo homem do sculo XVII (e representada aqui pelas figuras geomtricas na praia)
seja a caracterstica por excelncia da humanidade. A desiluso que, ao longo dos sculos
seguintes levaria o homem a relativizar o messianismo dessa razo e a compreender cada
vez com maior profundidade sua condio de
ser de emoes, leva compreenso de que
navegar preciso, viver no preciso.
A metfora do naufrgio nos sugere aqui o
momento em que o homem se depara consigo mesmo, com o seu eu mais escondido (principalmente dele mesmo). A conscincia da prpria inconstncia, indeterminao, inerente
existncia o que torna a austeridade pregada pelos esticos uma necessidade e uma atitude prudente e sbia a todo o que se prope
navegao temerria. Poderamos da extrair uma questo fundamental: mas afinal de
contas, o que resta ao nufrago?
Montaigne nos diria que o despojo do nufrago a posse de si mesmo. E a posse de si
mesmo o resultado da autodescoberta, da
auto-apropriao, do confronto consigo mesmo de que falvamos h pouco. O naufrgio
, nesse sentido, o espao/momento da descoberta/encontro com a essncia do prprio nufrago. Montaigne categrico sobre o sentido atribudo ao naufrgio: O interior inatingvel do exterior.
Mas Montaigne tambm se d conta de que
50
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 43-52, dez. 1999
RESENHAS
a navegao temerria e o prprio naufrgio
(conseqncia legtima) impe ao homem um
desfazer-se de suas iluses sobre si mesmo.
Uma dessas desiluses sobre a prpria existncia do homem. Desde sempre, o homem
recusa-se a aceitar que a morte o seu fim derradeiro: considerar-nos demasiados importantes para aceitar que as coisas continuam sem
ns e que no sofrem com a nossa ausncia.
Mas a recproca tambm verdadeira: o mundo da terra firme tambm nos escapa medida que nos afastamos dela; faltaramos s coisas medida que elas nos escapam. Mas no
seria esse escapar-se o pressuposto para atingirmos a ns mesmos? A distncia , por vezes, necessria para um confronto mais sincero consigo mesmo. Quando tudo e todos nos
escapam s nos resta a ns mesmos. Poderemos escapar de ns mesmos?
H os que pensam que sim. O espectador
, talvez, um dos mais legtimos representantes desse grupo. Mas o viajante que reluta deixar o porto tambm o . O prprio Montaigne
justifica essa posio: E eu hei de utilizar tantas amarras quanto o meu dever o permita
para me manter tona da gua. o homem
que adia o momento doloroso de encontrarse consigo mesmo. Mas, se Montaigne admite
o direito do homem de ser espectador, de estar margem firme, fora do perigo, Nietzsche
nega a possibilidade de absteno. Para ele,
alm do fato de sempre estarmos j embarcados e embrenhados no mar, somos tambm (e
inevitavelmente) nufragos. o perder-se a si
mesmo de Nietzsche contrapondo-se ao deparar-se consigo mesmo de Montaigne. Mas, angustiante dvida: no seria o perder-se a si mesmo o tnue limite que separa o momento de
deparar-se consigo mesmo? Ou seria o contrrio?
Mas o nufrago chega, por fim, a terra firme. E surpreende-se: ela no oscila. Numa
constatao sutil, Blumenberg nos diz que a
terra firme no a posio do espectador, mas
a do nufrago salvo. E o que resta ao nufrago
o desejo de voltar ao mar porque a posse de
si mesmo to imprecisa quanto a vida. S o
navegar preciso.
Mas o espectador um espectro que ronda
o nufrago. O espectador no goza da sublimidade de um deus que se coloca acima de
tudo e de todos, nem da neutralidade de um
objeto inerte como se poderia crer at certo
momento do texto; ele faz parte de seu tempo, est historicamente situado. Da a relevncia de Epicuro ser grego, e Lucrcio, romano,
e de dois sculos os separarem. O filsofo faz
parte de sua filosofia; esta filosofia, por sua vez,
um reflexo das indagaes de seu tempo, das
quais est imbudo e no pode se apartar totalmente. To puro e imparcial e alheio aos
fatos, no pode ser o espectador do mundo, a
no ser que transcendesse a condio humana e alcanasse a imunidade de um deus.
Mas h momentos em que o homem deve
assumir a posio de espectador. o caso de
Goethe, que assume a funo de espectador
para depois escrever sobre sua experincia.
a arte de sobreviver num momento-limite.
Goethe, ao escrever, tambm se indigna e, ao
indignar-se, tambm naufraga.
O processo metafrico e o processo real de
transposio do limite da terra firme para o
mar ofuscam-se um ao outro, exatamente
como o risco metafrico e o risco real do naufrgio. Num dos pensamentos elementares do
iluminismo, percebe-se claramente expressa a
idia de que os naufrgios so o preo a pagar
para que uma calmaria total dos mares no
torne o trfego mundial impossvel para os
homens. A estaria a justificao das paixes.
A razo, entendida como a calmaria do mar,
seria ento a imobilidade do homem em posse total de sua prudncia. Justamente o oceano agitado da alma incendiada de paixes
constri e destri tudo; destri o antigo para
construir o novo, torna possvel, simultnea e
dialeticamente, a navegao do barco da histria dos homens. Se a razo dominasse o
mundo, a rigor, nada aconteceria nele. O paradoxo entre a razo e a paixo constitui, nesse sentido, uma das angstias do homem.
Mas preciso ater-se ao fato de que a sabedoria consiste em aliar razo e paixo. Lembramo-nos aqui, mais uma vez, de Cames:
se verdade que no controlamos o vento e
as tempestades (o curso da vida), no podemos desconsiderar o fato de que temos total
controle sobre o barco (o navegar). A arte de
sobreviver no seria, portanto, o equilbrio
entre razo e paixo? Talvez, posto que nem o
equilbrio algo constante.
Os navegantes temem a calmaria e s de-
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 43-52, dez. 1999
51
RESENHAS
sejam ventos, mesmo se expondo ao possvel
e provvel perigo de uma tempestade. Os ventos, no caso do homem, seriam os movimentos do nimo, fonte de todas as paixes empreendedoras e destruidoras. Talvez esses
mesmos movimentos da alma angustiada de
gnios artsticos como Michelangelo tenham
sido responsveis por sua produo artstica
em que vislumbramos profunda sublimidade
associada inquietao e tempestade interior. Tambm em Voltaire as paixes so a energia que move o mundo dos homens. Assumindo a funo de faca de dois gumes, a paixo
o vento que impulsiona a vela mas tambm
pode desviar a nau. a blis que digere os alimentos mas torna tambm o homem colrico.
A cincia enquanto metodologia que permite um saber sistematizado fundamentado
na experimentao decepcionou-nos at certo ponto, no realizou em sua plenitude as
esperanas, desejos e aspiraes que nela depositvamos. No entanto, no conseguimos
ainda sobrepuj-la significativamente em suas
realizaes que, embora no satisfaam totalmente a infinita aspirao humana, so suficientes para atender s exigncias de conservao da vida.
Como tbua de salvao, como prancha
que se apresenta quele que est prestes a afogar-se, a cincia pode salvar vidas e no se resume a uma simples palha, que abandona totalmente ao desamparo a quem nela se apia,
por sua fragilidade irremedivel, como querem alguns. Contudo, no temos ainda um
barco de salvao, nem avistamos, ao que nos
parece, a possibilidade de obt-lo. Se a impreciso reduzida num determinado lugar, ela
pode aparecer novamente e com mais fora em
outro, havendo, por assim dizer, um entrelaamento entre o que est previamente dado e
a ausncia de qualquer pressuposto. Se no h
terra firme como horizonte a ser atingido, nosso barco deve ter sido construdo j em altomar por aqueles que nos precederam, a partir
dos destroos de embarcaes preexistentes,
j superadas e destrudas pelas vagas enfurecidas.
Nadando, porque ento sabiam nadar e se
safar entre as ondas, nossos antepassados ou-
sadamente construram o navio confortvel
em que hoje muitas vezes nos acomodamos
sem coragem de saltar ao mar e recomear todo
o processo, a partir mesmo dos destroos de
naufrgios anteriores. O barco atual, que a rigor no muito mais do que uma prancha (e
decepcionados descobrimos, no raro, sua fragilidade) o resultado histrico, simultneo e
dialtico de sucessivas remodelaes e reconstrues que, somadas, nos permitiram o mnimo de segurana de que hoje dispomos. Mas
a natureza mesma da alma humana no procura porto seguro, j que este se apresenta
como inexistncia na realidade acessvel: o
porto seguro ou a segurana almejada esto,
na verdade, no fora do universo interno do
homem, mas escondidos nas profundezas do
oceano do seu ser. Singrar esse oceano, captlo em sua essncia, algo obtido no prprio
ato da navegao temerria, uma vez que tambm nesses domnios o caminho se faz ao caminhar e a realizao est no pleno devir da
realidade humana a que Hegel denominava
em sua projeo exterior: objetivao do esprito. A objetivao do esprito se d no
processo dialtico da histria dos homens,
durante seu processo de humanizar a natureza, iniciado a partir do prprio surgimento da
espcie na terra. O mundo humanizado de
hoje reflexo dos milnios de construes anteriores.
O novo surge a partir dos destroos do velho em confronto com a necessidade premente de sobrevivncia ou com a ambio pura e
simples de uma navegao temerria, gerando como sntese um produto ao mesmo tempo hbrido e indito, calcado em alicerces que
tambm flutuam sobre as guas que a tudo
renovam. Nesse sentido, construmos o novo
barco a partir dos destroos.
LEN-PORTILLA, Miguel. Hernn Corts y la Mar
del Sur. Madrid: Ediciones Cultura Hispanica/
Instituto de Cooperacin Iberoamericana, 1985.
52
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 43-52, dez. 1999
Referncias bibliogrficas
BLUMENBERG, Hans. Naufrgio com espectador.
Lisboa: Ed. Veja, 1992.
DUBY, Georges (Org.). A civilizao latina. Lisboa:
Publicaes Dom Quixote, 1989.
RESENHAS
Outras publicaes da Editora PUC Minas
ARQUITETURA CADERNOS DE ARQUITETURA E URBANISMO Departamento de Arquitetura e Urbanismo
BIOS Departamento de Cincias Biolgicas
CADERNO DE CONTABILIDADE Departamento de Cincias Contbeis
CADERNO DE ENTREVISTAS Departamento de Comunicao Social
CADERNO DE ESTUDOS JURDICOS Faculdade Mineira de Direito
CADERNO DE REPORTAGENS MALDITAS Departamento de Comunicao Social
CADERNOS DE ADMINISTRAO Departamento de Administrao
CADERNOS DE BIOTICA Ncleo de Estudos de Biotica
CADERNOS CESPUC DE PESQUISA Centro de Estudos Luso-afro-brasileiros da PUC Minas
CADERNOS DE CINCIAS SOCIAIS Departamento de Sociologia
CADERNOS DE ECONOMIA Departamento de Economia
CADERNOS DE ENGENHARIA IPUC Instituto Politcnico da PUC Minas
CADERNOS DE GEOGRAFIA Departamento de Geografia
CADERNOS DE LETRAS Departamento de Letras
CADERNOS DE SERVIO SOCIAL Departamento de Servio Social
EDUCAO CADERNOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAO Departamento de Educao
ENFERMAGEM REVISTA: CADERNOS DE ENFERMAGEM Departamento de Enfermagem
EXTENSO: Cadernos da Pr-reitoria de Extenso da PUC Minas
HORIZONTE Revista do Ncleo de Estudos em Teologia da PUC Minas
ORDEM E DESORDEM: CADERNO DE COMUNICAO Departamento de Comunicao Social
SCRIPTA Revista do Programa de Ps-graduao em Letras e do CESPUC
SPIN ENSINO E PESQUISA Departamento de Fsica e Qumica
VERTENTE Revista da PUC Minas Contagem
Composio Eletrnica:
EMS editorao eletrnica
magalhaes.salles@hotmail.com Tel.: (31) 3041.1113
Impresso:
FUMARC
Fundao Mariana Resende Costa
Av. Francisco Sales, 540 Floresta
Fone: (31) 3249.7400 Fax: (31) 3249.7413
30150-220 Belo Horizonte Minas Gerais
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 43-52, dez. 1999
53
RESENHAS
54
Cad. hist., Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 43-52, dez. 1999
You might also like
- Angleide Silva Mendonca SantosDocument150 pagesAngleide Silva Mendonca SantosAmanda SantosNo ratings yet
- Portaria #3035.2022Document1 pagePortaria #3035.2022Amanda SantosNo ratings yet
- Mapa de Simão DiasDocument1 pageMapa de Simão DiasAmanda SantosNo ratings yet
- O colecionador Antonio Marcelino e o Museu TempostalDocument178 pagesO colecionador Antonio Marcelino e o Museu TempostalAmanda SantosNo ratings yet
- Pages RN Ciclo08-19 v1 BR BX PDFDocument176 pagesPages RN Ciclo08-19 v1 BR BX PDFAmanda SantosNo ratings yet
- HistoriaHistoriografiaSergipe Fernando SáDocument12 pagesHistoriaHistoriografiaSergipe Fernando SáAmanda SantosNo ratings yet
- Carolaine Oliveira Dos Santos - 1º Módulo - AvaliaçãoDocument4 pagesCarolaine Oliveira Dos Santos - 1º Módulo - AvaliaçãoAmanda SantosNo ratings yet
- 70 - Simão DiasDocument30 pages70 - Simão DiasAmanda SantosNo ratings yet
- Edital Nupel 06-2022 - Exames de Proficiencia - 1a RetificacaoDocument14 pagesEdital Nupel 06-2022 - Exames de Proficiencia - 1a RetificacaoAmanda SantosNo ratings yet
- Maria Irene de Araujo Dos SantosDocument81 pagesMaria Irene de Araujo Dos SantosAmanda SantosNo ratings yet
- Resultado Da Arguição de Projeto - Edital 02-2016Document1 pageResultado Da Arguição de Projeto - Edital 02-2016Amanda SantosNo ratings yet
- A Fotografia Entre Documento e Arte ContemporâneaDocument2 pagesA Fotografia Entre Documento e Arte ContemporâneaAmanda Santos0% (1)
- Teorias Sobre A Escravidão - Texto VIII - Anais - Eletronicos - ANPUH - e - IHGSE PDFDocument1,300 pagesTeorias Sobre A Escravidão - Texto VIII - Anais - Eletronicos - ANPUH - e - IHGSE PDFAmanda Santos100% (1)
- Discurso de Marcelo Déda Sobre Seu AvóDocument8 pagesDiscurso de Marcelo Déda Sobre Seu AvóAmanda SantosNo ratings yet
- Jornalismo em desenho: recursos e inserção de chargistas em SergipeDocument137 pagesJornalismo em desenho: recursos e inserção de chargistas em SergipeAmanda SantosNo ratings yet
- História Da Imprensa em Pernambuco - Vol. IIIDocument495 pagesHistória Da Imprensa em Pernambuco - Vol. IIIOlívia Tereza100% (1)
- Cartografia e mito da ilha BrasilDocument11 pagesCartografia e mito da ilha BrasilThiago Cancelier DiasNo ratings yet
- Por Uma História Do Jornalismo No Brasil - Marialva Barbosa PDFDocument13 pagesPor Uma História Do Jornalismo No Brasil - Marialva Barbosa PDFAmanda SantosNo ratings yet
- Cumbuca No 13 E Book PDFDocument43 pagesCumbuca No 13 E Book PDFAmanda Santos100% (1)
- Depoimento Dos Calouros 2018 - Estratégias e Técnicas de EstudoDocument12 pagesDepoimento Dos Calouros 2018 - Estratégias e Técnicas de EstudoAmanda SantosNo ratings yet
- Potências Animadas Do Traço PDFDocument20 pagesPotências Animadas Do Traço PDFAmanda SantosNo ratings yet
- Potências Animadas Do TraçoDocument5 pagesPotências Animadas Do TraçoAmanda SantosNo ratings yet
- Trabalho Do Curso PDDEDocument3 pagesTrabalho Do Curso PDDEAmanda SantosNo ratings yet
- Cartografia e mito da ilha BrasilDocument11 pagesCartografia e mito da ilha BrasilThiago Cancelier DiasNo ratings yet
- A Gênese Da Imprensa Caricata Sul-RiograndenseDocument38 pagesA Gênese Da Imprensa Caricata Sul-RiograndenseAmanda SantosNo ratings yet
- Revista Blooks 2 Web PDFDocument25 pagesRevista Blooks 2 Web PDFAmanda SantosNo ratings yet
- Vencendo o PassadoDocument29 pagesVencendo o PassadoAmanda Santos0% (1)
- HumorDocument11 pagesHumorAmanda Santos100% (1)
- Manual para Monografia de Conclusao de Curso1Document29 pagesManual para Monografia de Conclusao de Curso1Willian Moris BaccinNo ratings yet
- Conceito de CaricaturaDocument91 pagesConceito de CaricaturaAmanda SantosNo ratings yet
- Orçamento do Estado Português: Princípios e Compromissos da UEDocument3 pagesOrçamento do Estado Português: Princípios e Compromissos da UEMarceloNo ratings yet
- Avaliação UFCD 0568Document4 pagesAvaliação UFCD 0568Helder NevesNo ratings yet
- Evolução Histórica Do Direito EmpresarialDocument10 pagesEvolução Histórica Do Direito EmpresarialMauricio ViccentteNo ratings yet
- Apostila Bastter - Ap2007yyt PDFDocument116 pagesApostila Bastter - Ap2007yyt PDFsupermaxxx50% (2)
- Demandas Profissonais PDFDocument14 pagesDemandas Profissonais PDFRe Ouse100% (1)
- As Tendências Da Política de Assistência SocialDocument9 pagesAs Tendências Da Política de Assistência SocialJoao VictorNo ratings yet
- Regime Lucro Real empresasDocument5 pagesRegime Lucro Real empresasr_mattjieNo ratings yet
- Processo de trabalho assistente socialDocument35 pagesProcesso de trabalho assistente socialKelly Cristina RibeiroNo ratings yet
- Revolução Cubana: da colônia à independênciaDocument23 pagesRevolução Cubana: da colônia à independênciaLarissa Schunck LosanoNo ratings yet
- A Balança de CorreiaDocument6 pagesA Balança de CorreiajoaquimNo ratings yet
- Caso prático economia I - Vantagem comparativa leiteDocument2 pagesCaso prático economia I - Vantagem comparativa leiteInês MartinsNo ratings yet
- Leis de Sebastianópolis Do SulDocument26 pagesLeis de Sebastianópolis Do SulbujaosomNo ratings yet
- Itaucard 8841 Fatura 201911Document2 pagesItaucard 8841 Fatura 201911Gustavo Pires0% (1)
- Indicadores sociais e formulação de políticas públicasDocument9 pagesIndicadores sociais e formulação de políticas públicasFabio Da Silva SmoliakNo ratings yet
- Consulta A Página 163 Do Teu ManualDocument3 pagesConsulta A Página 163 Do Teu ManualRaquel MartinsNo ratings yet
- ESALQ USP Cuiabá Praticas de TradingDocument175 pagesESALQ USP Cuiabá Praticas de TradingmarcusdelbelNo ratings yet
- A Criação Do Patriarcado Gerda LernerDocument11 pagesA Criação Do Patriarcado Gerda Lernerdeborahdelancy100% (1)
- Biblioteca universal digitalDocument11 pagesBiblioteca universal digitalPaula RochaNo ratings yet
- Plano Diretor de Garanhuns protege meio ambienteDocument40 pagesPlano Diretor de Garanhuns protege meio ambientemallu24100% (1)
- O Estatuto Da Cidade e A Ordem Juridico-UrbanisticaDocument16 pagesO Estatuto Da Cidade e A Ordem Juridico-UrbanisticaTony AlmeidaNo ratings yet
- MPV 843 requisitos veículosDocument2 pagesMPV 843 requisitos veículosLuizGustavoVicenteNo ratings yet
- Bwc08 GuiaDocument2 pagesBwc08 GuiafredkspNo ratings yet
- O lobby da indústria para reduzir o custo BrasilDocument43 pagesO lobby da indústria para reduzir o custo BrasilwsedwrwerNo ratings yet
- 02 Avaliacao Depositos Conceitos Basicos PDFDocument67 pages02 Avaliacao Depositos Conceitos Basicos PDFMarcelo Lira100% (1)
- Embalagem e Materiais - Legislacao Portuguesa - 2003/01 - DL Nº 4 - QUALI - PTDocument30 pagesEmbalagem e Materiais - Legislacao Portuguesa - 2003/01 - DL Nº 4 - QUALI - PTQualiptNo ratings yet
- AULA 24 Como Calcular o Preço de Venda Do Seu Produto Ou ServiçoDocument13 pagesAULA 24 Como Calcular o Preço de Venda Do Seu Produto Ou Serviçorgs2001No ratings yet
- Cap. Modelo Ricardiano-ProvaIDocument21 pagesCap. Modelo Ricardiano-ProvaIChristiane MonteiroNo ratings yet
- Resumo Das Fórmulas Das Contas NacionaisDocument1 pageResumo Das Fórmulas Das Contas NacionaisluceliajulianiNo ratings yet
- ESMAIA - Panfleto Curso Profissional de TurismoDocument2 pagesESMAIA - Panfleto Curso Profissional de TurismoJose DiasNo ratings yet
- Diario Oficial 2015-09-25 Completo PDFDocument96 pagesDiario Oficial 2015-09-25 Completo PDFOtavio PinhoNo ratings yet