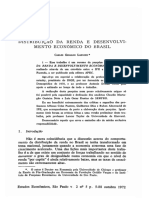Professional Documents
Culture Documents
Trabalhador Branco Ganha 80
Uploaded by
Pablo PoleseCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Trabalhador Branco Ganha 80
Uploaded by
Pablo PoleseCopyright:
Available Formats
Trabalhador branco ganha 80% mais que pretos e pardos no Brasil
Pesquisa do IBGE também mostra que em todas as regiões do país rendimento médio dos homens é maior
que o das mulheres
POR DAIANE COSTA 29/11/2017
RIO - Homens e brancos têm salários maiores, em média, que mulheres e pessoas pretas e pardas. Essas
duas desigualdades históricas, entre sexo e raça, foram reforçadas pelos dados divulgados pela Pnad
Contínua na manhã desta quarta-feira. Em 2016, o rendimento médio mensal real de todos os trabalhos foi
de R$ 2.380 pra os homens, enquanto o das mulheres ficou em R$ 1.836 - valor 23% inferior ao do homem.
Com relação a cor, os rendimentos médios mensais do trabalho de brancos (R$ 2.810) eram 84% superiores
aos dos pardos (R$ 1.524) e 82% maior que dos pretos (R$ 1.547).
Em todas as regiões do país o rendimento médio dos homens é maior que o das mulheres. Norte e Nordeste,
no entanto, são menos desiguais, ainda que homens (R$ 1.567) e mulheres (R$ 1.427) recebam bem abaixo
da média geral para todos os trabalhadores do país (R$ 2.149). Por outro lado, o Sudeste, que registrou as
maiores médias para mulheres (R$ 2.078) e homens (R$ 2.897), foi também a região onde a diferença é
maior, de 40%.
A pesquisa também mostra que, quanto maior o nível de instrução, maior o rendimento médio mensal real
de todos os trabalhos. As pessoas que não possuíam instrução ou tinham menos de 1 ano de estudo,
apresentaram o menor rendimento médio (R$ 884). Por outro lado, o rendimento das pessoas com ensino
fundamental completo ou equivalente, foi 57,8% maior, chegando a R$ 1.395. Quem tem ensino superior
completo tem rendimento médio aproximadamente 3 vezes maior que o daqueles que tinham somente o
ensino médio completo e quase 6 vezes o daqueles sem instrução.
Renda média de metade dos trabalhadores brasileiros é inferior a um salário mínimo
POR DAIANE COSTA E ÉFREM RIBEIRO 29/11/2017
RIO e TERESINA (Piauí)- A renda média de metade dos trabalhadores brasileiros - um grupo de 44,5
milhões de pessoas que estava empregada em 2016 - é inferior a um salário mínimo. É o que mostram os
dados da mais recente Pnad Contínua, divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira. Segundo o documento, o
rendimento médio real mensal recebido por esses trabalhadores, classificados como os 50% com menores
rendimentos, foi de R$ 747 no ano passado - o correspondente a apenas um terço da renda média de todos os
ocupados, que foi estimada em R$ 2.149. Morador de Teresina, o eletricista Matuzalém Bastos Leal perdeu
o emprego em que ganhava R$ 1.500 por mês, e agora depende de trabalhos avulsos para conseguir uma
renda mensal em torno de R$ 450,00.
- Tem meses que chego a ganhar mais do que os R$ 450,00, mas tem meses que não aparece novos trabalhos
para eletricista. Então, fica menos da metade de um salário mínimo por mês. Quando não dá para comprar
comida, minha mãe me ajuda com R$ 500 e assim vou vivendo - disse ele.
O que coloca esse valor médio geral para cima é, principalmente, a renda média do 1% com os maiores
rendimentos. Este grupo, formado por 889 mil trabalhadores, recebeu, em média em 2016, R$ 27.085
mensais. Esse valor é 36,3 vezes maior do que a renda média dos 50% com os menores rendimentos,
estimada em R$ 747.
- É por isso que temos um número expressivo de pessoas na informalidade, como pequenos empregadores,
conta própria. São pessoas que têm rendimentos do trabalho bastante inferiores. Do outro lado, temos 1% da
população ocupada ganhando, em média, R$ 27 mil mensais. Por isso vivemos num país tão desigual -
analisa Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimentos do IBGE
Entre as regiões, a renda média da metade dos trabalhadores com os menores rendimentos vai de R$ 949 no
Sul a apenas R$ 485 no Nordeste.
A concentração de renda também fica evidente quando se olha para o total de rendimentos obtidos pelas
famílias com o trabalho e de outras fontes, que somou R$ 255 bilhões no ano passado. Os 10% mais ricos da
população concentraram quase metade desse bolo (43,4%), cerca de R$ 110,7 bilhões, enquanto os 80% que
ganham menos concentram menos: 40,8% de toda a massa.
IBGE mostrou que 1% mais ricos recebe 36 vezes mais que os 50% mais pobres
POR MARCELLO CORRÊA
29/11/2017
RIO - Dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE sugerem que a desigualdade social, intensificada pela
recessão econômica, deve demorar a ser superada no país, na avaliação de especialistas. De acordo com a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, metade dos trabalhadores tinha renda média
inferior a um salário mínimo em 2016. Além disso, a parcela dos 1º com mais rendimentos recebiam 36
vezes mais que os 50% mais pobres.
Por mudanças metodológicas na pesquisa, os números não podem ser comparados com os de anos
anteriores. Portanto, o IBGE não divulgou a variação em relação a 2015. Mas, para o economista Cláudio
Dedecca, especialista em trabalho e rendimento da Unicamp, há sinais de que a desigualdade aumentou no
ano passado.
— Os 10% mais ricos do país concentram 43,4% dos rendimentos. Pela metodologia antiga, esse número era
de cerca de 40%. Por mais que haja alteração da amostra, diria que os indicadores sugerem uma aceleração
da desigualdade enorme — disse o pesquisador, que considera correta o cuidado do IBGE em não comparar
diretamente dados de pesquisas diferentes.
O diagnóstico é semelhante ao apontado pelo economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social. Reportagem
do GLOBO publicada em março, com base no estudo da FGV Social, mostrou que a desigualdade, medida
pelo chamado índice de Gini, subiu 1,6% em 2016, na comparação com 2015, após 22 anos em queda.
Dedecca acrescenta que a recessão pesa mais sobre os mais pobres principalmente por causa do efeito do
desemprego sobre a renda. Em média, a perda do emprego tem impactos mais severos sobre famílias onde
todos ganham salário mínimo:
— (A recessão) penalizou mais os mais pobre, e os dados de emprego mostram isso. Como esse grupo
ganha, em geral, rendimento próximo a salário mínimo, ter uma pessoa a mais ou a menos empregada afeta
significativamente o rendimento per capita. Em uma casa com três pessoas trabalhando, a renda per capita é
de um salário mínimo. Se uma perde o emprego, são dois salários mínimos divididos por três, o que faz o
rendimento dessa família cair para 67% do piso.
O presidente do Conselho Federal de Economia, Júlio Miragaya, também vê com preocupação os dados do
IBGE, e destaca que a recessão pesou sobre a concentração de renda.
— Os dados são estarrecedores. O problema é que a realidade é mais grave que isso. Quem tem rendimentos
muito elevados não declara a totalidade do rendimento. Com certeza esse 1% deve ter mais da metade da
renda, se for considerar esse capital — avaliou.
Para os dois especialistas, apesar da recuperação da economia, a batalha contra a desigualdade ainda deve
demorar a ser vencida. Dedecca destaca que a política de salário mínimo que ajudou na retomada da renda
no passado terá efeito defasado nos próximos anos, justamente por causa da recessão. O reajuste do piso
leva em consideração o crescimento econômico de dois anos anteriores. Portanto, os frutos de um provável
crescimento econômico em 2017 e 2018 só terão efeito a partir de 2019.
— A experiência pregressa mostra que a recuperação da renda é mais lenta que a recuperação da atividade.
O ambiente para 2018 é de expectativa de crescimento ao redor de 2% e 3%, ainda a ser chancelado. Eu
diria que a grande probabilidade é a tendência de desigualdade se mantenha para o ano que vem — afirma o
especialista.
Já Miragaya, do Cofecon, vê problemas estruturais que impedem avanços mais robustos na diminuição da
concentração de renda, embora acredite que a melhora da atividade econômica e alívio da inflação sejam
fatores que ajudarão a melhorar o quadro nos próximos anos:
— O problema é um componente estrutural: uma tendência de aumento de intensificação da concentração da
renda e da riqueza no muno inteiro. São mecanismos criados e aperfeiçoados que de alguma forma
desobrigam os mais ricos a pagarem tributos. O Brasil é um dos poucos países que não tributa dividendos.
Essa tendência estrutural de maior concentração da renda e da riqueza deve permanecer no Brasil. E ela
agrava o problema.
Dados de estudo indicam que desigualdade no Brasil é machista e racista
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostra que, apesar dos avanços sociais em relação a
décadas passadas, ainda temos um dos maiores abismos sociais do mundo
A desigualdade e a pobreza no Brasil caíram de forma vertiginosa se comparado com as décadas
anteriores. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) a renda
dos 20% mais pobres cresceu quatro vezes mais rápido que a dos 20% mais ricos entre os anos de
2002 e 2015.
(FOTO: REPRODUÇÃO / FACES DA DESIGUALDADE DO BRASIL)
A pobreza extrema também caiu de 8,2% da população em 2003 para 3,1% em 2015. Também
houve redução na pobreza crônica multidimensional — que são as pessoas que ficam abaixo da
linha da pobreza e não têm acesso aos bens e serviços básicos, como geladeira e saneamento
básico. De 9,3%, essa parcela da população caiu para 1%.
Consideradas somente as pessoas que se declaram negras, a pobreza crônica, que atingiu 14,9% do
total em 2002, chegou a 2015 impactando 1,5% desse recorte populacional. Esses dados foram
compilados pela economista Tereza Campello, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome, no trabalho chamado “Faces da Desigualdade no Brasil: Um olhar sobre os que ficam
para trás”.
(FOTO: REPRODUÇÃO / FACES DA DESIGUALDADE DO BRASIL)
A melhora dos números, no entanto, não significa que a desigualdade está encerrada. Pelo
contrário. Ainda existe um abismo social gigantesco no Brasil, com ampla desvantagem para
mulheres, negros e pardos. É o que mostra o mesmo Pnad, com informações divulgadas pelo
IBGE, em relação a 2016. Enquanto os 10% mais pobres ficaram com 0,8% dos rendimentos
mensais per capita, os 10% mais ricos ficaram com 43,4% desse bolo.
O 1% dos trabalhadores com maiores salários recebe 36,3 vezes mais — R$ 21.085 em média —
do que a metade mais pobre da população, que recebe R$ 747 na média.
O índice de Gini, que varia de 0 (perfeita igualdade) até 1 (desigualdade máxima), do rendimento
mensal real domiciliar per capita foi de 0,549 em 2016, contra 0,515 de 2015. Com isso, o país
deve subir no ranking da desigualdade, superando Colômbia, Paraguai e Lesoto e ocupando a nada
honrosa posição como o sétimo país mais desigual do mundo.
Rendimento médio mensal real, efetivamente recebido no mês de referência, de todos os trabalhos, a preços
médios de 2016, segundo o sexo - 2016 (foto: IBGE)
Apesar de representarem mais da metade dos 88,9 milhões de trabalhadores brasileiros, as
mulheres são preteridas pelos homens em 57,5% dos postos. Seu trabalho também vale menos, já
que receberam R$ 1.836, em média, contra R$ 2.380 dos homens. Um prejuízo de 22,9%.
Quando a comparação é entre quem se declara preto e pardo e os brancos, a distância é ainda mais
gritante. Brancos têm rendimento médio de R$ 2.810 por mês, enquanto pretos ficam com R$
1.547 e pardos com R$ 1.524.
QUEM TRABALHA ONDE. (FOTO: IBGE)
De acordo com os dados do Pnad referentes ao terceiro trimestre de 2017, pretos e pardos são 63,7% da
população sem trabalho (ou 8,3 milhões de pessoas de pessoas). No total são 13 milhões de brasileiros
desocupados: trabalhadores informais, ambulantes e empregados domésticos são os mais afetados.
“Entre os diversos fatores estão a falta de experiência, de escolarização e de formação de grande parte da
população de cor preta ou parda. Isso é um processo histórico, que vem desde a época da colonização",
afirma Cimar Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do IBGE. "Claro que se avançou muito, mais
ainda tem que se avançar bastante, no sentido de dar a população de cor preta ou parda igualdade em relação
ao que temos hoje na população de cor branca”. Temos um longo caminho pela frente.
Desigualdade faz mal à saúde
Os ricos brasileiros vivem menos que os pobres suecos. Entenda como as grandes diferenças sociais estão
afetando a qualidade de vida de toda a população No inverno de 1846, uma epidemia de tifo, doença
bacteriana transmitida por pulgas que causa febre alta, delírios e erupções cutâneas, assolava a região da
Silésia, norte da Alemanha, provocando a morte de mais de 15 mil pessoas. Sem saber o que fazer, o
governo prussiano enviou ao local uma comitiva chefiada pelo jovem médico polonês Rudolf Virchow. Em
16 dias, ele chegou a uma conclusão: a epidemia era evitável, pois tinha como causas a pobreza, a fome, a
corrupção e a desigualdade. Além de formular leis que funcionavam só no papel, a aristocracia não
reconhecia os mineradores de classes mais baixas como seres humanos. “É preciso deixar claro que não é
mais uma questão de tratar um ou outro paciente com remédios, comida, moradia e roupas”, escreveu o
médico em seu relatório. “Se nós de fato quisermos intervir na Silésia, temos de promover o avanço de toda
a população e estimular um esforço comum.” Naquela época, quando as causas das doenças ainda eram
desconhecidas e acabavam sendo atribuídas a miasmas, as ideias de Rudolf Virchow provocaram incômodo.
No verão de 1986, uma doença que causava febre alta, manchas e dores no corpo afetava crianças e adultos
na Baixada Fluminense, norte do Rio de Janeiro, naquele que seria o retorno das epidemias de dengue no
Brasil. Um milhão de pessoas foram ameaçadas só no Rio; o total de casos chegou a 33.568 no país, 12.480
dos quais na capital fluminense. As condições da Baixada, com alta insalubridade, aglomerados de pessoas e
falta de informação sobre a prevenção — eliminar focos de água parada, essenciais para a reprodução do
mosquito —, eram perfeitas para a proliferação da doença. Trinta e um anos depois, pouco mudou. A
dengue se espalhou pelo país e chegou a capitais como São Paulo, onde bairros como a Brasilândia, periferia
na zona norte recordista no número de casos na cidade, convivem com ela há pelo menos seis anos. Há dois,
transformou-se em uma nova epidemia: em seu auge, em 2015, foram 3,6 mil casos a cada 100 mil
habitantes — para se ter uma ideia, uma doença é considerada epidêmica quando existem mais de 300 casos
por 100 mil habitantes em uma região. Lixões e esgoto a céu aberto, casas coladas umas nas outras, falta de
informação sobre como se prevenir e falta de drenagem das águas de chuvas de verão permanecem cenários
perfeitos para a proliferação do mosquito, que depois chegou a outros bairros da cidade. Na Brasilândia, os
moradores já não se perguntam se terão dengue, mas quando. E, enquanto a situação permanecer igual
àquela da Baixada em 1986, não é exagero dizer que eles têm razão. “As epidemias não apontam sempre
para deficiências da sociedade? Pode-se considerar como causas as condições atmosféricas, as mudanças
cósmicas gerais e coisas parecidas, mas em si e por si esses problemas nunca causam epidemias. Elas só
podem existir onde, devido a condições sociais de pobreza, o povo viveu durante muito tempo em uma
situação anormal”, disse Virchow no século 19, em uma constatação que parece cada vez mais atual. O
médico polonês é tido como um dos pais da medicina social, área que estuda como a estrutura social
determina a saúde da população. Se em 1846 Virchow foi considerado revolucionário por apontar a pobreza
como determinante de uma epidemia, algo que atualmente é aceito na medicina, os pesquisadores da área
enfrentam hoje outro desafio: mostrar como a desigualdade social prejudica a saúde da sociedade toda, não
só a dos mais pobres. “Não adianta você se esconder atrás de muros em condomínios, uma hora as
consequências vão chegar”, afirma a pesquisadora da Fiocruz Celia Landmann Szwarcwald. A dengue está
aí para mostrar isso. No auge da epidemia em São Paulo, em 2015, o número de casos por 100 mil
habitantes chegou a quase 400 no Itaim Bibi, um dos bairros mais ricos da cidade. Szwarcwald é editora do
suplemento A Panorama of Health Inequalities in Brazil (Um Panorama das Desigualdades em Saúde no
Brasil), publicado no International Journal for Equity in Health no fim do ano passado. Nele estão reunidas
análises realizadas com base na última Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada em 2013. Um dos resultados
que mais chamam a atenção é o de que, embora a saúde do brasileiro tenha melhorado na sua totalidade,
ainda existe uma diferença muito grande entre a expectativa de vida de cada região. Pelas estatísticas, os
moradores da região Sudeste, por exemplo, vivem em média cinco anos a mais do que os do Nordeste.
Mesmo assim, os habitantes do Sudeste têm vida mais curta que a possível nos países nórdicos, conhecidos
pelos bons índices de igualdade social. O problema, no entanto, não está restrito ao Brasil, mostra outro
estudo publicado em fevereiro na revista médica britânica The Lancet. Feita com 1,7 milhão de pessoas de
Reino Unido, França, Suíça, Portugal, Itália, EUA e Austrália, a pesquisa mostrou que o risco de morrer
antes dos 85 anos é 46% maior entre os mais pobres. “Embora a saúde dos mais ricos não esteja
necessariamente ameaçada, as desigualdades têm um custo alto para a sociedade e para os sistemas de saúde,
então, a longo prazo, todos pagam por elas”, diz a epidemiologista Silvia Stringhini, da Universidade de
Lausanne, na Suíça, uma das autoras do estudo.
Como a meritocracia contribui para a desigualdade
Novo livro de economista norte-americano põe a meritocracia em xeque e destaca que sistema deixa as
pessoas menos generosas.
Raimundo Nonato Leandro de Medeiros trabalha desde os 5 anos. Aos 45, é zelador de um edifício na zona
oeste de São Paulo, onde é funcionário há mais de duasdécadas. Nos anos 1990, Medeiros saiu de um sítio
da Paraíba para ser pedreiro nas obras da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec). “Eu até
poderia ter tentado estudar alguma coisa por ali, mas seria complicado, porque o trabalho ia das sete da
manhã às cinco da tarde, muitas vezes noite adentro.” Teria sido mestre de obras, talvez? Engenheiro?
“Quem sabe, nunca tive muito tempo para pensar nisso”, responde ele, que ganha, em média, R$ 1.800 por
mês.
Na casa ao lado do prédio em que Medeiros mora vive Elington Fernandes, que também trabalha há pouco
mais de 40 anos. Aos 65, é engenheiro civil na empresa que abriu quase duas décadas atrás. Filho de
fazendeiros da Zona da Mata mineira, saiu da casa dos pais na década de 1970 para estudar Engenharia na
Universidade Federal de Juiz de Fora. Quando se formou, em 1976, veio para São Paulo para trabalhar em
uma empresa que fazia obras para a Companhia Siderúrgica Paulista. “Eu sempre me esforcei muito, até
hoje não são raros os dias em que trabalho mais de 16 horas”, conta Fernandes, que tem salário médio de R$
15 mil. “Mas fui, sim, muito sortudo por ter nascido na família em que nasci, que sempre me deu tudo.”
Debater o abismo entre realidades tão distintas, como as de Medeiros e Fernandes, e o quanto dele pode ser
atribuído às oportunidades — ou à sorte — encontradas ao longo das trajetórias é o objetivo do economista
americano Robert H. Frank, professor da Universidade Cornell. No livro Success and Luck: Good Fortune
and the Myth of Meritocracy (“Sucesso e Sorte: A Boa Sorte e o Mito da Meritocracia”), lançado nos
Estados Unidos em abril e em fase de tradução para o português, mas ainda sem previsão de lançamento no
Brasil, ele conta uma história parecida com a de Medeiros.
Quando trabalhou como voluntário no Nepal, Frank contratou como cozinheiro um jovem de um vilarejo do
Butão. “Ele continua sendo uma das pessoas mais trabalhadoras e talentosas que eu já conheci, sabia
consertar o que você puder imaginar e, ao mesmo tempo, sabia lidar com as pessoas”, escreve Frank.
Mesmo assim, continua, o pequeno salário que recebia como cozinheiro talvez tenha sido o mais alto em
toda a sua carreira. “Se ele tivesse crescido em outras condições ou em um país mais rico, teria alcançado
maior prosperidade e sucesso material?”, reflete.
Discussões e questionamentos semelhantes ganharam destaque nas redes sociais brasileiras no fim de maio.
Diante da notícia de que o filho do presidente interino Michel Temer, Michel Miguel Elias Temer Lulia
Filho, mais conhecido como Michelzinho, tem em seu nome, aos 7 anos, mais de R$ 2 milhões em bens,
alguns internautas compartilharam a frase irônica “O legal da meritocracia é que você pode entrar na idade
escolar com R$ 2 milhões em imóveis ou sem merenda, mas o seu sucesso depende só de você”. É mais ou
menos essa a provocação principal no livro de Frank, que defende que, para obter sucesso, tão fundamental
quanto ter talento e se esforçar é ter sorte — e aí está incluso tudo o que foge ao nosso controle, como nascer
em uma família rica, frequentar boas escolas ou simplesmente nascer em um país desenvolvido. “Eu não
defendo que as pessoas não sejam avaliadas e recompensadas por suas qualificações”, diz Frank. “Mas há
muita gente talentosa e trabalhadora no mundo que não chega lá simplesmente por não ter sorte.”
Vantagem na largada
Na opinião do autor, isso é particularmente evidente (e tem consequências piores) em países onde
a desigualdade social é maior — caso do Brasil, que costuma aparecer entre os 20 piores colocados em listas
que medem a concentração de renda. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de
2014, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o salário dos 10% mais ricos é quase
30 vezes maior que o dos 10% mais pobres.
Uma comparação que ajuda a entender o ponto de quem critica a meritocracia como sistema de seleção e
também por que ela tem relação com a desigualdade é que o mercado de trabalho funciona como
uma competição para a qual o participante começa a se preparar desde a infância. As pessoas acumulam
capital humano, termo usado por economistas para denominar o conjunto de capacidades, competências e
atributos de personalidade que favorecem a produção de trabalho. Para isso, contam com três recursos: os
privados, os públicos e seus próprios talentos — daí a importância da educação. Como os recursos públicos
e, principalmente, os privados não são os mesmos para todos, ao observar somente o final da corrida, o
sistema privilegia poucos.
Ao aplicar essa lógica ao caso de Michelzinho, por exemplo, seria possível afirmar que ele, que frequenta
uma das melhores escolas da capital paulista — cuja mensalidade pode passar de R$ 3 mil, quase três vezes
a renda média per capita do país —, terá as mesmas chances de ser bem-sucedido que um dos alunos de
escolas públicas estaduais que nem sequer têm merenda? De forma alguma, avalia o jornalista britânico
James Bloodworth, 33, autor do recém-lançado The Myth of Meritocracy: Why Working Class Kids Still
Get Working Class Jobs (“O Mito da Meritocracia: Por que Crianças da Classe Trabalhadora Ainda Têm
Empregos de Classe Trabalhadora”, sem previsão de lançamento no Brasil). A motivação da pesquisa foi
justamente sua experiência com o sistema educacional britânico. Aos 16, ele saiu da escola e, para voltar a
estudar aos 19 e poder fazer as provas para universidades, precisou pagar 900 libras esterlinas (cerca de R$
4,5 mil), por ser considerado um estudante “maduro”.
“Depois de pegar um empréstimo com minha avó, comecei a pensar: ‘Se eu não conseguisse juntar esse
dinheiro, nunca teria chegado aonde cheguei’”, conta. Na divulgação do livro, meio sem querer, o jornalista
provou seu ponto. Ao receber um convite do site Huffington Post para escrever um artigo de graça, ele
simplesmente respondeu, no Twitter: “Acabei de escrever sobre a dificuldade que jovens da classe
trabalhadora têm em se dar bem em suas profissões por causa da proliferação do trabalho não remunerado.
Então, eis meu artigo: você faz parte do problema, Huffington”.
Entre os dados que considera alarmantes, Bloodworth cita os relacionados à educação superior e às
profissões mais bem remuneradas — e como, de certa forma, eles estão interligados. Quem frequenta
universidades mais novas, que tendem a atrair estudantes de baixa renda, em geral tem salários menores do
que aqueles que estudaram em faculdades consideradas tradicionais e de elite. Na Universidade de Oxford,
por exemplo, é interessante notar como isso aparece nos sobrenomes: são predominantes os que pertencem
às famílias mais ricas do país, como Baskerville, Darcy e Montgomery. E, embora somente 7% das crianças
britânicas frequentem colégios privados, 33% dos médicos, 71% dos juízes e 44% das pessoas que aparecem
na lista dos mais ricos do jornal The Sunday Times estudaram nesse tipo de instituição. “Tentativas genuínas
para proporcionar mobilidade social deveriam começar por reduzir a desigualdade entre ricos e pobres, não
estratificando a sociedade com base em mérito”, argumenta Bloodworth.
O fim da mobilidade social, a desigualdade crescente e a formação de castas seriam as consequências
devastadoras de sistemas puramente meritocráticos, de acordo com o autor britânico Michael Young, que
cunhou o termo em 1958 no livro A Ascensão da Meritocracia. A obra de ficção era, na verdade, uma crítica
à cultura do “self-made man”, a ideia de que as pessoas constroem por si mesmas o próprio sucesso. “Como
um objetivo puro, a meritocracia é uma fantasia inatingível, ela se canibalizaria graças aos resultados
extremamente desiguais que ela geraria”, diz Bloodworth. “Em uma verdadeira meritocracia, os
malsucedidos encaram a vergonha dupla de saber que, sem dúvidas, mereceram esse destino.”
O Paradoxo
Ironicamente, não foi essa a interpretação da sociedade para o livro de Young. O sistema foi visto como
positivo e como uma alternativa ao fisiologismo, ao nepotismo ou a privilégios relacionados à renda ou
mesmo ao gênero. “Quando se discutem as consequências nefastas disso e procuram-se alternativas, a
conclusão lógica é passar a avaliar as pessoas por mérito”, diz a antropóloga Livia Barbosa, da Universidade
Federal Fluminense.
De volta ao exemplo das crianças em idade escolar, um argumento recorrente entre quem defende a
meritocracia é que ela acabaria com a possibilidade de a criança mais rica ser beneficiada apenas pelo
dinheiro. Afinal, se ela não trabalhar duro e não tiver talento, de nada adiantará a riqueza inicial — que
pode, inclusive, se transformar em desvantagem caso a pessoa passe a acreditar que tem “a vida ganha” e,
portanto, não precisa se esforçar. “Quando nascemos, independentemente do local, somos todos zero
quilômetro, não sabemos absolutamente nada”, diz o diplomata Paulo Roberto de Almeida, consultor do
Instituto Millenium, entidade de perfil liberal. Como exemplo, ele cita a própria carreira. Nascido em família
de baixa renda, atribui o sucesso aos estudos, em parte realizados por conta própria em uma biblioteca perto
da casa onde cresceu. “Eu me fiz nos livros, pelos livros e para os livros.”
Para o cientista político Luiz Felipe d’Ávila, diretor do Centro de Liderança Pública, uma educação
precária é, sim, uma desvantagem competitiva. Porém, ao mesmo tempo, só frequentar uma boa escola ou
faculdade não basta. “Para ter sucesso hoje, é preciso saber lidar com pessoas e ter vivências que muitas
vezes ninguém ensina no colégio”, diz. Um indivíduo talentoso e esforçado pode, e deve, buscar mais
diferenciais e habilidades. Um caso que ganhou destaque na mídia recentemente é o do chef Marcelo
Ribeiro, responsável pelo cardápio do restaurante Depósito Gourmet, no Rio de Janeiro, que recebeu duas
indicações ao prestigiado Guia Michelin. Ex-vendedor de balas na Central do Brasil, Ribeiro cursou
culinária no Senac de Niterói e, por meio de estágios em hotéis, chegou ao posto atual.
“Aqui a meritocracia é tida como algo injusto, com exceção do universo das empresas, em que é vista com
bons olhos”, diz Barbosa, autora do livro Meritocracia à Brasileira: O que É Desempenho no Brasil. Ela
explica que o termo só passou a ser conhecido no país na última década, e com um viés mais politizado do
que em nações como os Estados Unidos, onde a meritocracia é encarada como ideologia e bastante analisada
no mundo acadêmico. Mas, mesmo no dia a dia, argumenta, aplicamos a meritocracia de modo quase
inconsciente. “Se você precisa pintar a casa, não sairá à procura do ‘pior pintor’. Sempre queremos o
melhor. Por que haveria de ser diferente nas empresas?”
Outro problema, na opinião de Barbosa e Almeida, é que no Brasil, talvez por conviver com outras
ideologias de hierarquização, a meritocracia é um pouco às avessas. O sistema é aplicado principalmente na
seleção de profissionais, como em concursos públicos, mas são criadas aberrações como a “indústria dos
concursos”, em que milhares de pessoas gastam tempo e dinheiro para fazer parte de um funcionalismo que
não continua a avaliá-las por mérito ao longo da carreira. A antropóloga afirma ainda que a sociedade
brasileira nunca reivindicou de fato a meritocracia, embora esta talvez seja uma boa maneira de combater a
corrupção. “As pessoas pedem menos corrupção e leis para isso, mas não enxergam a meritocracia como o
único sistema que, de certa forma, neutraliza critérios que geram privilégios e facilitam a corrupção”,
ressalta.
O Fator Acaso
Além da desigualdade, a influência do acaso puro numa carreira, sem necessariamente estar relacionado a
desigualdades de classe, gênero ou raça, divide opiniões. Para defender o argumento, o economista Robert
Frank buscou exemplos também na própria trajetória e em estudos já realizados. Em seus primeiros anos
como professor em Cornell, Frank se divorciou e não conseguiu escrever os artigos necessários, pelas regras
da instituição, para não ser demitido depois do período de três anos iniciais. Entretanto, talvez por sorte, foi
mantido no cargo. No ano seguinte, conheceu um professor visitante que o encorajou a escrever sobre o
mercado de trabalho. Foram quatro artigos, todos publicados nas principais revistas da área em poucos
meses.
Geralmente, esses periódicos aceitam menos de 10% do material que recebem e podem levar até um ano
para responder. “Tenho orgulho dos estudos, mas não acho que tinham qualidade muito superior aos que
foram recusados. E a probabilidade de ter os quatro aprovados em um período de tempo tão curto é pequena,
o que me leva a crer que meu sucesso editorial repentino foi uma grande sorte.” Ele atribui a isso o fato de
ter superado a avaliação seguinte e mantido o emprego na universidade.
Em um estudo emblemático realizado em 2006, o sociólogo Duncan Watts, pesquisador da Microsoft, e sua
equipe buscaram avaliar o quanto o sucesso depende do acaso. No experimento chamado Music Lab, feito
com 14 mil pessoas nos EUA, a ideia era responder a essa pergunta para músicos iniciantes. Em um site,
publicaram 48 nomes de bandas independentes e uma música de cada uma. Os visitantes poderiam fazer o
download de qualquer uma delas, desde que as avaliassem depois de ouvi-las, para criar um ranking objetivo
da qualidade das músicas.
Com isso em mãos, os pesquisadores, então, criaram oito novos sites com as mesmas bandas e canções.
Dessa vez, porém, os visitantes poderiam ver o número de downloads e a avaliação que outros usuários
tinham feito das faixas. E o resultado foi surpreendente: a música que no ranking objetivo ficou em 26º
lugar, por exemplo, teve sua posição variada de forma drástica nos outros sites, da primeira colocação até a
última. “O destino dela dependeu da reação das primeiras pessoas que fizeram o download”, escreve Frank.
“É claro que trabalhos inquestionavelmente bons têm maiores chances de superar até comentários negativos,
mas o sucesso de algo tão subjetivo como a arte aparentemente depende da sorte de as primeiras impressões
serem positivas.”
O Vencedor Leva Tudo
O acaso puro pode ser determinante entre aqueles que são igualmente talentosos. No livro Fora de Série —
Outliers, de 2008, o jornalista Malcolm Gladwell lista uma série de acontecimentos ao longo da história que
mostram a influência de fatores improváveis para o sucesso, entre eles a data ou o ano de nascimento. Um
exemplo é o hóquei canadense. A seleção é formada por idade, e a data-limite para se candidatar é 1º de
janeiro. Por isso, um menino que completa 10 anos em 2 de janeiro pode jogar no mesmo time de outro que
só terá a mesma idade quase 12 meses depois. E 12 meses, nessa fase, fazem grande diferença no
desenvolvimento físico. Não à toa, aponta Gladwell, 40% dos garotos dos principais times fazem aniversário
entre janeiro e março, contra 10% entre outubro e dezembro.
Resultados parecidos foram observados pelas economistas Kelly Bedard e Elizabeth Dhuey quando
analisaram a relação entre as notas e o mês de nascimento de estudantes. No teste feito com alunos da quarta
série, os mais velhos tinham notas consideravelmente mais altas que os mais novos. Ao transferir a análise
para faculdades, elas descobriram que os alunos mais jovens correspondem a 11,6% das turmas. A diferença
inicial de maturidade aparentemente não diminui com o tempo. “É ridículo e muito estranho que nossa
escolha arbitrária de datas-limite acarrete esses efeitos duradouros e que ninguém pareça se importar com
isso”, escreve Dhuey.
Esse tipo de fenômeno recebeu até uma denominação própria, criada pelo sociólogo Robert Merton: o
“efeito Mateus”. É uma alusão ao Evangelho segundo Mateus, que afirma “Porque a todo aquele que tem
será dado e terá em abundância; mas, daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado”. Ou seja, às vezes,
por um golpe de sorte, algumas pessoas acabam recebendo grandes vantagens em relação às outras, e isso,
no fim, gera ainda mais desigualdade.
O raciocínio se aplica também aos chamados mercados “winner take all” (“o vencedor leva tudo”), como
explica Robert Frank. Atualmente, vivemos uma era em que poucas posições de trabalho concentram rendas
muito altas e desproporcionais em relação às outras. E, para concorrer a essas vagas, os candidatos estão
cada vez mais qualificados. “Em competições muito acirradas, tudo precisa correr perfeitamente”, conclui o
economista.
A indústria cultural é repleta de exemplos. Frank menciona a trajetória dos atores Al Pacino, famoso por seu
papel em O Poderoso Chefão, e Bryan Cranston, mais conhecido a partir de 2008 por viver Walter White na
série Breaking Bad. Embora ambos fossem talentosos e já trabalhassem na área, conseguiram os papéis que
alavancaram suas carreiras principalmente por sorte. Al Pacino foi escolhido por insistência do diretor
Francis Ford Coppola, contrariando as indicações do estúdio; Cranston, graças às recusas de John Cusack e
Matthew Broderick.
“As pessoas não gostam de ouvir que o sucesso tem a ver com sorte, elas não querem admitir o papel do
acaso em suas vidas”, disse o escritor Michael Lewis no discurso para a turma de formandos da
Universidade Princeton em 2012. Autor de A Grande Aposta e Um Sonho Possível, ambos adaptados para o
cinema, ele narrou uma série de eventos improváveis que o ajudaram a se tornar famoso e bem-sucedido.
“Em um jantar na universidade, sentei-me ao lado da esposa de um figurão de um banco de Wall Street, o
Salomon Brothers. Ela foi com a minha cara e meio que forçou o marido a me dar um emprego, com uma
posição que me permitiu observar de perto a loucura crescente”, descreve. O resultado da experiência virou
o best-seller O Jogo da Mentira.
“De repente, todo mundo me falava que nasci para ser escritor, mas até eu podia ver que aquilo era
absurdo”, continua. Afinal, quais as chances de se sentar justamente ao lado da senhora do Salomon
Brothers e cair nas graças dela? E o privilégio de poder estudar em Princeton, uma das melhores faculdades
do país? “Eu tive sorte, e isso não é falsa humildade.”
Reconheça os seus privilégios
Em resposta a questionamentos e críticas, Frank explica que não se deve deixar de avaliar as pessoas com
base em seus talentos e esforços. Afinal, como argumenta o cientista político D’Ávila, de nada adianta você
ter a sorte de conseguir uma oportunidade incrível em uma área que não domina. “Diga aos seus filhos para
trabalhar duro e não esperar por um momento de sorte”, defende Frank. “Mas, assim que se tornarem bem-
sucedidos, faça-os enxergar o quão sortudos eles foram.”
Isso porque quanto mais as pessoas acreditam que mereceram e conquistaram tudo sozinhas, menos elas
sentem que devem algo à sociedade. Como argumento, Frank cita um estudo de 2013 feito pelos cientistas
políticos Benjamin Page, Larry Bartels e Jason Seawright, das universidades americanas Northwestern e
Vanderbilt. Eles mostraram que o 1% mais rico da população é extremamente ativo politicamente e mais
resistente que o restante dos americanos a gastos do governo, impostos e regulações. “Quando você acredita
ter alcançado tudo sozinho, fica propenso a se recusar a pagar impostos, por exemplo, pois acha que o
governo está ‘roubando’ algo seu por direito”, explica. É um sentimento parecido, talvez, que faz
a elite ainda achar natural proibir empregados de frequentarem os mesmos lugares que ela. Um caso recente
exposto na mídia foi o do Country Club do Rio de Janeiro, onde placas anunciam que as babás dos filhos
dos frequentadores não podem usar os mesmos banheiros que as sócias. Mas, citando o bilionário Warren
Buffett, “alguém está sentado à sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo”. Isso leva
de volta à discussão sobre desigualdade e capital humano: é muito mais provável e fácil acumulá-lo quando
se tem a sorte de crescer em ambientes favoráveis, o que requer dinheiro e um alto grau de investimento
público — da educação à saúde e infraestrutura. Segundo Frank, somadas aos investimentos, as políticas
públicas, como ações afirmativas para minorias, são importantes para reduzir as desigualdades que podem
prejudicar o sistema. No Brasil, o caso mais emblemático é o das cotas raciais e sociais em universidades.
Embora elas existam desde os anos 2000 em algumas instituições, só em 2012 foi aprovada uma lei que
prevê a reserva de 50% das vagas em todos os cursos de universidades federais para quem fez o Ensino
Médio em escola pública, negros, pardos e indígenas.
O objetivo é diminuir as disparidades de acesso: naquele ano, durante o debate no Supremo Tribunal Federal
para avaliar a constitucionalidade da nova lei, o ministro Ricardo Lewandowski lembrou que apenas 2%
dos negros conquistam diplomas universitários no país. De acordo com o IBGE, em 2008, 60,3% dos jovens
brancos frequentavam universidades, contra 28,7% dos negros e pardos. O número subiu para 40% em 2014,
e a estimativa da Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial (Seppir) é de que, no final
deste ano, prazo-limite para a adequação à nova lei, as novas políticas garantam o ingresso a 150 mil
estudantes negros, ou 50% das vagas. Embora os dados mostrem que o sistema tem dado certo e que o
número de negros com ensino superior atualmente chega a 6%, há quem defenda a volta da meritocracia
pura, nos moldes do que era o vestibular antigamente, ou a adoção de um processo de seleção mais
completo, que avalie também outras capacidades e habilidades dos estudantes. “O modo como as seleções
são feitas hoje é arcaico”, critica D’Ávila. Com tamanha polarização de opiniões, como convencer as
pessoas a apoiar os investimentos que, indiretamente, as ajudaram a alcançar o sucesso? Para Robert Frank,
basta fazê-las reconhecer o quão sortudas elas foram — e se sentirem gratas por isso. Alguns experimentos,
entre eles um conduzido por Yuezhou Huo, pesquisadora assistente de Frank, mostram que quem expressa o
sentimento é mais propenso a contribuir com o bem comum. No estudo em questão, Huo prometeu
um prêmio em dinheiro a quem completasse um questionário sobre situações positivas. A um dos grupos,
pediu que listassem fatores além do próprio controle que ajudaram a causar a situação; a outro, pediu uma
lista de qualidades e ações próprias que podem ter gerado o fato positivo; e um terceiro grupo, para controle
do experimento, precisou apenas explicar possíveis motivos para o evento acontecer. Depois de completar o
questionário, eles poderiam escolher entre doar parte ou o prêmio inteiro para caridade. Os incentivados a
citar causas externas doaram 25% a mais do que quem mencionou apenas qualidades e ações próprias. A
relação da gratidão com a generosidade é percebida por Medeiros, zelador do prédio paulistano. Sem saber
do livro de Frank ou das pesquisas, ele afirma acreditar que o maior problema na sociedade atualmente é
esse — e ele não está restrito aos mais ricos. “Quando as pessoas conseguem qualquer coisinha, às vezes só
passar a usar um tênis ou uma roupa mais da moda, parecem se esquecer das outras”, observa, e diz ficar
chateado quando vê que alguns de seus amigos cujas trajetórias de vida foram muito parecidas com a sua o
discriminam e são egoístas. “Eles precisam lembrar que sempre, não importa de onde você veio e aonde
você chegou, alguém o ajudou no caminho.”
Manual da Sorte Dois passos para atrair o melhor para a sua vida
Esqueça a superstição, os amuletos, os talismãs e até mesmo as macumbas. Segundo o psicólogo Richard
Wiseman, autor do livro O Fator Sorte, é possível aprender a ser sortudo em dois passos básicos.
1 - Relaxe e enxergue as oportunidades. Em alguns testes, Wiseman percebeu que quando estamos tensos e
ansiosos, muitas vezes não conseguimos perceber boas oportunidades que estão na nossa frente. “Os
azarados perdem oportunidades porque estão muito focados procurando por algo específico, enquanto os
sortudos são mais relaxados e abertos”, explica
2 - Aprenda a lidar com o azar. Para um efeito meio “Pollyanna” (personagem famosa por só ver o lado bom
em tudo), é preciso aprender a enxergar o aspecto positivo de situações ruins, pois isso diminui o impacto
emocional que elas podem ter. De certa forma, tem relação com a primeira dica: menos estressadas, as
pessoas conseguem relaxar e alcançam boas oportunidades.
#gratidão Aprenda exercício para passar a valorizar mais aqueles momentos em que tudo corre bem na vida
Além de tornar as pessoas mais generosas, a gratidão faz bem para a saúde. Estudo feito por pesquisadores
da Universidade da Califórnia – Davis e da Universidade de Miami concluiu que quem percebe o sentimento
tem dores no corpo com menor frequência e intensidade, dorme melhor, tem mais amigos, é mais alerta,
menos ansioso e agressivo e mais feliz. Para quem ainda é resistente a publicar fotos de #gratidão no
Instagram ou torceu pelo fim do botão da florzinha no Facebook, criado temporariamente para o Dia das
Mães, uma dica é usar o mesmo instrumento da pesquisa: anotações. Durante dez semanas, experimente
manter um diário com tudo aquilo que fez você se sentir grato. Não custa tentar.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aproximadamente 25,4% da
população brasileira em 2016 viveu com menos de R$ 387 por mês
Marcelo Casal/Agência Brasil
A camada 1% mais rica da população brasileira concentra 28% de toda a riqueza do País, de acordo com o
estudo World Inequality Report, divulgado nesta quinta-feira (14). Os dados apontam uma desigualdade
social maior do que a constatada nas regiões do Oriente Médio, Europa Ocidental, Estados Unidos e África
do Sul. Segundo o levantamento, nem a crise financeira de 2008 foi capaz de afetar a camada mais rica da
população Neste período, a arrecadação salarial do grupo pessoas permaneceu forte mesmo em um cenário
problemático. Com dados de 2015, o estudo aponta que o grupo dos 50% mais pobres da população (cerca
de 71 milhões de pessoas) registrou um crescimento de renda limitado entre 2001 e 2015 e que as políticas
voltadas para combater a desigualdade social ao longo desse período não tiveram êxito.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também divulgou uma pesquisa sobre a
concentração de renda. Segundo os dados do instituto, 25,4% da população brasileira viveu com menos de
R$ 387 por mês, em 2016. O resultado faz parte da Síntese de Indicadores Sociais (SIS 2017) que segue o
critério do Banco Mundial para medir a situação de pobreza, que considera pobre quem ganha menos do que
US$ 5,50 por dia. A situação é ainda mais preocupante nos 7,4 milhões de moradores de domicílios em que
vivem mulheres pretas ou pardas sem cônjuge e com filhos de até 14 anos. Neste recorte, 64% estavam
abaixo da faixa de renda de R$ 387 mensal per capita. A pesquisa do IBGE também se estendeu para
critérios como o acesso a educação, proteção social, moradia adequada, serviços de saneamento básico e
internet. Segundo o levantamento, 64,9% da população brasileira tem restrição a pelo menos um desses
direitos. Novamente, o grupo composto por mulheres pretas ou pardas sem cônjuge com filhos de até 14
anos é o mais vulnerável, em que o nível de restrição sobre para 81,3%.
Desde 1980, o 1% da população mais rica do mundo conquistou duas vezes mais do que os 50% dos mais
pobres, segundo o World Inequality Report. O número equivale a dizer que, neste período, 27% das novas
receitas produzidas no mundo foram destinadas a 1% dos mais ricos, enquanto que os 50% mais pobres
capturaram apenas 13% do crescimento total. Os números ficam ainda mais surpreendentes quando a
pesquisa cita que 75 milhões de pessoas representam o grupo 1% mais rico da população mundial. Já os
50% mais pobres, representam cerca de 3,7 bilhões de indivíduos no planeta. Em relação à população
intermediária – assalariados de média ou baixa renda – o crescimento foi modesto ou nulo.
Privatização
O World Inequality Report constatou que em países considerados ricos, o capital público atualmente está
próximo ou abaixo de zero. No entanto, entre as consequências deste cenário, está o desafio dos governos de
investir seus recursos na educação, saúde ou proteção ambiental. O coordenador do relatório, Emmanuel
Saez, avalia que a combinação das privatizações e a crescente desigualdade social alimentou a desigualdade
da riqueza. "Nesses países e em nível global, o capital privado está cada vez mais concentrado entre alguns
indivíduos. Esse aumento foi extremo nos EUA, onde a participação da riqueza do 1% superior aumentou de
22% em 1980 para 39% em 2014", conclui. Fonte: Economia - iG @ http://economia.ig.com.br/2017-12-
15/desigualdade-social-brasil.html
You might also like
- Desenvolvimento econômico no brasil: desafios e perspectivasFrom EverandDesenvolvimento econômico no brasil: desafios e perspectivasRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- 3a Serie 2o B Filosofia PROF ANDRÉA LAPELLIGRINIDocument4 pages3a Serie 2o B Filosofia PROF ANDRÉA LAPELLIGRINIANDREA VINCHI LAPELLIGRININo ratings yet
- 201606011722530.concentracao de RendaDocument18 pages201606011722530.concentracao de RendaAntonio Mauricio MorenoNo ratings yet
- PDF Estudo Revela Tamanho Da Desigualdade de Gênero No Mercado de Trabalho - Agência BrasilDocument3 pagesPDF Estudo Revela Tamanho Da Desigualdade de Gênero No Mercado de Trabalho - Agência Brasilthiago priotoNo ratings yet
- Es110 Duas Decadas de Desigualdade e Pobreza No Brasil Medidas Pela Pnad IBGE Marcelo NeriDocument55 pagesEs110 Duas Decadas de Desigualdade e Pobreza No Brasil Medidas Pela Pnad IBGE Marcelo NeriJeferson Martins de CastroNo ratings yet
- Trabalho de ErhDocument5 pagesTrabalho de ErhMariquinha pauloNo ratings yet
- Desigualdade Diminui, Mas Renda de Negros Ainda É Metade Da de Brancos No Brasil, Aponta EstudoDocument5 pagesDesigualdade Diminui, Mas Renda de Negros Ainda É Metade Da de Brancos No Brasil, Aponta EstudoGui PontesNo ratings yet
- Fatos Sociais - Parte IiDocument7 pagesFatos Sociais - Parte IiAlisson ApolônioNo ratings yet
- Indicadores de Renda e PobrezaDocument31 pagesIndicadores de Renda e PobrezasaianeNo ratings yet
- Estudo de DesempregoDocument6 pagesEstudo de DesempregoELENILSON FEITOSA VIEIRANo ratings yet
- P.I.S. Ideologia PartidariaDocument28 pagesP.I.S. Ideologia PartidariaGabriel Rosa CastroNo ratings yet
- Aula Atividade AlunoDocument15 pagesAula Atividade AlunoNo SleepNo ratings yet
- Informalidade Crescente Sustenta Queda Na Taxa de Desemprego - VEJADocument2 pagesInformalidade Crescente Sustenta Queda Na Taxa de Desemprego - VEJAHemille GabrielaNo ratings yet
- Does Inequality Benefit Growth? New Evidence Using A Panel VAR ApproachDocument18 pagesDoes Inequality Benefit Growth? New Evidence Using A Panel VAR Approachdiana marinaNo ratings yet
- Calculadora de Renda 90 Dos Brasileiros GanhamDocument1 pageCalculadora de Renda 90 Dos Brasileiros GanhamEdu HorácioNo ratings yet
- 2550 377 PBDocument23 pages2550 377 PBloscar_tonesNo ratings yet
- As ClassesDocument6 pagesAs ClassesJoão PauloNo ratings yet
- Governo BolsonaroDocument12 pagesGoverno BolsonaroAliaad InternacionalNo ratings yet
- Projeto Integrador I - Análise de Marketing Da Marca MC Donald'sDocument34 pagesProjeto Integrador I - Análise de Marketing Da Marca MC Donald'smandymazza100% (3)
- Indicadores SociaisDocument8 pagesIndicadores SociaisWagner Sonoryt TranceNo ratings yet
- PIB Ou PNBDocument7 pagesPIB Ou PNBpampampom100% (4)
- Classe MédiaDocument3 pagesClasse MédiaANDERSONNo ratings yet
- Prova1 ComumDocument24 pagesProva1 ComumRobertoCagliaLimaNo ratings yet
- Pobreza E Desigualdade de Renda Nos Municípios Da REGIÃO SUL DO BRASIL: Uma Análise EspacialDocument20 pagesPobreza E Desigualdade de Renda Nos Municípios Da REGIÃO SUL DO BRASIL: Uma Análise EspacialPedro SilvaNo ratings yet
- Aula 3 - Fique de OlhoDocument9 pagesAula 3 - Fique de Olhom.guilherme2023No ratings yet
- Template - Trabalho de SociologiaDocument3 pagesTemplate - Trabalho de SociologiaEsther AbreuNo ratings yet
- Faces e Lados Ocultos Na Estrutura Tributária CapitalistaDocument22 pagesFaces e Lados Ocultos Na Estrutura Tributária CapitalistaLuís Carlos DalmolinNo ratings yet
- Temas de Redação CnuDocument83 pagesTemas de Redação Cnuelisa.inglesNo ratings yet
- GOLDANI, Ana Maria. Relações Intergeracionais e Reconstrução Do Estado de Bem-EstarDocument40 pagesGOLDANI, Ana Maria. Relações Intergeracionais e Reconstrução Do Estado de Bem-EstarjosedossantoscostajrNo ratings yet
- Bem Estar Trabalhista-Felicidade e Pandemia Marcelo-Neri FGV-Social TEXTODocument17 pagesBem Estar Trabalhista-Felicidade e Pandemia Marcelo-Neri FGV-Social TEXTOPaulo César CarbonariNo ratings yet
- Slides - População BrasileiraDocument58 pagesSlides - População BrasileiraMerryNo ratings yet
- 13 Efeitos Dos Gastos Públicos emDocument23 pages13 Efeitos Dos Gastos Públicos emkarl marxNo ratings yet
- What's in Store For UsDocument20 pagesWhat's in Store For UsLuna fernandesNo ratings yet
- Esqueleto Do Artigo ExtensionuistaDocument5 pagesEsqueleto Do Artigo ExtensionuistacassianascimeentoNo ratings yet
- 4 ER Desigualdade RevDocument18 pages4 ER Desigualdade Revraj cyberboyNo ratings yet
- Romero e Dalson - Artigo de NatalDocument5 pagesRomero e Dalson - Artigo de NatalDalson BrittoNo ratings yet
- TCC - MacroambienteDocument11 pagesTCC - MacroambienteKauane CorreiaNo ratings yet
- Desigualdade Salarial e Questão de GêneroDocument3 pagesDesigualdade Salarial e Questão de GênerosusanrafaelleNo ratings yet
- 5 Sadementalltimaverso10 10 22Document11 pages5 Sadementalltimaverso10 10 22Felipe Lima FortisNo ratings yet
- DesigualdadeDocument3 pagesDesigualdadeRoberto Fw WebberNo ratings yet
- Atividades - SociologiaDocument2 pagesAtividades - SociologiaJoão Pedro AlbergariaNo ratings yet
- ATPs Jogos de EmpresaDocument15 pagesATPs Jogos de Empresajean.representacoes61No ratings yet
- Quais Os Fatores Sao Determinantes para Reduzir A Desigualdade em Um AmbienteDocument23 pagesQuais Os Fatores Sao Determinantes para Reduzir A Desigualdade em Um AmbientenathaliasousavalerioNo ratings yet
- As Diferentes Faces Da Desigualdade BrasileiraDocument6 pagesAs Diferentes Faces Da Desigualdade BrasileiraVindilson FelipeNo ratings yet
- A Estabilidade Da Desigualdade de Renda No BrasilDocument35 pagesA Estabilidade Da Desigualdade de Renda No BrasilMariana CavalcantiNo ratings yet
- Como Diminuir A Desigualdade Regional No BrasilDocument2 pagesComo Diminuir A Desigualdade Regional No BrasilwellingtonjhonyNo ratings yet
- Desemprego, Renda e Eleições Opinião Valor EconômicoDocument6 pagesDesemprego, Renda e Eleições Opinião Valor EconômicoGustavo PalmeiraNo ratings yet
- Fichamento-Construção Dos Direitos HumanosDocument6 pagesFichamento-Construção Dos Direitos Humanoskatarina.avispara45No ratings yet
- O Desemprego É Alto Mas Está BaixoDocument2 pagesO Desemprego É Alto Mas Está BaixoRodrigo FerreiraNo ratings yet
- Crescimento Da PopulaçãoDocument5 pagesCrescimento Da PopulaçãoRafaelaNo ratings yet
- Desigualdade SalarialDocument8 pagesDesigualdade SalarialRicardo TNo ratings yet
- Brasil - Pobreza e Desigualdade - para Onde Vamos - OXFAM 2Document24 pagesBrasil - Pobreza e Desigualdade - para Onde Vamos - OXFAM 2ba9425017No ratings yet
- Distribuição Da Renda E Desenvolvi M en T O Econômico Do BrasilDocument84 pagesDistribuição Da Renda E Desenvolvi M en T O Econômico Do BrasilCarlos OliveiraNo ratings yet
- Introdução À Macroeconomia 02Document7 pagesIntrodução À Macroeconomia 02Manoel Ataide Souza CarneiroNo ratings yet
- Inbound 1362760686148620679Document28 pagesInbound 1362760686148620679jamileNo ratings yet
- Trabalho de Estatística - ISCEDDocument13 pagesTrabalho de Estatística - ISCEDAli Ussene Mecussete75% (4)
- O PIB Brasileiro: Anuênio, Biênio, Triênio, Quadriênio, Quinquênio, Sexênio, Septênio, Octênio, Novênio e DecênioDocument7 pagesO PIB Brasileiro: Anuênio, Biênio, Triênio, Quadriênio, Quinquênio, Sexênio, Septênio, Octênio, Novênio e DecênioJosé Eustáquio Diniz AlvesNo ratings yet
- A Desigualdade Envergonha - Revista Focus Brasil - Revista Focus BrasilDocument5 pagesA Desigualdade Envergonha - Revista Focus Brasil - Revista Focus BrasilSecretaria das Coordenacoes de Cursos ICETNo ratings yet
- Edital BA&D DesigualdadeDocument14 pagesEdital BA&D DesigualdadeAdriana SantosNo ratings yet
- Finalização Da Atividade 01Document5 pagesFinalização Da Atividade 01rmfukuiNo ratings yet
- 278 658 1 PBDocument21 pages278 658 1 PBPablo PoleseNo ratings yet
- Índice Global de Inovação de 2017Document123 pagesÍndice Global de Inovação de 2017Pablo PoleseNo ratings yet
- Fuvest2018 2fase 1dia PDFDocument15 pagesFuvest2018 2fase 1dia PDFPablo PoleseNo ratings yet
- FERREIRA, Jorge. 1946 ÔÇô 1964 A Experi+ Ncia Democr+ítica No Brasil. Tempo. N.28Document8 pagesFERREIRA, Jorge. 1946 ÔÇô 1964 A Experi+ Ncia Democr+ítica No Brasil. Tempo. N.28Mayra MarquesNo ratings yet
- 268 654 1 PBDocument18 pages268 654 1 PBPablo PoleseNo ratings yet
- A.origens e Direção Do Pragmatismo Ecumênico e ResponsávelDocument32 pagesA.origens e Direção Do Pragmatismo Ecumênico e Responsáveltarcisio_acNo ratings yet
- Ementas SociologiaDocument3 pagesEmentas SociologiaPablo PoleseNo ratings yet
- Modelo Do Plano de EnsinoDocument4 pagesModelo Do Plano de EnsinoPablo PoleseNo ratings yet
- Lista Filmes TelacriticaDocument11 pagesLista Filmes TelacriticaPablo PoleseNo ratings yet
- Ritos Corporais Entre Os Nacirema PDFDocument5 pagesRitos Corporais Entre Os Nacirema PDFLindalva MariaNo ratings yet
- HedraDocument4 pagesHedraPablo PoleseNo ratings yet
- 1 PBDocument15 pages1 PBPablo PoleseNo ratings yet
- O BacalhauDocument4 pagesO BacalhauPablo PoleseNo ratings yet
- Boleto UnifespDocument1 pageBoleto UnifespPablo PoleseNo ratings yet
- 1 PBDocument15 pages1 PBPablo PoleseNo ratings yet
- Terceirização de Serviços Abre Espaço Via Comércio IntrafirmasDocument2 pagesTerceirização de Serviços Abre Espaço Via Comércio IntrafirmasPablo PoleseNo ratings yet
- A Quarta Parede Do Marxismo FrancêsDocument20 pagesA Quarta Parede Do Marxismo FrancêsPablo PoleseNo ratings yet
- As Operações Intrafirmas São Dominantes Nas ExportaçõesDocument2 pagesAs Operações Intrafirmas São Dominantes Nas ExportaçõesPablo PoleseNo ratings yet
- As Políticas Reguladoras Da Ação Das Multinacionais No Contexto Dos Acordos de Comércio RegionaisDocument3 pagesAs Políticas Reguladoras Da Ação Das Multinacionais No Contexto Dos Acordos de Comércio RegionaisPablo PoleseNo ratings yet
- Sistemas de Proteção Social BR EuropaDocument58 pagesSistemas de Proteção Social BR EuropaPablo PoleseNo ratings yet
- Padrc3a3o de Desenvolvimento e A Natureza Do Voo Da GalinhaDocument4 pagesPadrc3a3o de Desenvolvimento e A Natureza Do Voo Da GalinhaPablo PoleseNo ratings yet
- Papel Do PCC Na Redução Dos HomicídiosDocument18 pagesPapel Do PCC Na Redução Dos HomicídiosPablo PoleseNo ratings yet
- A Importância Do Comércio Intrafirma Nos Fluxos Comerciais Do Brasil - Uma Análise A Partir Dos Fluxos de Exportações e Importações, Utilizando A Hipótese de Baumann.Document54 pagesA Importância Do Comércio Intrafirma Nos Fluxos Comerciais Do Brasil - Uma Análise A Partir Dos Fluxos de Exportações e Importações, Utilizando A Hipótese de Baumann.Pablo PoleseNo ratings yet
- Serviço Público Puxa Deficit Na PrevidênciaDocument3 pagesServiço Público Puxa Deficit Na PrevidênciaPablo PoleseNo ratings yet
- Cap Sem EmpregoDocument9 pagesCap Sem EmpregoPablo PoleseNo ratings yet
- Propostas para Uma Metodologia Da HistóriaDocument6 pagesPropostas para Uma Metodologia Da HistóriaPablo PoleseNo ratings yet
- A Autonomia Dos Trab Russos 1917 1921Document15 pagesA Autonomia Dos Trab Russos 1917 1921Pablo PoleseNo ratings yet
- BROUE, Pierre - História Da Internacional ComunistaDocument373 pagesBROUE, Pierre - História Da Internacional ComunistaPablo Polese100% (1)
- CANO, Wilson - A Desindustrializacao No BrasilDocument21 pagesCANO, Wilson - A Desindustrializacao No BrasilLuciano DuarteNo ratings yet
- 01 Autonomia e Competência Do Município PDFDocument20 pages01 Autonomia e Competência Do Município PDFRobson AlmagroNo ratings yet
- Seminario EmpreendedorismoDocument20 pagesSeminario EmpreendedorismoPâmela CarvalhoNo ratings yet
- Matematica Financeira Suficiência-1Document173 pagesMatematica Financeira Suficiência-1Dusty Murphy100% (1)
- Relação de Fornecedores ECBDocument4 pagesRelação de Fornecedores ECBEdificio Buenos AiresNo ratings yet
- A Rússia Nas Vésperas Da RevoluçãoDocument5 pagesA Rússia Nas Vésperas Da RevoluçãoIsmael Sampaio0% (1)
- 6exame BacharelDocument17 pages6exame BacharelclleversonNo ratings yet
- BR 29 III Serie 2o Suplemento 2012Document38 pagesBR 29 III Serie 2o Suplemento 2012Hajji Assamo PadilNo ratings yet
- Catalogo Elevador Thyssenkrupp Grife AmazonDocument20 pagesCatalogo Elevador Thyssenkrupp Grife AmazonEney AraujoNo ratings yet
- Apresentação - Compete Atacadista e E-CommerceDocument55 pagesApresentação - Compete Atacadista e E-CommerceJC MACHADO COMERCIONo ratings yet
- Quickcard Sabre PORDocument1 pageQuickcard Sabre PORAne TorresNo ratings yet
- Cadernos Tecnicos Morar Carioca - Lixo e Reiduos Solidos UrbanosDocument30 pagesCadernos Tecnicos Morar Carioca - Lixo e Reiduos Solidos UrbanosRafael AzevedoNo ratings yet
- Estudo Engenho ArrozDocument81 pagesEstudo Engenho ArrozMarceloRosaNo ratings yet
- MineraçãoDocument23 pagesMineraçãoCarlos Eduardo França100% (2)
- RevistaDocument64 pagesRevistarenatoguthNo ratings yet
- Processo Seletivo Cuiabá MT 2017Document58 pagesProcesso Seletivo Cuiabá MT 2017Martinez Rojas Jr.No ratings yet
- 1º Caderno de Exercícios de CG1 IscteDocument11 pages1º Caderno de Exercícios de CG1 IscteEdson Jorge MandlateNo ratings yet
- Flavia GONSALES 17 Varejo CompetitivoDocument14 pagesFlavia GONSALES 17 Varejo CompetitivoflagonsNo ratings yet
- Boleto Mar 2024Document1 pageBoleto Mar 2024Rhavi MiguelNo ratings yet
- Muller (2022) - Sistema Da Divida e CrisesDocument40 pagesMuller (2022) - Sistema Da Divida e CrisesRafael Sarto MullerNo ratings yet
- Administração de EstoqueDocument21 pagesAdministração de EstoqueItiel Moraes0% (1)
- Eleva Educação S.A.Document4 pagesEleva Educação S.A.Clara DrumondNo ratings yet
- Exercícios - Ponto 2.1. 1Document43 pagesExercícios - Ponto 2.1. 1Ernesto MbasoNo ratings yet
- Aplicações Informáticas de Gestão - Área ComercialDocument2 pagesAplicações Informáticas de Gestão - Área ComercialLucia Margarida Ponte Alcaidinho75% (4)
- Pis e Cofins - Comerciante Varejista de VeículosDocument2 pagesPis e Cofins - Comerciante Varejista de VeículosigorNo ratings yet
- Exercicios Operacoes Com DecimaisDocument6 pagesExercicios Operacoes Com DecimaisAndrielli SilveiraNo ratings yet
- Trabalho em EquipeDocument5 pagesTrabalho em EquipeAriel BrunoNo ratings yet
- AtividadesDocument4 pagesAtividadesAna Rocha100% (6)
- Orientações Técnicas para Elaboração Dos Relatórios SetoriaisDocument14 pagesOrientações Técnicas para Elaboração Dos Relatórios Setoriaisleosoul26No ratings yet
- Catálogo de Produtos DUAL Plasticos 2019Document22 pagesCatálogo de Produtos DUAL Plasticos 2019Everton Luiz Dias da SilvaNo ratings yet
- Ministério Da Fazenda 02 03 04 05 06 07 01: Secretaria Da Receita Federal Do BrasilDocument1 pageMinistério Da Fazenda 02 03 04 05 06 07 01: Secretaria Da Receita Federal Do BrasilGabriel HoracioNo ratings yet