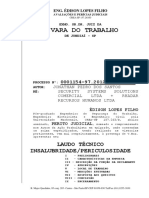Professional Documents
Culture Documents
Artigo em Escritura
Uploaded by
Marcos Arraes0 ratings0% found this document useful (0 votes)
21 views6 pagesEm escritura
Original Title
Artigo em escritura
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentEm escritura
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
21 views6 pagesArtigo em Escritura
Uploaded by
Marcos ArraesEm escritura
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 6
A conquista da América – Leituras Historiográficas
Prof. Dr. Marcos Arraes
O tema da conquista das Américas se faz presente na historiografia ocidental
desde há muito tempo, chegando mesmo a ser considerado por alguns autores como
quase que contemporâneo ao evento. Ao menos assim nos faz crer Frank Salomón, em
seu texto “Crônicas do Impossível: notas sobre três historiadores indígenas peruanos”,
ainda sem tradução em português, onde ele vê os relatos indígenas não apenas como
fontes para o trabalho do historiador, mas como obras historiográficas, que possuíam
em si interpretações do contato com os europeus do ponto de vista dos nativos.
Se aceitarmos a argumentação do autor, poderemos tomar os relatos dos
europeus a respeito da “descoberta” também como escritos historiográficos, como
procura discutir, no entanto, com o objetivo de desconstruí-los, Edmundo O’Gorman,
em a Invenção da América. Aqui o autor analisa os escritos de personagens como
Fernando Colombo, Bartolomé de Las Casas, Olviedo e outros atrás de pistas para a
emergência da ideia de “descoberta” que ele procura questionar.
Vemos aqui já um outro prisma para o tema: a questão conceitual e de como
significar o ano de 1492. Para alguns escritores europeus, este ano é interpretado como
o símbolo da transformação do mundo por ser o ponto de partida da ascensão da
civilização europeia (Paul Kennedy, p. Ex.) e o deslocamento do eixo de disputas e
influência mundial do leste para o oeste. E é também lembrado como o ano da conquista
de granada e expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, da expulsão dos judeus
dos territórios espanhóis e da unificação dos reinos de Aragão e Castela. Ou seja,
segundo Steve Stern, seria também o momento da construção de um paradigma
civilizatório mais excludente, com fronteiras mais rígidas entre o eu e o outro que a
vitória do cristianismo teria colocado, além do paradigma da unificação política. Para
este autor, 1492 representa, portanto, o surgimento de três grandes novos paradigmas:
político, imperial e da diferença (alteridade).
Do lado americano, ou, mais especificamente, latino-americano, a polaridade
dos debates será mais centrado na questão conceitual: seria o empreendimento de
Colombo uma descoberta, encontro, conquista, invasão ou invenção? Essas são algumas
das sugestões que surgem ao longo das discussões sobre o tema.
A ideia de descoberta, cristalizada por muito tempo na historiografia e também
no senso comum teve grande aceitação quando das comemorações do quarto
centenário de 1492, quando, segundo Tulio H. Donghi, Colombo foi venerado pela
realização da sua “missão providencial”. Contudo, a luz das renovações ocorridas no
campo do saber histórico ao longo do século XX, de que logo iremos discutir, essa versão
foi duramente criticada. Além da já citada crítica de O’Gorman, que viu na palavra o
enquadramento de um ser a priori, já existente e definido em si mesmo, acusou-se a
ideia de descobrimento de focar apenas na ação europeia, que chega a um continente
até então desconhecido em sua consciência. Além disso, acusaram outros, o termo é
carregado de um etnocentrismo, que via os habitantes nativos da terra como existentes
apenas após a chegada europeia. Por fim, o termo ainda carregaria uma suposta
neutralidade dos conflitos que ali se deram, um abrandamento das violências que se
iniciavam a partir de então. Essa mesma acusação também foi feita a ideia de encontro,
que, no entanto, não chegou a ganhar muita força.
Edmundo O’Gorman, ao em grande parte iniciar o movimento contestador,
sugeriu também uma solução, pautada na ideia de invenção. Para ele, a instituição que
passou-se a chamar América inexistia em quaisquer perspectivas antes de 1492. O que
foi aqui construído, foi resultado de um processo de transposição de elementos
europeus que sofreram processos de adaptação e também de caminhos originais que
moldaram o “ser americano”, sendo, portanto, uma invenção europeia. A crítica feita
ao historiador mexicano, contudo, é que sua visão, apesar de inovar no campo
conceitual, propondo interessantes análises na história das mentalidades, não altera a
perspectiva de análise que foca apenas na ação e no ato de vontade do agente civilizador
europeu, sem dar espaço para outras culturas e atores.
Buscando superar esses problemas e procurando dar voz e visibilidade ao lado
indígena, passou-se então a falar em invasão, pois, argumentou-se, aqui já habitavam
povos que desenvolveram civilizações e relações com a terra e o ambiente, sendo, a
partir de então, vítimas de um processo violento do elemento exterior em sua busca
desenfreada por ouro e poder. Deu-se, então, uma inversão da ordem anterior,
apostando todas as fichas na visão da vítima, sem, contudo, tirar o fato de uma
dicotomia interpretativa, que classificava os atores em vilões ou heróis.
Esse é, portanto, um campo aberto de debates, estando longe de constituir um
consenso. Contudo, a proposta menos conflituosa na atualidade é o conceito de
conquista, que, segundo seus defensores, deixa claro a existência de povos e culturas
na região antes da chegada do elemento exógeno, que promoveu, através de diversas
iniciativas e estratagemas, estas não apenas unidirecionais, mas dialógicas com as ações
e reações dos nativos, uma conquista física, política e cultural, apossando-se do
território já ocupado e iniciando aí embates e relações de poder que duram até a
atualidade.
A esta altura já fica claro não apenas a extensão do debate historiográfico sobre
a conquista, mas também sua complexidade, o que pode ser corroborado pelas
múltiplas direções tomadas nesse campo. Assim, para além das discussões do
simbolismo da conquista e do(s) setor(es) em que ela teria se processado, podemos
perceber ainda narrativas a respeito dos lados envolvidos e de quem teria a primazia da
ação, por vezes dando voz a agentes diferentes e específicos. Esse é, por exemplo, o
caso de Inga Clendinnen, em “Conquista Ambivalente”, sem tradução em português,
onde ela procura dar conta da conquista do Yucatán não a partir do ato da chegada
espanhola em si, mas como uma ação perene, iniciada com a chegada desses últimos,
mas que continua de forma ambivalente, daí o título, com as ações e reações dos Maias
diante das iniciativas europeias.
Diante de tamanha diversidade, proponho portanto uma espécie de inventário
das tradições historiográficas nas quais pode-se inserir essas múltiplas visões/versões,
cada uma delas relacionadas ao momento histórico de sua produção, fazendo então
uma breve história da historiografia da conquista. Devido aos limites de espaço aqui,
faz-se necessário um recorte, que procurará focar no período mais recente do século
XX, sem contudo deixar de pontuar alguns momentos anteriores quando necessários
para efeitos de sentido.
A centralidade do poder e cultura europeus no final do século XIX e início do
século XX, ditando modelos e paradigmas em todo o mundo ocidental, ai incluídos os
países latino-americanos, deram o tom das produções historiográficas da conquista
nesse período. Já foi comentado que o quarto centenário do 1492 procurou louvar a
ação europeia e noção de descobrimento. Para além do conceito, fixaram-se com ele
também as noções da visão europeia e a contribuição que teriam dado à consolidação
das sociedades e culturas que hoje abitam as Américas inventadas.
Parte dessa tradição deve-se a busca por um contraponto às ideias da chamada
“lenda negra”, que teria sido divulgada na Europa pelos rivais imperiais da Espanha nos
séculos XVII e XVIII, muito pautados nos relatos de Las Casas, e que procuravam destacar
a cobiça espanhola e as violências perpetrada contra os nativos durante a conquista da
América. Outra parte deve-se à questão dos limites das fontes então consideradas para
tais estudos, a maior parte delas disponível no Arquivo das Índias e relativas aos
empreendimentos e atividades europeias nas colônias.
Com a Revolução Mexicana e o surgimento de uma constituição mais
preocupada com o elemento indígena naquele país em 1917, o indigenismo começa a
espalhar-se por países da América Latina e, com ela, uma visão crítica das ações dos
conquistadores. Além disso, o surgimento dos primeiros arquivos históricos hispano-
americanos, como o do México na década de 1920, dão corpo e estrutura para tais
visões.
Ainda nesse sentido, a renovação que atingiu o saber histórico nas décadas
seguintes, com a revisão do conceito de fontes e o recurso a outros modelos e métodos
científicos como suporte a escrita da história só veio a contribuir para o revisionismo
historiográfico. É nesse contexto que começam a surgir diversas traduções de textos
indígenas e também se dá a aproximação da história da antropologia, dando vasão aos
trabalhos da chamada etno-história.
Nesse contexto, entre as décadas de 1920 e 1950 surgem trabalhos que
procuram uma compreensão mais ampla e sutil das instituições, políticas e ideias
coloniais espanholas, como é o caso de “Para uma teoria do governo hispano-
americano, sem tradução em português, de Richard Morse, e também trabalhos como
o de Angel Rosenblat, que enfoca na temática da catástrofe demográfica que a chegada
do homem branco causou nas populações nativas. Inovava-se a temática, contudo sem
grandes mudanças de perspectiva.
Entre as décadas de 1950 e 1970, e com repercussões e influências além desse
período, os debates sobre o terceiro-mundismo e os reflexos dos estudos de
organizações como a Comissão Econômica para a América Latina aliados ao importante
impacto trazido pela História Social põem em evidência o problema das populações
subalternas das desigualdades sociais, recorrendo-se ao passado e presente das
explorações estrangeiras como forma de explicar as condições presentes. Assim, na
historiografia da conquista, as obras desse período buscam evidenciar o colapso
populacional ocasionado pelas enfermidades e agentes patogênicos trazidos pelos
estrangeiros; a exploração do trabalho indígena que induziram a deterioração e o
colapso das sociedades e economias indígenas; a desestruturação das organizações
internas indígenas que lhes havia proporcionado o crescimento e agora só restava a
submissão. Aqui podem ser citados obras como “Os incas sob as instituições coloniais
espanholas”, sem tradução para o português, de John Rowe, “Os astecas sob domínio
Espanhol, de Charles Gibson e O tributo indígena na Nova Espanha durante o século XVI,
de José Miranda.
É também desse período o surgimento da chamada Berkeley School, que fez
tradição com autores como W. Borah, Sherburne Cook e Lesley Simpson.
Essas renovações trouxeram os nativos para a história, contudo, ainda como
vítima passiva das ações estrangeiras.
É apenas ao longo da década de 1980, com a popularização do chamado
multiculturalismo, trazendo novos desafios às ciências humanas de uma forma geral,
que a História passou a buscar uma narrativa que se distanciasse das histórias de heróis,
vilões e micróbios europeus atuando sobre índios inertes, dóceis, passivos e que seriam,
assim, destruídos. Assim, Steve Stern, em “Os Indígenas do Peru e os desafios da
conquista espanhola”, procura dar agência aos índios, demonstrando as formas de
incorporação à ordem colonial encontrada por algumas autoridades indígenas.
Seguiram uma linha similar de empoderamento dos nativos das Américas autores como
Karen Spalding e, para o caso mais específico do Brasil, Stuart Schwartz.
Esses autores foram e ainda são muito influentes na historiografia da conquista.
Nas últimas décadas, a experiência indígena da conquista tem sido a tendência dentro
da historiografia. Nesse sentido, vê-se alguns movimentos de releituras críticas das
visões do passado e avanços para áreas ainda pouco exploradas, podendo-se apontar
três caminhos principais: a conquista como uma grande experiência de trauma e
destruição; como encontro de culturas e de questões de alteridade; e, não menos
importante, como uma relação de poder que recebeu uma resposta. O primeiro
caminho pode ser vistos em estudos de Roger Bartra sobre o México, e se transformou
em uma importante tendência de suporte nas construções atuais das culturas nacionais
em alguns países.
O segundo caminho é trilhado por autores importantes como Serge Gruzinski e
James Lockhart. Tal caminho relembra as proposições presentes em A conquista da
América, de Tzvetan Todorov, onde o autor procura demonstrar como o encontro de
duas culturas completamente diferentes gerou problemas de comunicação ou, mais
que isso, uma incapacidade de compreender o outro. Esses abismos da alteridade
teriam gerado um processo violento ímpar na história, que proporcionou a conquista
dos europeus e a devastação das culturas indígenas. Apesar da similaridade no caminho
do “encontro cultural”, a obra de Todorov pertence a uma vertente anterior e teve
grande repercussão e importância para o momento em que foi escrita, mas vem
recebendo duras críticas devido, entre outras questões, a rigidez de como vê a questão
cultural, não dando vazões para a fluidez e flexibilidade característicos do campo da
cultura.
É justamente essa a força das obras de Gruzinski, que, trazendo à tona uma
análise dos imaginários indígenas, procura entender o processo de conquista a partir
dos elementos culturais e imagéticos dos europeus especialmente no campo religioso.
O autor demonstra em obras como A colonização do Imaginário e Guerra de Imagens,
como o recurso a diversos mecanismos adaptativos e impositivos deram inicio ao
processo de “ocidentalização” da cultura nativa. Assim, o autor procura dar fluidez e
flexibilidade aos encontros culturais que, como bem demonstra, teve efeitos não apenas
para o conquistado, mas também para o conquistador. Isso ele demonstra com o
questionamento do uso do conceito de Sociedade Colonial para os momentos iniciais da
conquista, quando, segundo ele, a aparente ordem e estabilidade pressupostas na
expressão não estariam presentes. Nesse momento, argumenta, as disputas tanto entre
os europeus e os indígenas como divergências internas em cada um desses grupos
teriam gerado uma ausência de referencia e ordem, dando lugar ao que ele prefere
chamar de “aglomerado”. (Vide Pensamento Mestiço).
De forma similar, James Lockhart, em Os Nahuas depois da conquista, ainda sem
tradução para o português, procura se ater a ideia do encontro de duas culturas. A
diferença aqui, no entanto, é que para ele essas culturas não seriam tão distantes assim
e o encontro desses dois mundos não foi lá tão difícil. Segundo ele, a interação entre a
cultura nativa e a cultura invasora conheceu algumas bases comuns que tornou possível
a rápida implantação de modelos europeus pelos indígenas. Isso teria sido
particularmente presente no caso do contato entre a cultura castelhana e Nahua. A
semelhança com Gruzinski fica na defesa de que essa integração teve efeitos em ambos
os lados, sendo, portanto, recíproca.
Lockhart chegou a receber algumas críticas a respeito de uma possível tentativa
de abrandar a desigualdade das relações de força entre os contendores, sendo o
processo bem mais impactante para o lado nativo. Seus críticos viram a raiz do problema
no uso das fontes que, segundo o próprio Lockhart, foram documentos redigidos em
Nahuatl, contudo datados de momentos já bem avançados do processo de colonização,
o que daria a entender que foram escritos por indígenas já adaptados e que escreveram
de forma retrospectiva, recaindo nos problemas da suavização proporcionados pela
memória distante da efetiva do ocorrido.
Finalmente, o terceiro caminho aponta na direção de um processo mais amplo,
que percebe ambos os contendores como agentes e humanos diante de uma disputa
quase sempre conflituosa. Esses estudos não somente transporta os ameríndios do
reino dos objetos sobre o qual se age, como se fossem meramente vítimas passivas da
destruição e desprezo dos invasores, como também tira os colonizadores do reino da
demonização histórica, situando-os em dimensões mais próprias a sua humanidade
como exploradores, conquistadores do poder, cujos projetos de dominação foram
atrapalhados pelas lutas iniciativas e reações tanto de dentro como de fora destes
mesmos projetos. Isso não significa a negativa dos processos de desentendimentos e
exclusões proporcionados por esses conflitos, nem tampouco minimiza a intensidade
destrutiva de alguns deles. O que ela propõe é tirar as interpretações da dualidade
simples de vilões e heróis ou mesmo demônios e condenados, trazendo a história de
volta ao nível da humanidade de todos os atores que a fazem. Essa parece ser a tradição
mais próxima do conceito de conquista, uma vez que, como já colocado de início, supõe
os dois lados do conflito, cada um em seu lugar e nas intercessões proporcionadas pelo
encontro.
Atualmente, há ainda um esforço na direção de incorporar o legados desses três
caminhos, reunindo essas perspectivas em uma única análise, sem fazer pesar sobre
nenhuma uma maior força na narrativa. O conjunto da obra de autores como a já citada
Inga Clendinnen e Gruzinski podem ser colocados nesse escopo, ainda que
determinadas obras específicas possam tender para um ou outro caminho específico.
Concluindo, no lugar dos entrincheiramentos e batalhas por verdades mais
influentes, a história só tem a ganhar com a reunião dos avanços proporcionados pela
história social, pelo multiculturalismo e pelas incorporações dos métodos de outras
ciências vizinhas. Dessa forma, certamente não chegaremos a verdade histórica
definitiva, e nem é esse o objetivo, mas, ao cerca-se o objeto de múltiplos pontos de
observação, dá-se vazão para a diversidade de condicionantes presentes na realidade
vivida.
Apesar da longevidade das discussões, o tema da conquista está longe de ser
esgotado. Mais recentemente, o contínuo subdesenvolvimento das regiões latino-
americanas continuam procurando no passado uma saída, ao menos explicativa, e,
nesse sentido, alguns temas voltam a tona e ganham nova roupagem. É o caso por
exemplo dos estudos que vêm na conquista ibérica e seu universalismo católico uma
maior flexibilidade à diferença, compondo com alguma aceitação sociedades
multiétnicas. Por outro lado, o provincianismo e a rigidez anglo-saxões não permitiram
essa “passividade”, constituindo sociedades exclusivistas e que destinou os nativos e as
pessoas de ascendência racial mista à guerra e ao genocídio. Para além da validade e
dos problemas e críticas que se podem fazer a essas visões, que buscam encaixar
fórmulas do passado na realidade presente da hegemonia estadunidense no continente,
é significativo a perenidade das discussões. Parafraseando Stern, é como se 1492 fosse
o amanhecer simbólico de um dia histórico cujo sol ainda não se pôs.
You might also like
- Tempo e Argumento - DosseDocument20 pagesTempo e Argumento - DosseMarcos ArraesNo ratings yet
- Apresentação em AndamentoDocument8 pagesApresentação em AndamentoMarcos ArraesNo ratings yet
- Livro Final FLUSSER PDFDocument357 pagesLivro Final FLUSSER PDFMarcos ArraesNo ratings yet
- BUCK-MORSS, Susan. Estética e AnestéticaDocument31 pagesBUCK-MORSS, Susan. Estética e AnestéticaanacfeNo ratings yet
- BUCK-MORSS, Susan. Estética e AnestéticaDocument31 pagesBUCK-MORSS, Susan. Estética e AnestéticaanacfeNo ratings yet
- CP 036253Document112 pagesCP 036253Marcos ArraesNo ratings yet
- 6017-Texto Do Artigo-14975-1-10-20141006 PDFDocument32 pages6017-Texto Do Artigo-14975-1-10-20141006 PDFMarcos ArraesNo ratings yet
- Disciplina Ou EspetáculoDocument23 pagesDisciplina Ou EspetáculoWanderson ViltonNo ratings yet
- 2317 6467 1 PB PDFDocument26 pages2317 6467 1 PB PDFJonas Alves VergebenNo ratings yet
- Flusser. Pós-História - Vinte Instantâneos e Um Modo de UsarDocument95 pagesFlusser. Pós-História - Vinte Instantâneos e Um Modo de UsarMarcos ArraesNo ratings yet
- A Cultura Visual Antes Da Cultura VisualDocument9 pagesA Cultura Visual Antes Da Cultura VisualmarcgobaNo ratings yet
- Resenha Do Livro - História: A Arte de Inventar o PassadoDocument4 pagesResenha Do Livro - História: A Arte de Inventar o PassadopsmsilvaNo ratings yet
- ARÉVALO, Marcia. Preservar o Invisível Através Do ConcretoDocument14 pagesARÉVALO, Marcia. Preservar o Invisível Através Do ConcretoFSBollNo ratings yet
- ARÉVALO, Marcia. Preservar o Invisível Através Do ConcretoDocument14 pagesARÉVALO, Marcia. Preservar o Invisível Através Do ConcretoFSBollNo ratings yet
- A Leitura Como Performance - Zuthmor, Edi Silva CostaDocument4 pagesA Leitura Como Performance - Zuthmor, Edi Silva CostaBruno De Orleans Bragança ReisNo ratings yet
- 2317 6467 1 PB PDFDocument26 pages2317 6467 1 PB PDFJonas Alves VergebenNo ratings yet
- 2531 3951 1 PBDocument1 page2531 3951 1 PBMarcos ArraesNo ratings yet
- 2531 3951 1 PBDocument34 pages2531 3951 1 PBTereza MartinsNo ratings yet
- Metodos de Pesquisa DeleuzeDocument8 pagesMetodos de Pesquisa DeleuzeRenato Müller PintoNo ratings yet
- A Cultura Visual Antes Da Cultura VisualDocument9 pagesA Cultura Visual Antes Da Cultura VisualmarcgobaNo ratings yet
- Turin, Rodrigo, Desclassificações Do TempoDocument16 pagesTurin, Rodrigo, Desclassificações Do TempoRodrigo TurinNo ratings yet
- A Leitura Como Performance - Zuthmor, Edi Silva CostaDocument4 pagesA Leitura Como Performance - Zuthmor, Edi Silva CostaBruno De Orleans Bragança ReisNo ratings yet
- 2531 3951 1 PBDocument34 pages2531 3951 1 PBTereza MartinsNo ratings yet
- ZOURABICHVILI. O Vocabulário de Deleuze PDFDocument66 pagesZOURABICHVILI. O Vocabulário de Deleuze PDFFrancisco CamêloNo ratings yet
- Entrevista Com Els Lagrou - Revista USINA - Entre Xamãs e ArtistasDocument18 pagesEntrevista Com Els Lagrou - Revista USINA - Entre Xamãs e ArtistasMarcos ArraesNo ratings yet
- Revolucao MexicanaDocument25 pagesRevolucao MexicanaMarcos ArraesNo ratings yet
- Didi HubermanDocument9 pagesDidi HubermanMarcos ArraesNo ratings yet
- Destino Manifesto Cultura VisualDocument9 pagesDestino Manifesto Cultura VisualMarcos ArraesNo ratings yet
- A Semana de Arte ModernaDocument24 pagesA Semana de Arte ModernaRfrance CandeiraNo ratings yet
- Playtest 0.9Document326 pagesPlaytest 0.9Thalik Rabi100% (1)
- Grupo 260 Educacao Fisica 13402Document3 pagesGrupo 260 Educacao Fisica 13402PeixePTNo ratings yet
- AULAS 1 A 3 - Imersão Apometrica ArcturianaDocument20 pagesAULAS 1 A 3 - Imersão Apometrica ArcturianaViviane alvesNo ratings yet
- Procedimento Operacional para Abertura de PicadasDocument8 pagesProcedimento Operacional para Abertura de PicadasAnna Carolyna CarolNo ratings yet
- Artigo Monitor LCDDocument5 pagesArtigo Monitor LCDJoão Carlos Almeida EncarnaçãoNo ratings yet
- Bingo Letra InicialDocument3 pagesBingo Letra InicialAmanda LeifeldNo ratings yet
- Tem Um Tesouro Escondido Na Sua EmpresaDocument38 pagesTem Um Tesouro Escondido Na Sua EmpresaSheinysson FeitosaNo ratings yet
- Aula 02 - Condição - de - GrashofDocument13 pagesAula 02 - Condição - de - GrashofAndressa Corrente MartinsNo ratings yet
- Implantação de PMO Como NecessidadeDocument10 pagesImplantação de PMO Como NecessidadeWashington Moreira CavalcantiNo ratings yet
- Artigo Uso Dos Pronomes Na Escrita e Na FalaDocument17 pagesArtigo Uso Dos Pronomes Na Escrita e Na FalaViviane SalesNo ratings yet
- A Dinâmica Entre o Passado e o FuturoDocument14 pagesA Dinâmica Entre o Passado e o FuturoUlysses PinheiroNo ratings yet
- Metodologia Especial para Intervenção Educativa IIDocument6 pagesMetodologia Especial para Intervenção Educativa IIMaria Inês Fossa de AlmeidaNo ratings yet
- Principios Basicos Da Teoria Comportamental - Profa. Dra. Denise NicodemoDocument29 pagesPrincipios Basicos Da Teoria Comportamental - Profa. Dra. Denise NicodemoRubens Baptista100% (1)
- Apostila GPS2Document29 pagesApostila GPS2Uanderson SantosNo ratings yet
- COLORINDO MEMÓRIAS E REDEFININDO OLHARES Ditadura Militar e Racismo No Rio de Janeiro RELATÓRIO DE PESQUISA PDFDocument74 pagesCOLORINDO MEMÓRIAS E REDEFININDO OLHARES Ditadura Militar e Racismo No Rio de Janeiro RELATÓRIO DE PESQUISA PDFGiselle SantosNo ratings yet
- Cadernos de Exercícios de Hidrologia REV01 - GABARITODocument29 pagesCadernos de Exercícios de Hidrologia REV01 - GABARITORodrigo Gonçalves100% (4)
- Calendario AcademicoDocument2 pagesCalendario AcademicoLeandro Soares da SilvaNo ratings yet
- PGFN 2195.2013Document10 pagesPGFN 2195.2013fvg507735No ratings yet
- Sistemas Protendidos DYWIDAG - Protendidos DYWIDAG BrasilDocument1 pageSistemas Protendidos DYWIDAG - Protendidos DYWIDAG BrasilLeandrinhovgaNo ratings yet
- Echeverria - Dialogo e Etica Nas OrganizacoesDocument17 pagesEcheverria - Dialogo e Etica Nas OrganizacoesfpaivaNo ratings yet
- Lancia yDocument191 pagesLancia yManuel MachadoNo ratings yet
- Por Que Odiamos o RH PDFDocument7 pagesPor Que Odiamos o RH PDFRenata BicalhoNo ratings yet
- Templo de Luxor Significado Esotérico Dos Simbolos Nas MandalasDocument10 pagesTemplo de Luxor Significado Esotérico Dos Simbolos Nas Mandalassempreaprender3701No ratings yet
- Laudo Perical PericulosidadeDocument19 pagesLaudo Perical PericulosidadeVagner Augusto GiordanoNo ratings yet
- SE173 IncDocument93 pagesSE173 Incg30.miranda0% (1)
- Espanhol 3º Ano Revisada - Apostila 1º BIMDocument22 pagesEspanhol 3º Ano Revisada - Apostila 1º BIMJosé JuniorNo ratings yet
- (Template) EXERCÍCIOS INTRODUÇÃODocument5 pages(Template) EXERCÍCIOS INTRODUÇÃORuan BuenoNo ratings yet
- Metodo BissetrizDocument34 pagesMetodo Bissetrizrodrigo_0909No ratings yet
- Relatorio 1 QA416 Separações WordDocument7 pagesRelatorio 1 QA416 Separações WordM_KaoriNo ratings yet
- Teste Modelo Do Modulo 3Document4 pagesTeste Modelo Do Modulo 3luprof tpNo ratings yet