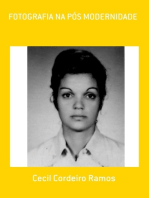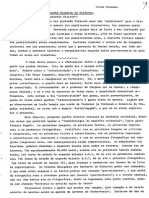Professional Documents
Culture Documents
Krauss - A Escultura em Campo Expandido
Uploaded by
elisa.pehdefigo0 ratings0% found this document useful (0 votes)
1K views10 pagesOriginal Title
Krauss - A escultura em campo expandido
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
1K views10 pagesKrauss - A Escultura em Campo Expandido
Uploaded by
elisa.pehdefigoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 10
A ESCULTURA NO CAMPO EXPANDIDO
Rosalind Krauss
Tem-se utilizado o termo escultura para se referir a coisas bastante
surpreendentes: corredores estreitos com monitores de televisão em seus extremos;
grandes fotografias que documentam excursões campestres; espelhos dispostos em
ângulos estranhos em habitações comuns; linhas efêmera traçadas no solo do deserto.
Aparentemente não há nada que possa proporcionar a tal variedade de experiências o
direito a reclamar seu pertencimento a algum tipo de categoria escultórica. A menos que,
convertamos dita categoria em algo infinitamente maleável.
As operações críticas que tem acompanhado a arte americana do pós-guerra tem
trabalhado em grande medida a serviço desta manipulação. Nas mãos dessa crítica,
categorias como a escultura ou a pintura tem sido amassadas, estiradas e retorcidas em
uma extraordinária demonstração de elasticidade, revelando a forma que um termo
cultural pode expandir-se para fazer referência a qualquer coisa.
Logo que a escultura minimalista apareceu no horizonte da experiência estética da
década de 60, a crítica começou a construir uma paternidade para essas obras, um
conjunto de padrões construtivistas com os quais legitimava e autenticava a raridade
desses objetos. Plásticos? Produção Industrial?: nada disso era realmente novidade como
podiam testemunhar os fantasmas de Gabo, Tatlin e Lissitzky. Não importava que o
conteúdo de umas obras não tivesse nada a ver com o conteúdo de outras, que fora de
fato exatamente o oposto.
Com o passar do tempo entre os anos 60 e 70 a “escultura” começou a identificar-
se com montes de fibras sobre o solo, ou madeiras serradas de secóia roladas até a
galeria, ou toneladas de terra extraídas do deserto, ou cercas de tronco rodeadas de
fossos lamacentos, a palavra escultura se foi fazendo mais difícil de pronunciar.
O historiador/crítico se limitou a ampliar temporalmente sua manipulação e
começou a construir suas genealogias em termos de milênios, em lugar de décadas.
Stone henge, as linhas de Nazca, as pistas de jogo totelcas, os túmulos funerários
indígenas...podia recorrer-se a qualquer coisa para justificar a conexão da obra com a
história, e desse modo legitimar sua entidade escultórica. Era evidente que tanto
Stonehenge como os campos que os totelcas jogavam bola não eram exatamente
esculturas, e seu papel como precedentes historicistas começava a causar suspeita. Mas
não importava, o engano podia seguir dando resultado, remetendo a toda uma variedade
de obras 'primitivistas' realizadas desde princípios do século – a coluna infinita de
Brancusi – entre elas - como mediação entre o passado longínquo e o presente.
Entretanto, ao fazer tudo isto, o próprio termo que acreditávamos estar resgatando
– escultura – havia começado a ficar confuso. Se ocorreu-nos utilizar uma categoria
universal para dotar de autenticidade a um grupo de obras em particular, mas havíamos
forçado à categoria a abarcar tal heterogeneidade que agora tinha a possibilidade de
sofrer um colapso. Caímos na nossa própria armadilha e acreditamos estar fazendo
esculturas sem saber o que era a escultura.
Entretanto, eu diria que sabemos o que é a escultura. Sabemos que se trata de
uma categoria historicamente delimitada, não universal. Igualmente como ocorre com
qualquer outra convenção, a escultura tem sua própria lógica interna, um conjunto
particular de regras que, embora se possa aplicar a situações distintas, não pode
modificar-se demasiado. A lógica da escultura é inseparável, a princípio, lógica do
monumento. Em virtude desta lógica, uma escultura é uma representação comemorativa.
Assenta-se num lugar específico e fala numa língua simbólica sobre o significado e o uso
de tal lugar. A estátua equestre de Marco Aurélio é um monumento deste tipo, disposto no
centro do 'Campidoglio', para simbolizar com sua presença a relação entre a Roma Antiga
e Imperial e a sede governamental da Roma Renascentista moderna. A estátua da
'Conversão de Constantino' de Bernini, situada aos pés da escadaria vaticana que
conecta a Basílica de São Pedro com o coração do papado é outro desses monumentos,
um sinal de um lugar concreto para um significado/acontecimento específico. Dado que
funcionam em relação a lógica da representação e indicação (marcação), as esculturas
'insistem' ser figurativas e verticais. E seus pedestais são parte importante da estrutura
dado que servem de intermediários entre a localização real e o signo representacional.
Não há muito mistério nesta lógica; compreensível e habitável, sendo a fonte de uma
ingente (grande) produção escultórica durante muitos séculos de arte ocidental.
Todavia a convenção não é imutável e chegou um momento que a lógica começou
a falhar. Ao final do séc. XIX assistimos o desvanecimento da lógica do monumento.
Ocorreu bastante paulatinamente. Mas, há dois caso especialmente chamativos que
levam a marca de seu próprio caráter de transição. Tanto as “portas do inferno” de Rodin
como sua estátua de Balzac foram concebidas como monumentos. Em 1880, Rodin
recebeu a encomendadas portas para um futuro museu de artes decorativas; em 1891
encomendaram-lhe um monumento em memória do gênio literário para uma localização
específica em Paris. O fracasso destas duas obras como monumentos não só se reflete
em que se pode se encontrar múltiplas versões das mesmas em vários museus de
distintos países, porém não existe uma versão em sua localização original, já que
nenhuma das duas encomendas chegou a concretizar-se. Seu fracasso, põe-se também
de manifesto na própria superfície das obras: as portas foram lavradas e anti-
estruturalmente incrustadas até tal ponto que sua superfície revela sua condição
inoperante; a estátua de Balzac foi realizada com tal grau de subjetividade que o próprio
Rodin acreditava (como testemunha algumas de suas cartas) que nunca chegaria a ser
aceita.
Poderia se dizer que com esses dois projetos escultóricos se transpassa o limiar da
lógica do monumento e se entra no espaço do que poderíamos chamar “sua condição
negativa”, numa espécie de deslocalização, de ausência de habitat, uma absoluta perda
de lugar. Entramos na arte moderna, no período da produção escultórica que opera em
relação a essa perda de lugar, produzindo o monumento como abstração, o monumento
como um mero sinal ou base, funcionando deslocalizado e fundamentalmente auto-
referencial.
Estas duas características da escultura moderna revelam sua condição
essencialmente nômade, e daí seu significado e sua função.
Mediante a fetichização da base, a escultura se estende para baixo até absorver o
pedestal e separá-lo de sua localização; e através da representação de seus próprios
materiais ou do processo de sua construção, a escultura representa sua própria
autonomia. A arte de Brancusi é um extraordinário exemplo do modo como isto ocorre.
Numa obra como 'Galo', a base se converte no gerador morfológico da parte figurativa do
objeto; nas cariátides e na coluna infinita, a escultura é toda ela uma base. A base se
define deste modo como essencialmente transportável, com o sinal da deslocalização da
obra integrada na própria essência da escultura. O interesse de Brancusi por apresentar
partes do corpo como fragmentos que tendem para a abstração radical também revela
uma ausência de localização, neste caso a localização do resto do corpo, o suporte
estrutural que proporcionará um lar às cabeças de bronze ou mármore.
Brancusi, Constantin - "Galo" - (Paris, 1924)
Ao constituir a condição negativa do monumento, a escultura moderna se
encontrou com uma espécie de espaço idealista a ser explorado, um âmbito alheio ao
projeto de representação temporal e espacial, um veio (filão) inovador e fértil que se podia
tomar partido durante certo tempo. Mas era um veio (filão) limitado que começou a ser
explorado no início do século XX e começou a dar sinais de esgotamento por volta de
1950. Isto é, começou a experimentar-se cada vez mais como pura negatividade. Nesse
momento, a escultura moderna se converteu numa espécie de buraco negro no espaço
da consciência, em algo cujo conteúdo positivo resultava cada vez mais difícil definir, em
algo que só se podia caracterizar em função do que não era. “a escultura é aquilo com
que tropeças quando retrocedes para ver uma pintura”, afirmava Barnett Newman nos
anos 50. Se nos remetemos às obras do princípio dos anos 70, provavelmente seria mais
preciso afirmar que a escultura havia entrado numa categórica terra de ninguém: a
escultura era aquilo que estava em frente a um edifício e que não era o edifício, ou aquilo
que estava na paisagem e não era a paisagem.
Os exemplos mais claros que se recordam do início da década de 60 são as obras
de Robert Morris. Uma delas foi exposta em 1964 na Green Gallery: uma série de
unidades quase- arquitetônicas cuja entidade como escultura se reduz quase por
completo à simples determinação de que são o que há na habitação que não é realmente
a habitação; a outra é a montagem ao ar livre das caixas especulares, umas formas que
só distinguem do lugar em que se encontram porque, apesar de estabelecer uma
continuidade visual com a grama e as árvores não formam realmente parte da paisagem.
Robert Morris, untitled (mirrored cubes), 1965
Neste sentido, a escultura assumia plenamente a condição de sua lógica inversa e
se converteu em pura negatividade: uma combinação de exclusões. Poderia se dizer que
a escultura deixava de ser algo positivo e que se transformava na categoria resultante da
adição da não paisagem e da não-arquitetura. Em termos diagramáticos, o limite da
escultura moderna, a soma de negações seria algo assim:
não-paisagem não-arquitetura
escultura
Agora, ainda que a própria escultura converteu-se numa espécie de ausência
ontológica, em uma combinação de exclusões, em uma soma de negações, isso não
significa que os próprios termos a partir dos quais se construía – a não-paisagem e a
não-arquitetura – não tiveram certo interesse. Isso se deve a que ditos termos expressam
uma oposição estrita entre o construído e o não construído, o cultural e o natural, uma
oposição na qual parecia estar suspensa a produção artística escultórica. E a partir de
finais da década de 1960, os escultores começaram a focalizar sua atenção nos limites
externos desses termos de exclusão. Se bem que ditos termos são a expressão de uma
oposição lógica proposta como um par de negações, uma simples inversão permite
transformá-los na mesma oposição polar, porém expressada positivamente. Assim, a não-
arquitetura não é mais, de acordo com a lógica de certo tipo de expansão, que outra
maneira de expressar o termo paisagem, e a não-paisagem é, simplesmente, arquitetura.
Pensar em termos complexos supõe admitir na esfera da arte dois conceitos que
anteriormente haviam sido proibidos, paisagem e arquitetura, dois termos que podiam
servir para definir o escultórico (como havia começado a ocorrer na arte moderna) só na
sua condição negativa ou neutra. Ao estar ideologicamente proibido, o termo complexo
permaneceu excluído do que podia chamar-se “A clausura da arte pós-renascentista”.
Nossa cultura não havia sido capaz anteriormente de pensar o complexo, ao contrário do
que ocorre em outras culturas. Os labirintos são ao mesmos tempo paisagem e
arquitetura, como o são os jardins japoneses; os campos de jogo ritual e procissional das
civilizações antigas, eram os ocupantes inqüestionáveis do complexo. O que não quer
dizer que foram uma variação prematura ou degenerada da escultura. Formavam parte de
um universo ou um espaço cultural em que a escultura era simplesmente uma parte a
mais: não eram equivalentes, como são de certo modo para nossa mentalidade
historicista. Seu propósito e sua satisfação residem precisamente em que são opostos e
diferentes.
O campo expandido gera-se desse modo problematizando o conjunto de oposições
entre as que se encontra suspensa a categoria de escultura. Quando isto ocorre, quando
um é capaz de conceber o próprio caminho para essa expressão, pode-se - logicamente –
outras três categorias, todas elas condições do campo em si e nenhuma assimilável à
escultura. Porque como se pode ver a escultura já não é o privilegiado termo médio entre
os termos alheios. A escultura não é mais que um termo na periferia de um campo no qual
há outras possibilidades estruturadas de diferentes maneiras. E temos conseguido a
“autorização” para pensar nessas outras formas.
Robert Smithson; Dique em espiral (1969-70)
Parece evidente que numerosos artistas perceberam ao mesmo tempo,
aproximadamente entre 1968 e 1970, a possibilidade (ou a necessidade) de conceber o
campo expandido. Um após o outro, Robert Morris, Robert Smithson, Michael Heizer,
Richard Serra, Walter de Maria, Robert Irwin, Sol Le Witt, Bruce Nauman...assumiram
uma situação cujas condições lógicas já não podem se descrever como modernas. Para
se refirir a esta ruptura histórica e a transformação estrutural do âmbito cultural que a
caracteriza é preciso recorrer a outro termo. Em outras terrenos da crítica, o termo que se
emprega é “pós-modernidade”. Não parece existir nenhuma razão para não utilizá-lo.
Mas independente do termo que utilizemos, as evidências estão aí. Por volta de
1970 com seu “lenheiro semi-enterrado” na Universidade do Estado de Kent (Ohio),
Robert Smithson havia começado a ocupar o eixo complexo (que denomino construção
localizada1 para uma mais fácil referência). Em 1971, Robert Morris se uniu a ele com o
observatório em madeira e grama que edificou na Holanda. A partir de então, muitos
outros artistas – Robert Irwin, Alice Aycock, John Manson, Michael Heizer, Mary Miss,
Charles Simonds – exploraram esta nova série de possibilidades.
Do mesmo, a possível combinação de paisagem e não-paisagem começou a ser
explorada ao final da década de 1960. O termo lugares marcados2 se utilizava para
identificar obras como “dique em espiral” de Robert Smithson (1970) e “Duplo Negativo”
de Heizer (1969), e também pode aplicar-se a alguma das obras realizadas nos anos 70
1 Site construction no original inglês.
2 Marked sites no original inglês.
por Serra, Morris, Carl André, Dennis Oppenheim, Nancy Holt, George Trakis e muitos
outros. Mas o termo também remete a outras formas de marcação além das
manipulações físicas de lugares. Estas formas podem basear-se na aplicação de sinais
permanentes – as depressões de Heizer, as linhas temporais de Oppenheim, ou o
desenho de uma milha de comprimento de De Maria, por exemplo – ou servir-se da
fotografia. Os “deslocamentos espelhados em Yucatán” de Smithson foram provavelmente
os primeiros exemplos amplamente difundidos disto; a partir de então, o trabalho de
Richard Long e Hamish Fulton se centrou na experiência fotográfica de sinalização. A
“cerca contínua” de Christo pode se considerar um exemplo efêmero, fotográfico e político
de sinalização de um lugar.
Os primeiros artistas que exploraram as possibilidades da arquitetura mais a não-
arquitetura foram Robert Irwin, Sol Le Witt, Bruce Nauman, Richard Serra, e Christo. Em
todas estas estruturas axiomáticas se produz certo tipo de intervenção no espaço real da
arquitetura, umas vezes mediante a reconstrução parcial, outras através do desenho, e
outras, como no caso das obras de Morris (1978), mediante o emprego de espelhos.
Igualmente a categoria dos lugares marcados (sinalizados), aqui também pode-se utilizar
a fotografia; pensando concretamente nos corredores de vídeo de Nauman. Mas
independente do meio empregado, a possibilidade que explora esta categoria é um
processo de representação gráfica de traços axiomáticos da experiência arquitetônica –
as condições abstratas de abertura e fechamento – sobre a realidade de um determinado
espaço.
O campo expandido que caracteriza este âmbito da pós-modernidade apresenta os
traços implícitos na descrição anterior. Um deles corresponde à pratica de cada um dos
artistas; o outro tem a ver com o assunto do meio. Em ambos casos, as limitadas
condições da arte moderna sofreram uma ruptura logicamente determinada.
Ao que diz respeito à prática individual, resulta fácil ver que muitos dos artistas em
questão encontraram a si mesmos ocupando, sucessivamente, diferentes lugares no seio
do campo expandido. E ainda que a experiência do campo sugere que esta contínua
relocalização das próprias energias é completamente lógica, uma crítica de arte todavia
escrava da ética moderna tem se mostrado majoritariamente receosa com este
movimento, tachando-o de eclético. Este receio em relação a uma trajetória que se move
contínua e erraticamente além do domínio da escultura deriva obviamente da exigência
moderna de pureza e independência nos distintos meios (e a necessária especialização
do artífice num meio determinado). Entretanto, o que desde um ponto de vista apresenta-
se como eclético, desde outro pode se considerar rigorosamente lógico. Na situação da
pós-modernidade, a prática não se define em relação a um determinado meio – a
escultura -, e sim em relação às operações lógicas sobre um conjunto de termos culturais,
para as que pode se utilizar qualquer meio – fotografia, livros, linhas na parede, espelhos
ou a própria escultura.
Deste modo, o campo proporciona ao artista um conjunto finito porém ampliado de
posições relacionadas a empregar e explorar, assim como uma organização da obra que
não está ditada pelas condições de um meio em particular. Sobre a base da estrutura
traçada acima, é óbvio que a lógica do espaço da prática pós-moderna já não se organiza
em torno à definição de um determinado meio baseado em um material ou na percepção
de um material. Organiza-se pelo contrário através do universo de termos que se
consideram em oposição no seio de uma situação cultural. (O espaço pós-moderno da
pintura implicaria obviamente uma expansão similar em torno a um conjunto de termos
diferentes ao par arquitetura/paisagem, um conjunto que provavelmente ativaria a
oposição unicidade/reprodutibilidade.) Do que se deduz, portanto, que qualquer das
posições geradas pelo espaço lógico dado, poderiam se empregar muitos meios
diferentes, assim como que qualquer artista poderia ocupar , sucessivamente, qualquer
das posições. E também parece ser que na posição limitada da própria escultura, a
organização e o conteúdo de muitas obras mais poderosas refletirá a condição do espaço
lógico. Pensando na escultura de Joel Shapiro, que ainda se situa no termo neutro, está
implicada na fixação de imagens arquitetônicas em campos (paisagens) espaciais
relativamente vastos. (Estas considerações são aplicáveis, obviamente, a outras obras,
entre elas os trabalhos de Charles Simonds e os de Ann e Patrick Poirier.)
Insisti que o campo expandido da pós-modernidade aparece num momento
específico da recente (1978) história da arte. É um acontecimento histórico com uma
estrutura determinante. Considero extremamente importante traçar o mapa dessa
estrutura, e isso é o que comecei a fazer aqui. Mas em realidade, dado que trata-se de
um assunto histórico, também é importante explorar uma série de questões mais
profundas que vão além da mera elaboração de um mapa e que requerem um explicação.
Ditas questões tem a ver com a causa fundamental - as condições de possibilidade - que
produziram a mudança para a pós-modernidade, assim como os determinantes culturais
da oposição através da qual se estrutura um campo dado. Trata-se obviamente de uma
aproximação à reflexão histórico-formal diferente ao desenho de elaboradas árvores
genealógicas próprio da crítica historicista. Pressupões a aceitação de rupturas definitivas
e a possibilidade de contemplar os processos históricos desde o ponto de vista da
estrutura lógica.
KRAUSS, Rosalind E. La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Alianza
Editorial: Madrid, 2006.
Título Original: The Originality of the Avannt Garde and Other Modernist Myths
You might also like
- RosalindKrauss MonumentoDocument9 pagesRosalindKrauss MonumentoGabriela LopesNo ratings yet
- A Escultura No Campo Ampliado - Rosalind KraussDocument10 pagesA Escultura No Campo Ampliado - Rosalind Kraussmariana.app1402100% (1)
- A escultura no campo ampliadoDocument10 pagesA escultura no campo ampliadoAna Holanda CantaliceNo ratings yet
- Campo Ampliado Da Escultura - Káren Cristina Pereira Do NascimentoDocument7 pagesCampo Ampliado Da Escultura - Káren Cristina Pereira Do Nascimentokaren cristinaNo ratings yet
- Retrato da utopia nos earthworks dos anos 60 e 70Document9 pagesRetrato da utopia nos earthworks dos anos 60 e 70Luciano LanerNo ratings yet
- Rosalind Krauss FotoDocument14 pagesRosalind Krauss FotoRoberta Gouvêa100% (1)
- O Cubo Branco - a ideologia do espaço de arte na galeriaDocument3 pagesO Cubo Branco - a ideologia do espaço de arte na galeriaKarol RodriguesNo ratings yet
- A Escultura No Campo AmpliadoDocument10 pagesA Escultura No Campo Ampliadoposedu275% (4)
- A Beleza Da Indiferença - Reflexões Sobre Literatura e Artes Plásticas A Partir de Um Conto de Virginia WoolfDocument10 pagesA Beleza Da Indiferença - Reflexões Sobre Literatura e Artes Plásticas A Partir de Um Conto de Virginia WoolfAlexCosta1972No ratings yet
- A arte expandida: do cubo branco à arte públicaDocument18 pagesA arte expandida: do cubo branco à arte públicaAlexandre Chien100% (1)
- Material Artes Visuais - Aula 1Document29 pagesMaterial Artes Visuais - Aula 1nicole chagas limaNo ratings yet
- Hélio Oiticica - O Museu É o MundoDocument8 pagesHélio Oiticica - O Museu É o MundoGabriela Bon0% (2)
- A evolução da procura por esculturas ao ar livreDocument6 pagesA evolução da procura por esculturas ao ar livreGuilherme PregoNo ratings yet
- XanaDocument26 pagesXanaAlexandre PomarNo ratings yet
- Rosalind Krauss-Os Espaços Discursivos Da FotografiaDocument14 pagesRosalind Krauss-Os Espaços Discursivos Da FotografiaFrancisco PalmaNo ratings yet
- Barroco em portugalDocument10 pagesBarroco em portugalCatarina CardosoNo ratings yet
- Rosalind KraussDocument14 pagesRosalind KraussMariana GamaNo ratings yet
- A Origem Da Escultura Está Estreitamente Ligada À Ideia de MonumentoDocument14 pagesA Origem Da Escultura Está Estreitamente Ligada À Ideia de MonumentoLucas StreyNo ratings yet
- AscaniommmDocument31 pagesAscaniommmAndré SartorelliNo ratings yet
- O livro de artista como espaço alternativo de arteDocument11 pagesO livro de artista como espaço alternativo de arteRoberta CangussuNo ratings yet
- HalfosterDocument8 pagesHalfosterKarinaAikoNo ratings yet
- Robert Smithson e a paisagem entrópicaDocument8 pagesRobert Smithson e a paisagem entrópicaJuju RibeiroNo ratings yet
- Site Specificity: Da Inseparabilidade ao Desafio CríticoDocument26 pagesSite Specificity: Da Inseparabilidade ao Desafio CríticoMônica RubinhoNo ratings yet
- O indizível e as obras imaginárias de Klein e CraigDocument13 pagesO indizível e as obras imaginárias de Klein e CraigLuccas ZNo ratings yet
- ABOUTDocument6 pagesABOUTMartim RodriguesNo ratings yet
- Atemporalidade da arte e seu contexto históricoDocument15 pagesAtemporalidade da arte e seu contexto históricoRafael AltNo ratings yet
- Huyssen1984 PT TraducaoDocument20 pagesHuyssen1984 PT TraducaoElza TolentinoNo ratings yet
- Grades, Rosalind Krauss, (1978) - Textos e TextosDocument11 pagesGrades, Rosalind Krauss, (1978) - Textos e TextosIves RosenfeldNo ratings yet
- 1 PBDocument27 pages1 PBispaide sombraNo ratings yet
- Site specificity: da arte enraizada ao lugar críticoDocument27 pagesSite specificity: da arte enraizada ao lugar críticoAgah NatãNo ratings yet
- Curadoria, arte contemporânea e novos circuitosDocument14 pagesCuradoria, arte contemporânea e novos circuitosClediane LourencoNo ratings yet
- Atlas - Como Levar o Mundo Nas Costas - Georges Didi HubermannDocument12 pagesAtlas - Como Levar o Mundo Nas Costas - Georges Didi HubermannVanessa Costa da RosaNo ratings yet
- Forma x conteúdo na arte modernaDocument2 pagesForma x conteúdo na arte modernafernandofacoNo ratings yet
- Ruína BrutalistaDocument9 pagesRuína BrutalistaDiego Batista LealNo ratings yet
- Site specificity: da arte enraizada ao desafio institucionalDocument19 pagesSite specificity: da arte enraizada ao desafio institucionalViviane GuellerNo ratings yet
- Richard Serra ArtigoDocument20 pagesRichard Serra ArtigoSimone NeivaNo ratings yet
- Origens da Arte Pré-HistóricaDocument79 pagesOrigens da Arte Pré-HistóricaestorilfilmefestivalNo ratings yet
- Arte site-specific e suas transformaçõesDocument22 pagesArte site-specific e suas transformaçõeslopesdeboraNo ratings yet
- A Astúcia Do Quadro TraduçãoDocument10 pagesA Astúcia Do Quadro TraduçãoRennan NegrãoNo ratings yet
- Livros de artista: uma categoria multifacetada e abertaDocument14 pagesLivros de artista: uma categoria multifacetada e abertaYasmin NogueiraNo ratings yet
- 1 SMDocument6 pages1 SMNicole Ferreira Torres de MouraNo ratings yet
- O mito do Renascimento italianoDocument32 pagesO mito do Renascimento italianoWheriston NerisNo ratings yet
- 17 - 230504 - BRIAN HATTON - The Place of Sculpture in Modern Architecture - PTDocument5 pages17 - 230504 - BRIAN HATTON - The Place of Sculpture in Modern Architecture - PTRafael GonçalvesNo ratings yet
- Colecao Folha Grandes Pintores Brasileiros - Paula Braga - Trecho MetaesquemasDocument5 pagesColecao Folha Grandes Pintores Brasileiros - Paula Braga - Trecho MetaesquemasPaula BragaNo ratings yet
- Escultura ModernaDocument71 pagesEscultura ModernaClediane LourençoNo ratings yet
- Afinidades entre Bispo do Rosário e Peter GreenawayDocument6 pagesAfinidades entre Bispo do Rosário e Peter GreenawayMayara FiorNo ratings yet
- Livro de Artista A Arte Ao Alcance Das MãosDocument18 pagesLivro de Artista A Arte Ao Alcance Das MãosRodrigo Oliveira SantosNo ratings yet
- BOGÉA, Marta - Tempo - Matéria-Prima Da ArquiteturaDocument10 pagesBOGÉA, Marta - Tempo - Matéria-Prima Da ArquiteturaMario Victor MargottoNo ratings yet
- Hélio Oiticica: a asa branca do êxtase: Arte brasileira de 1964-1980From EverandHélio Oiticica: a asa branca do êxtase: Arte brasileira de 1964-1980No ratings yet
- Arte negativa para um país negativo: Antonio Dias entre o Brasil e a EuropaFrom EverandArte negativa para um país negativo: Antonio Dias entre o Brasil e a EuropaNo ratings yet
- Teatro de Arena e OficinaDocument245 pagesTeatro de Arena e OficinaPauloMottaNo ratings yet
- Texto Imagem Enquanto Dinamica Do OcidenteDocument6 pagesTexto Imagem Enquanto Dinamica Do OcidenteRogerio Marcondes MachadoNo ratings yet
- Flavio Imperio Na Selva de São PauloDocument15 pagesFlavio Imperio Na Selva de São PauloRogerio Marcondes MachadoNo ratings yet
- A escultura no campo expandidoDocument10 pagesA escultura no campo expandidoRogerio Marcondes MachadoNo ratings yet