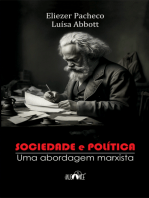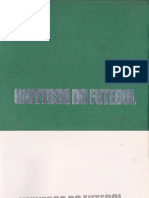Professional Documents
Culture Documents
Artigo Sobre Etnocídio (Traduzido)
Uploaded by
gjcorreia7368Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Artigo Sobre Etnocídio (Traduzido)
Uploaded by
gjcorreia7368Copyright:
Available Formats
ETNOCÍDIO, TERCEIRO MUNDO E ETNODESENVOLVIMENTO
Por Robert Jaulin
O etnodesenvolvimento como mito que favorece o jogo de poderes
tecnoburocráticos transformou em ordem universal totalitária a desestruturação
das sociedades tradicionais pela economia de mercado. Essa ordem midiatiza
e atomiza o ser humano. Tal processo etnocida faz com o que o Terceiro
Mundo apareça como o resultado da integração dentro dessa ordem única do
imenso universo de culturas diferentes em decomposição.
A esse desenvolvimento abstrato ao qual aspiram grandes setores do Terceiro
Mundo, nós opomos a reivindicação de um etnodesenvolvimento.
1 – A ordem etnocida
“Etnocídio” significa o ato de destruição de uma civilização, um ato de
descivilização.
O termo “etnocida” foi construído à semelhança do termo “genocida”, o qual foi
construído à imagem de “homicida”.
Marcelo Bataillon evoca essas construções. “Observemos de uma vez por
todas que os termos genocida e etnocida foram forjados com base no modelo
de homicida, palavra onde se identificam dois substantivos latinos: homicida
(concreto), o assassino e homicidum (abstrato), o assassinato, e poderiam,
então, designar ao mesmo tempo os assassinatos coletivos perpetrados contra
as raças ou etnias e suas culturas e qualificar os povos conquistadores que se
tornam culpados”.
Em 1947 e 1948, a Comissão nº 6 das Nações Unidas examinou a noção de
genocídio e buscou-se elaborar uma carta de direitos humanos. Analisou-se
depois o genocídio cultural (o termo etnocida não era empregado). A comissão
rejeitou finalmente a ideia de genocídio cultural sob o pretexto de que ela
poderia atentar contra a noção de genocídio em sentido estrito: o mundo
acabava de sair da guerra, os espíritos estavam justificadamente obcecados
pela lembrança dos fornos crematórios. Os problemas criados por esses fornos
foram priorizados em relação àquele problema que, tendo em vista o
“progresso”, seria novamente instalado: a destruição das culturas.
O horror ou a culpabilidade associada à liquidação do povo judeu ocultariam os
problemas da liquidação dos povos enquanto significativos de culturas, de
civilizações; correlativamente, a idéia de povo dizia respeito apenas ao
pequeno núcleo político, e a ideia de civilizações havia sido eclipsada ou
estava de tal modo reduzida que não designava mais do que um singular
hipotético a ser construído. Esse singular “messiânico e tecnicista”
correspondia ao espírito de “armistício” sobre o qual as pessoas se lançavam a
fim de esquecer os crimes nazistas e curar as feridas de Israel. Sem dúvida, ao
agirem assim, as pessoas se esquivavam do significado dessas feridas.
Pretendia-se prevenir novos genocídios afastando os problemas relacionados
ao genocídio cultural. Sabemos que não somente isso não aconteceu assim,
como também que o destaque dado à única ofensa, fosse ela “generalizada”, à
pessoa física, era de fato etnocida. Isso anunciava o início de processos de
genocídio cultural. O que é, pois, um etno?
A palavra tem origem grega e designa um povo “específico”, um povo que
detém uma propriedade, uma qualidade, a qual é uma cultura. Etno designa um
povo enquanto cultura; ou ainda, uma cultura encarnada em um povo. Por
cultura pode-se entender aqui uma civilização. A palavra deve ser entendida
em seu sentido pleno, total.
Evidentemente, uma cultura não é nem uma minoria nem uma maioria, pois ela
não é uma quantidade, e sim uma qualidade. O volume de pessoas, de
espaços disponíveis, etc., do grupo ao qual é associada uma cultura, e esse
“volume” comparado a outros integram as informações relativas a essa cultura,
mas não a definem.
Uma civilização se refere, pois, a um corpo coletivo considerado em sua
totalidade. Ela inclui os diversos aspectos (econômicos, religiosos, políticos,
entre outros) desses corpos, mas não é a soma de tais aspectos. De fato,
esses domínios não estão separados uns dos outros, pois somente o seu
“produto”, a sua totalidade faz sentido. Nenhum desses diversos domínios é a
pedra angular do conjunto. Somente a totalidade, que é complexidade, constitui
a pedra angular.
A história através da qual se instaura uma civilização pode, dependendo do
caso, privilegiar “momentaneamente” um ou outro desses domínios
(econômico, religiosos, etc), assim como a destruição de uma civilização pode
se dar a partir da destruição da organização do espaço, ou da destruição da
autonomia “política”, etc.
Sendo uma cultura um “todo”, pode ser suficiente agir sobre um dos seus elos
para modificá-la ou destruí-la em sua totalidade. Esse “todo” é uma estrutura e
uma dinâmica. Ele dispõe, portanto, de grandes possibilidades de “respostas”
e/ou invenções. Além disso, é preciso frequentemente contar os procedimentos
de modificações internas relacionadas aos seus modos de sobreviver e viver, e
de sua permanência.
Uma civilização é uma dinâmica específica, ordenada, que se refere a um ser
coletivo. Esse ser é um ser dentro do mundo, ele é “ser o mundo”.
A cultura é o estado da natureza do ser humano. Esse estado remete a um
universo plural, dos “etnos”. Suas manifestações são essencialmente da ordem
do cotidiano e da comunicação, a qual é diálogo, reciprocidade, partilha. Eu
diria que essa “partilha” é “amorosa”, em um sentido muito amplo dessa
palavra. Essa ordem cotidiana da comunicação se opõe às diversas definições
“totalitárias” da Civilização, as quais estão submetidas à representação e à
informação.
A „”representação” designa aqui os “discursos” sobre a cultura ou que se
substituem à cultura. Tais “discursos” correspondem às diversas disciplinas
universitárias ou escolares que se sobrepõem em parte aos recortes evocados
anteriormente. Essas disciplinas ou domínios são geralmente fechados uns em
relação aos outros, seu conjunto sendo uma “cultura-poder” cujo complementar
é a “cultura-escrava” associada a determinadas atividades manuais.
Esse par cultura-poder, “cultura-escrava” também é apoiado por diversos
sistemas políticos e econômicos. Graças aos procedimentos de midiatização
introduzidos pelo sistema de comunicação de sentido único, sistema chamado
de informação, ele tende cada vez mais a se transformar em uma cultura de
achatamento ou de massa. Essa “cultura de massa” não é mais o monopólio da
América do Norte. Ela intervém amplamente e em toda a parte causando a
atomização dos indivíduos, ou seja, o desaparecimento das diversas
complementaridades. Tal desaparecimento é naturalmente o das comunidades
ou corpos coletivos expressivos de um modelo cultural definido.
A essa cultura de massa é necessário opor, em nível internacional, uma cultura
plural, a qual se exprime pontualmente por “culturas etno”.
Etnocida é a palavra que designa a destruição dos etnos. O etnocida é,
portanto, a não-referência aos etnos ou povos dotados de cultura. O “universo”
do etnocida não é o dos povos dotados de cultura. Qual é, então, esse
“universo etnocida”?
Podemos mencionar cinco aspectos:
1) A não-referência a povos dotados de cultura pode ser expressa de
diferentes maneiras, e inicialmente, não se referindo a nada.
O indivíduo somente existe dentro de um “quadro”, “de uma
coletividade ordenada”. Esquecê-lo implica negar esse quadro, a
civilização, ou seja, a multiplicidade de civilizações.
É eliminando primeiramente a liberdade de existência das civilizações, ou as
diferenças entre civilizações, que se priva qualquer homem de seu semelhante.
E sabe-se que os mitos da produção, uma loucura acumuladora de bens de
consumo, o desaparecimento dos espaços sociais (ruas, praças, etc.) ou a
oposição, sob a máscara da igualdade, dos sexos, representam na verdade a
quebra das relações humanas – de produção, de consumo, de residência e de
fruição – relações cujo conjunto e cuja complexidade constituem a relação de
uma civilização no mundo.
O exemplo de tal universo é fornecido com a noção de desenvolvimento. O
desenvolvimento só pode significar o desenvolvimento de alguma coisa, e não
o desenvolvimento do desenvolvimento. Ora, quando a comunidade humana
sobre a qual ele é aplicado não é levada em consideração, quaisquer que
sejam as suas intenções, o desenvolvimento é, então, por definição etnocida.
2) Um segundo procedimento próprio de um “universo” etnocida reside no
direito que se atribuem determinados “sistemas” de reconhecer e/ou
negar qualquer civilização, qualquer comunidade humana.
Tais sistemas são por definição totalitários, achatadores. Possuem
caracteres diferentes, podendo consistir em práticas econômicas, religiosas
ou políticas, etc. Geralmente estão associados a catecismos ou ideologias
(teorias, etc.) de diversos tipos e engendram poderes.
O aspecto mais estranho desses sistemas é que os grupos humanos a eles
associados são essencialmente o produto da relação negativa que
fundamenta o direito de reconhecer e/ou negar qualquer outro, e não o
produto de uma relação positiva, de afirmação cultural deles próprios.
“A afirmação” aqui não é senão suficiência, farsa, poder, mesmo quando ela
é a “caridade” de reconhecer, e ela só tem sentido em sua relação com o
outro. O direito de reconhecer e o direito de negar são evidentemente
complementares, exprimindo o mesmo conjunto.
3) Uma terceira característica do universo etnocida e, mais particularmente,
das ideologias totalitárias que o expressam é o caráter negativo da
pessoa privilegiada.
Esta pessoa pode ser crucificada, mártir, explorada, colonizada, desprovida
– de uma geladeira, de um carro, de um escravo, etc.. De um modo geral,
essa pessoa não apenas está desprovida de si mesma, mas também é
definida independentemente de qualquer comunidade humana e de
qualquer cultura. Da mesma forma, a comunidade humana e a cultura que
lhe são próprias são sempre transferidas para depois, ou ainda estão por
serem feitas ou por produzir. Trata-se sempre de um paraíso, celeste ou
terrestre, caracterizado pela opulência material ou cultura: o progresso do
capital, a cultura internacional do proletário, o paraíso celeste, etc, são as
recompensas que os poderes que lhe representam asseguram para você.
Evidentemente, sempre que alguém só se conhece em termos negativos
como na condição de colonizado, pobre, etc., o seu objetivo é de se tornar
colonizador, rico, etc.
O par mestre-escravo é representativo de tal sistema.
A relação “civilizatória”, étnica, é de ordem afirmativa e não negativa.
Certamente, tal relação deve implicar a rejeição de um “universo-negação”,
e não abrir as portas para ele.
Entretanto, antes de tudo, é porque as comunidades humanas mantinham
relações mútuas positivas que elas foram hospitaleiras, abriram as suas
portas e se deixaram invadir, submeter, colonizar, destruir.
4) Por definição, o universo etnocida mantém uma relação negativa com os
“etnos”. Esse universo em “essência” contradiz aquele dos povos
dotados de cultura. A “fronteira” que os separa é, pois, “marcada” e da
ordem do contraditório. Tal relação é característica do universo etnocida
e não do universo dos etnos, pois estes não são totalitários. Cada um
deles corresponde a um mundo complexo e baseado na
complementaridade entre seus membros, suas diversas partes, suas
diversas funções. Essa complementaridade, evidentemente, deve ser
sempre assumida, assegurada, pois ela não acontece de uma vez por
todas. A vida não é um “jogo” fácil. Uma civilização não é um simples
objeto de consumo; ela se produz incessantemente, ainda que seja
idêntica. Somente essa produção torna o homem um ser “livre”, não
manipulado.
Somente pode haver complementaridade entre os diversos indivíduos
e/ou domínios expressivos de um conjunto humano na compatibilidade.
Na ausência de tal compatibilidade, o conjunto em questão emana
“naturalmente” e sem cessar de si mesmo. Os etnos não morrem de
doenças ou contradições internas. Eles geralmente desaparecem devido
a intervenções externas.
Correlativamente, todo universo totalitário não se contenta em afirmar,
em relação àquele que lhe antagoniza, uma relação de ordem
contraditória. Ele é regido em todos os níveis pela contradição.
Um povo dotado de cultura mantém consigo mesmo relações cuja
ordem é de compatibilidade. E devem ser incluídas entre essas relações
aquela mantida com o “cosmos”, o resto do mundo, mesmo quando
“muralhas”, uma distância ou barreiras diversas estejam associadas.
Ao contrário, todo sistema totalitário mantém com o resto do universo
uma relação fundada no contraditório e/ou na conquista, e essa relação
é isomorfa àquelas que ele mantém consigo mesmo.
5) Dizer de um universo etnocida que ele se baseia na contradição implica
que ele seja constantemente marcado por rupturas e explosão, e,
portanto, por fuga e/ou conquista.
Essa ruptura deve ser entendida no plural. A não-complementaridade
entre os indivíduos (atomização), a separação dos diversos domínios
constitutivos da existência, a concorrência entre os diversos grupos, os
procedimentos de eliminação de determinadas partes por outras, as
denúncias sistemáticas, as oposições “políticas” e/ou econômicas
(direita-esquerda, leste-oeste, etc), as visões negativas do passado em
nome do futuro (selvagens-civilizados, etc.), os pares de termos
antagonistas (manual/intelectual, natureza/cultura, proletário/burguês,
etc,) estão entre as numerosas rupturas fundadas na contradição.
A única paz em direção a qual tais universos podem se voltar é
semelhante àquela dos cemitérios, é um fechamento “consentido”. Tal
paz só pode ser um engodo ou uma obrigação momentânea, pois ela
não é compatível com a vida.
II. O Terceiro Mundo como um “não lugar”
O Terceiro Mundo é o resultado do surgimento do desenvolvimento
como projeto etnocida nascido da descolonização. Admitamos que o
Terceiro Mundo tenha o sentido da palavra que ele designa e tomemo-lo
ao pé da letra. Surge uma questão: “De qual mundo o Terceiro Mundo é
o terceiro: Que par ou personagem esse terceiro e os dois outros terços
formam juntos?
O Terceiro Mundo se encontra assim definido de modo unitário, por
referência aos dois terços e não por referência a ele mesmo.
Pouco importa que a evocação desses dois terços seja uma
simplificação: se existem pelo menos dois campos do lado socialista (o
chinês e o soviético), e se múltiplas concorrências dividem o lado
capitalista, a referência à “totalidade” é nesse caso o essencial, de um
lado. De outro, esses diversos campos não podem existir
independentemente desse Terço, ou seja, de uma dinâmica que é a do
universo totalitário, que tende a contê-lo e ao qual uns e outros apelam
de modos distintos. Tais distinções e as oposições, guerras, etc. e que
elas implicam devem ser consideradas como meios dessa finalidade, o
objetivo totalitário, mesmo quando elas podem testemunhar outras
coisas. Outras coisas, sejam elas traços específicos de civilizações
recuperadas, abusadas, e por meios escusos, utilizadas; sejam elas
traços específicos de comunidades em estado de esperança, de busca e
de gestação, comunidades que o objetivo totalitário irá abortar.
Está claro que nós não podemos levar em consideração as diferentes
opiniões ou intenções relativas à natureza do objetivo totalitário a ser
atingido, pois elas dependem do imaginário, e somente os seus pontos
comuns exprimem tal objetivo, ou, antes, um de seus momentos.
O momento atual é, pois, caracterizado por um urbanismo do tipo
“grande conjunto”, e que exclui os pontos de convergência. São
discursos de sentido único onde as mídias e as instituições diversas
(políticas, etc.) estabelecem a lei, pois eles nos dirigem a palavra sem
que possamos responder-lhes, objetos não definidos por seus
consumidores, geradores de necessidades que não se extinguem e no
mais das vezes produzidas “em outro lugar”, fora dos grupos que as
utilizam: organizações (estatais, multinacionais, financeiras, religiosas,
cientistas) pretendendo substituir sua identidade pelas das comunidades
humanas que elas tendem a representar, etc. Tudo isso é encontrado
aqui e ali. Nos últimos trinta anos nós vimos esses fenômenos
desabrocharem, eles que são expressões de uma sociedade ilusória,
com dimensões indefinidas.
Tal “sistema” não engendra nem diz respeito à menor comunidade
existente, a não ser no nível dos álbuns de figuras, das profissões de fé,
das combinações de poder.
Porém, evitemos transformar os instrumentos desse sistema indefinível
em bodes expiatórios. De fato, apesar da frequente mediocridade, esses
próprios instrumentos são logrados, pois o valor do jogo ao qual eles se
submetem é um engodo em termos de comunidades humanas.
Ademais, não apenas é impossível para nós evitar agir, ao menos
parcialmente, dentro do quadro desses instrumentos totalitários – esse
artigo se encontra em parte incluído no campo desses discursos da
mídia, midiatizado, e de sentido único - mas ainda, é dentro desse
mesmo quadro que a subversão é igualmente necessária. Isso é assim
apesar do equívoco, da contradição implicados.
A imagem da referência a si próprio do Terceiro Mundo é igualmente
equivocada, pois ela só constitui uma unidade do ponto de vista do
conjunto do qual ele é um terço, ou seja, do fato da intervenção em seu
âmago efetuada pelos outros dois terços, e, portanto, como povo
colonizado. O Terceiro Mundo somente constitui um povo único
enquanto povo colonizado, e depois assumindo essa colonização. Esse
povo único hipotético, em formação, é ele próprio “provisório”, pois ele
deverá um dia se confundir com o povo planetário proposto pelos mitos
ocidentais – socialistas e capitalistas – e ao qual tentam nos compelir
diversas instituições supranacionais, nacionais e seus instrumentos,
técnicos, cientistas ou “religiosos”.
A farsa da comunidade única e infinita se depara com uma multiplicidade
de civilizações distintas e irredutíveis. Dentro do quadro desse mais
novo recém chegado, que é o Terceiro Mundo, as comunidades
expressivas de diversas civilizações somente podem partir de uma ideia
que lhes é estranha e contraditória, a de Terceiro Mundo. A fortiori, elas
só podem desconfiar dos “líderes” que pretendem, em nome desse
Terceiro, representá-las e governá-las. Nenhum deles merece crédito,
sejam eles de direita ou de esquerda, sejam um personagem ou
correspondam a um Estado ou grupo de Estados, ou ainda uma
instituição religiosa, bancária, militar, política, etc.
Se hoje nós nos defrontamos com algumas reflexões sobre
acontecimentos sobrevindos nas últimas décadas, parece claro que as
descolonizações, ou mesmo determinados regionalismos, não foram
senão uma forma de a estrutura colonial assumir ou se responsabilizar
pelo termo colonizado. Tal responsabilização privilegiou os traços
fundamentais da estrutura, a saber, a introdução constante de
necessidades e objetos novos; a criação de meios de controle e de
expulsão das próprias sociedades – escolas de um tipo “universal”,
polícias administrativas e militares, rotas, etc. A manutenção das
fronteiras coloniais que não levam em conta a homogeneidade dos
espaços humanos; o corte em pedaços das grandes unidades ou áreas
culturais, a ausência de apoio, ou a repressão diante das lutas que
visam ao restabelecimento dessas unidades, repressão executada com
a assistência das grandes potências socialistas, capitalistas ou
religiosas. Correlativamente, destaquemos a ausência de uma
sustentação eficaz, um silêncio freqüente ou uma incompreensão
“paternalista” para com as lutas identitárias, sejam elas de nativos,
africanos ou asiáticos.
O processo de responsabilização das estruturas coloniais pelos grupos
colonizados (ou aqueles de seus membros que foram os mais
rejeitados) contou em grande parte com a “mediação” internacional-
ocidental. Por mais generosa que parecesse essa atitude, ela não foi
menos estritamente integracionista em relação aos povos colonizados,
feridos, desintegracionistas. Somente essa desintegração fazia sentido,
somente ela instaurava esse Deus mediador e “externo”, do qual o
universo inteiro – terra, céu, homens e vento – reduzido agora ao estado
de meios, de objetos, é a vítima.
As populações de determinados países da América do Sul são em sua
maioria indígenas, e essas maiorias souberam preservar sua cultura, ou
seja, “a ordem” que rege as relações cotidianas. Essas relações têm
uma dimensão cósmica e infinitamente “humilde”. Elas compartilham as
atitudes e “o universo”, o ar respirado, a terra-mãe, o alimento, o jogo da
vida. Longe de ser mercado ou poder, essas relações são “amorosas”,
considerando a palavra no seu sentido mais amplo possível.
Ora, essas culturas não são de forma alguma donas de sua própria
sorte, pois são dominadas por minorias estrangeiras, minorias às quais
se misturam também índios que abandonaram suas comunidades.
Sabemos da devastação causada na Ásia pela “revolução” que se
instalou na esteira da antiga dominação colonial desde que ela
recuperou os valores, o sentido do “progresso”, e em breve, a mitologia
unitária. Sabemos dos povos assassinados no passado, submissos hoje,
obrigados a se desfazer de identidades milenares, pois sua qualidade
não podia ser medida em termos quantitativos. Ora, uma cultura não é
uma qualidade!
A identidade africana se estende do Leste ao Oeste, do sul do Saara ao
Cabo da Boa Esperança. Ela compreende um número muito pequeno de
grandes áreas culturais. Essas áreas foram divididas de acordo com um
eixo norte-sul em um grande número de pequenos pedaços, e o defeito
deles não é o de serem muito pequenos. Alguns sofrem pela sua
heterogeneidade. De fato, eles agrupam povos ou “parcelas” de povos
muito distintos e pouco propensos, devido ao risco de desaparecerem
culturalmente, a se identificarem.
A artificialidade desses Estados implica e implicará dilacerações internas
e entre eles, estruturas por definição estrangeiras e de poder, e em
breve uma dependência sob a égide desse mundo totalitário, mítico e
pesado, do qual eles são o terço, assim como nós somos, mais ou
menos da mesma maneira, os outros terços, às vezes à direita, às vezes
à esquerda.
III – Por um etnodesenvolvimento
A esse desenvolvimento “abstrato” do Terceiro Mundo, que não é senão
outra forma de etnocídio colonial e imperial, nós opomos o
reconhecimento do pluralismo das evoluções dos etnos: o
etnodesenvolvimento.
O desenvolvimento é uma função, e como tal, se refere a um conjunto,
um “ser”, aqui humano, coletivo, civilizacional. Esse ser não saberia ser
uma estrita abstração, uma profissão de fé, uma “ideologia”, um
fantasma.
O desenvolvimento “em si” é desprovido de sentido ou de finalidade
humana, pelo menos em termos de civilização. E o etnodesenvolvimento
é então objeto de discussão no âmbito desse desenvolvimento em si.
Essa discussão tende a substituir um desenvolvimento não definido ou
definido negativamente por um desenvolvimento definido de modo
positivo, por um lado. Por outro lado, o etnodesenvolvimento lembra que
o desenvolvimento de uma comunidade, de uma etnia, é sua própria
vida, que essa vida é “reflexiva”, se refere a si mesma, e que os juízos
que emanam do exterior devem dizer respeito à aliança, à
compatibilidade, e não ao contraditório, à negação.
O etnodesenvolvimento designa o desenvolvimento de uma etnia e não
pode ser outra coisa senão a própria existência dessa etnia. Uma etnia
só pode ser o fruto de uma relação em outro lugar, decidida por esse
outro lugar, e ela não pode se referir a um universo oculto, ou um não-
universo. O etnodesenvolvimento é a relação de uma etnia com ela
mesma, e é a dinâmica de sua existência. Nesse sentido, ele tem
também por objetivo a rejeição do que lhe é contraditório, a rejeição do
que engendra a sua não-existência, sua “dissolução”.
Falar de desenvolvimento endógeno é ainda falar de uma função com
um acréscimo, uma precisão, a saber, dizer que essa função remete a
um dado conjunto. Existe aí uma trivialidade, ou antes uma recusa da
contradição evocada, uma vez que é difícil imaginar uma função que não
se refira a um determinado conjunto. Abordar o desenvolvimento é
abordar o desenvolvimento de qualquer coisa, o qual é por construção
endógeno para essa “coisa”. O desenvolvimento exógeno seria
expressivo de um desenvolvimento onde a função e “seu” universo de
referência seriam separados um do outro. Aí existe uma dificuldade, ou
um absurdo. Entretanto, é esse “absurdo” que define implicitamente o
uso da palavra desenvolvimento, entendido como “desenvolvimento em
si”. Tudo se passa, então, como se o desenvolvimento dissesse respeito
inicialmente a um não-universo de referência. Implicitamente, se não
explicitamente, achou-se necessário fazer uma retificação. Uma primeira
correção consiste em lembrar que o desenvolvimento deve ser de
alguma coisa: endógeno. O acréscimo de uma qualificação não modifica
a situação anterior a fortiori, na medida em que tal qualificação é
tautológica. De fato, o desenvolvimento endógeno de “qualquer coisa”
poderia, pelo menos em termos civilizacionais, evocar uma
multiplicidade de universos, de civilizações, tanto quanto um não-
universo, ou seja, um movimento unitário em direção à morte. O
acréscimo de “endógeno” implicaria apenas assimilar o conjunto de
referências a um conjunto de estratégias e de “ferramentas” de
desenvolvimento, esse não–universo e/ou a parte de não-universo a que
todos teriam direito. Pode-se considerar que a integração, a
transformação de um determinado universo civilizacional em um não-
universo “civilizacional” é função do conjunto de partida tanto quanto de
chegada, a parte de cada um dentro do quadro desse desenvolvimento
sendo específica e endógena.
O problema é, pois, saber quem pode estar no início e durante o
caminho. Na chegada não há mais ninguém, pelo menos que seja
reconhecível. As instâncias existentes no quadro das instituições
internacionais que “compartilhavam” o desenvolvimento desse universo
sem nome são os Estados-nações. Vale enfatizar que esse universo é
nominalmente um não-universo. E pensar que se trata do universo do
desenvolvimento ou do progresso, da economia, da técnica, etc., não
leva a nada.
Quando se afirma que o desenvolvimento deve ser o dos Estados-
nações, essa afirmação emana em geral dos funcionários ou estritos
representantes desse Estado-nação, e se dirige a eles mesmos e/ou às
assembleias que os reúnem. Porém, é preciso definir Estado-nação.
A afirmação de que o Estado-nação seria “representado” por seus
funcionários não é satisfatória, mesmo que o seja para a “prática”
autoritária. Evidentemente, longe de se referir aos povos “contidos”
dentro desse Estado-nação, o desenvolvimento é nesse caso o do
“universo” dos funcionários do Estado-nação e das instituições que os
reúnem; o desenvolvimento é o do universo do desenvolvimento.
Especificar que se trata de um desenvolvimento endógeno pode no
máximo fazer referência aos “subconjuntos” ou Estados-membros desse
conjunto. Essa referência lembra eventualmente a especificidade de
cada um dos Estados-nações em relação ao movimento que parte de
uma determinada situação plural – as civilizações de partida – para uma
situação correspondente a esse universo do desenvolvimento; universo
definido de modo negativo, e, portanto, totalitário.
Abordar esses Estados como subconjuntos desse universo do
desenvolvimento não significa que eles se complementem mutuamente.
A história de suas relações deixa margem para dúvida. Se não for por
referência a um não-universo de chegada, a sua reunião constitui um
universo que não pode ser definido de modo positivo. O
desenvolvimento “endógeno” de cada Estado-nação pode não ser senão
uma fração de um “desenvolvimento” orientado para a instauração de
um não-universo. Por não-universo é preciso entender um universo
orientado para o não-ser do “ser” civilizacional do universo. “O ser” do
universo é aquele que diz respeito aos “homens”, pois o discurso e os
atos relativos ao desenvolvimento emanam deles, e trata-se, pois, de um
ser civilizacional, de um universo civilizacional. De que outra identidade
poderia se tratar, a não ser o negativo dessa?
O não-universo (nominal) do desenvolvimento é por definição unitário,
pois ele não possui denominação, não pode ser descrito de modo
diferencial, e, portanto, plural. Esse não-universo não sendo plural, a
referência aos Estados-nações só modifica “no caminho” o seu caráter
unitário. De fato, esse caminho tem por destino, por finalidade, uma
“ideologia” comum, internacional, ideologia à qual as instituições estão
associadas. Pouco importa que essa ideologia e essas instituições
sejam fantasmas. Isso é assim , na medida em que elas têm por “valor”
um não-universo.
O uso do termo endógeno é somente um modo discreto de dizer que as
instituições internacionais são compostas de partes não diferentes, mas
diversas. Essas partes seriam reconhecidas como distintas (teriam
direito à diferença e, portanto, à identidade), se se apelasse a um termo
que não deixasse margem a nenhum equívoco.
O mundo indígena é amplamente abrangido não somente porque ainda
existem diversas etnias, mas porque ele não está representado no
âmbito das instituições internacionais (o que de resto remete à natureza
dessas instituições). Esses povos têm como “lugar jurídico” o quadro dos
Estados-nações, o qual lhes é estranho. Os sistemas de cultura desses
Estados-nações têm origem indígena, tal como seus representantes. As
conclusões da reunião da Costa Rica fornecem um testemunho da
importância e da solidez dos conceitos que foram sua razão de ser, e,
no entanto, essas conclusões não obtiveram, a não ser dentro do mundo
indígena, o reconhecimento merecido. Pelo contrário, parece que está
se afirmando um movimento cujo projeto é riscar do vocabulário
admitido, pelo menos dentro do quadro estritamente institucional, o
conceito de etnodesenvolvimento. O projeto teria como objetivo
substituir esse termo ou manter o termo “desenvolvimento endógeno”.
Os milênios testemunham a existência do homem através das
comunidades, e cada comunidade tem um aspecto que lhe é particular.
Cada rosto pode ser semelhante ao de outra comunidade, pois elas
pertencem a uma mesma área cultural, mas é radicalmente distinto no
caso contrário. Uma “comunidade” corresponde à unidade de existência
ou ao “campo de aplicação de um modelo abstrato”, o qual é sua
“estrutura”. Esse modelo tem um tempo e um espaço naturalmente
distintos daqueles de cada uma de suas aplicações, e não é uma
“essência”, pois somente essas “aplicações” o engendram, assumem,
inventam. Da mesma forma, qualquer comunidade se reflete em cada
uma de suas partes, em cada um de seus membros ou representantes,
e reciprocamente cada uma das pessoas em questão reflete a seu modo
o conjunto dentro do qual ela se encontra - a comunidade e seu modelo
– a fim de assumi-lo, reinventá-lo. Essa invenção não é jamais uma
atividade “solitária”. Ela coloca em movimento o corpo coletivo. O
indivíduo não se basta por si só. O seu “ser dentro do mundo” tem por
medida e por ordem o ser do mundo. Essa medida e essa ordem não
são a dissolução no mundo, sem o qual esse ser individual – qualquer
que seja a “espécie” a qual ele esteja vinculado ou sua cultura – não
existiria. E em nosso nível, o nível humano, o mundo não poderia ser
concebido. Portanto, o indivíduo só existe por referência a um “mundo
maior”, o qual é definido, limitado, mesmo quando ele não for e não
possa ser fechado sobre si mesmo. De fato, a sua existência se baseia
em um postulado de compatibilidade com o “resto” do universo.
O corpo coletivo no qual o corpo individual toma lugar, ou antes, com o
qual esse último caminha não é evidentemente uma prisão. Não há falar
em ficar sob a responsabilidade de, ser assumido por. Essa última
função – a qual vamos chamar de “iniciática”, embora pudesse ter outros
nomes – é uma das que regem a existência do corpo coletivo, mas não
fica limitada a ele. Ela reúne ao mesmo tempo aquilo em que o corpo
coletivo está “contido” e o que ele contém.
Aquilo em que ele está contido é o seu modelo de referência, esse
modelo da ordem cósmica, pois ele é o ser dentro do mundo, “o ser-o-
mundo” desse corpo coletivo. E aquilo que ele contém são suas diversas
partes, partes das quais o indivíduo é a menor unidade de expressão.
Essa “unidade” exprime esse corpo na medida em que ela o reflete,
assume o seu sentido, sua complexidade.
A “natureza” humana é esse ser-o-mundo cuja unidade pertinente é um
corpo coletivo, corpo onde o cosmos se inscreve no indivíduo, corpo
onde o indivíduo tem dimensão cósmica. Tal natureza tem por nome
cultura, e essa, obviamente, é um universo plural.
Esse corpo coletivo (e cósmico) tem tamanho limitado, e a medida desse
tamanho é consistente com a do corpo individual vivo, ou seja, do
conjunto constituído pelas relações “imediatas” que o corpo pode manter
com os outros. “O imediatismo” dessas relações significa simplesmente
que elas têm como finalidade, como “ser”, a determinação de um
universo comum, a existência desse corpo coletivo.
Assim, essas relações devem ser reflexivas, ou de “partilha”, e essa
partilha instaura o universo que é compartilhado. Esse universo será
assumido, inventado, construído, a fim de ser “dado”. O que será
inicialmente compartilhado é o modelo abstrato de referência que o torna
orgânico. Esse modelo não está jamais “congelado”, mesmo quando ele
é capaz de se repetir, renascer sem cessar de modo idêntico; desejar
congelá-lo é remetê-lo a mãos policiais. Ele vem substituir um cosmos-
fantasma, um cosmos-mídia, um fantasma de cosmos, “determinado” de
modo mórbido por um cosmos dentro do qual nós nos sentimos
incluídos, e é porque nós o incluímos assim, que estamos incluídos.
Dizer desse “cosmos” que ele é um corpo coletivo que pode ser medido
pelo conjunto das relações cotidianas e de partilha que um indivíduo
mantém ou pode manter é evidentemente atribuir à noção de cultura
uma definição “multifuncional”, ou seja, “estrutural”. Insistir no caráter
“cotidiano” dessas funções remete às atividades de produção e de
consumo de alimentos, de partilha e de planejamento do espaço, para
qualquer fim, e em particular às atividades da ordem “residencial”, ao
jogo dos casamentos, bem como àquele que rege as relações entre os
sexos e as idades. Se a partir de um determinado indivíduo nós
tentarmos determinar a “rede” dessas relações, veremos que na maioria
dos casos, incluído aí o sistema “ocidental”, 80% de seu tempo
transcorre dentro de um grupo que compreende 20 a 200 pessoas.
No “sistema” tradicional, esse grupo constitui o essencial de uma
unidade de existência, ou seja, ele é suficiente para cumprir 80% ou
mais dos atos que permitem a produção e a reprodução da vida, ou seja,
do corpo coletivo em questão. Os 20% - de 0 a 20% - não tomados em
consideração exprimem o fato de que esse grupo não está jamais
congelado ou fechado sobre si mesmo. Os 80% evocados significam
que esse grupo assume e/ou produz o “modelo” que lhe corresponde e
poderia, no limite, lhe bastar completamente.
Dizer que esse modelo é assumido e produzido pela comunidade em
questão não é afirmar que ele foi inteiramente concebido em seu seio.
Pouco importa se alguns de seus elementos têm origem “externa”. O
essencial é que eles estejam no seu lugar certo, em função da
“totalidade”, ou seja, em razão do que faz “sentido”, “estrutura”. Pouco
importa também se os elementos em questão são sofisticados a ponto
de estarem relacionados a “especialistas” e/ou estrangeiros -
“ferramentas”, instrumentos, técnicas particulares – o essencial está no
seu grau de importância, no quadro da comunidade onde ele se insere,
e o coeficiente de liberdade da comunidade em relação a ele. A regra,
obviamente, é que eles não devem de modo algum se situar no nível da
estrutura social – do modelo cultural. O seu papel é somente de
concorrer para a existência dessa estrutura. A ordem das “funções”,
sejam elas técnicas, econômicas, etc, deve ser sempre submetida à
“ordem” total – aquela da qual cada uma dessas funções é um elo - e
esse elo tem por campo uma comunidade. Essa totalidade não se reduz
nunca a uma pedra angular, ela é complexidade.
You might also like
- A Noção de Cultura Nas Ciencias Sociais. ResumoDocument20 pagesA Noção de Cultura Nas Ciencias Sociais. ResumoJamilsil100% (1)
- Resumo Ideologia e Industria CulturalDocument3 pagesResumo Ideologia e Industria CulturalVitor XistoNo ratings yet
- SAHLINS, Marshal.O "Pessimismo Sentimental" e A Experiência Etnográfica: Por Que A Cultura Não É Um "Objeto" em Via de Extinção (Parte I)Document33 pagesSAHLINS, Marshal.O "Pessimismo Sentimental" e A Experiência Etnográfica: Por Que A Cultura Não É Um "Objeto" em Via de Extinção (Parte I)Vinícius MauricioNo ratings yet
- Cultura e DemocraciaDocument3 pagesCultura e DemocraciaDaniel RubioNo ratings yet
- Formas e Mecanismos de Exclusão Social (Antônio Teixeira Fernandes)Document0 pagesFormas e Mecanismos de Exclusão Social (Antônio Teixeira Fernandes)wesulissesNo ratings yet
- Cultura e Democracia-Marilena ChauíDocument18 pagesCultura e Democracia-Marilena Chauímilca.silvalourencoNo ratings yet
- Terry Eagleton - A Ideia de CulturaDocument5 pagesTerry Eagleton - A Ideia de CulturaMaristela Rosso WalkerNo ratings yet
- Resumo Estudos Sobre CulturaDocument7 pagesResumo Estudos Sobre Culturatayna albuquerqueNo ratings yet
- Cultura e AlienaçãoDocument15 pagesCultura e AlienaçãoDaniela FiallosNo ratings yet
- Terry Eagleton - A Ideia de Cultutra PDFDocument5 pagesTerry Eagleton - A Ideia de Cultutra PDFaririmendes100% (1)
- Teoria e PráticaDocument5 pagesTeoria e PráticaLucasNo ratings yet
- ADORNO Pseudocultura Trad AngelicaDocument21 pagesADORNO Pseudocultura Trad AngelicaAlberto MagalhaesNo ratings yet
- Herança Cultural e TradiçõesDocument14 pagesHerança Cultural e Tradiçõesrenata silvafNo ratings yet
- Resumo Cultura e Ideologia TomaziDocument5 pagesResumo Cultura e Ideologia TomazijfilhoNo ratings yet
- Cecília CoimbraDocument6 pagesCecília Coimbraroberto pintoNo ratings yet
- Fichamento Arqueologia Da ViolênciaDocument4 pagesFichamento Arqueologia Da ViolênciaDaphiny SodréNo ratings yet
- Elementos Da Tipologia Espiritual - Olavo de CarvalhoDocument77 pagesElementos Da Tipologia Espiritual - Olavo de CarvalhoLucas SilvaNo ratings yet
- 11 As Minorias e o MulticulturalismoDocument11 pages11 As Minorias e o Multiculturalismojose mangoniNo ratings yet
- Resumo HierarquiasDocument6 pagesResumo Hierarquiascubic_medusaNo ratings yet
- Racismo e CulturaDocument11 pagesRacismo e CulturaJesus RochaNo ratings yet
- Kabengele-Munanga - Algumas Considerações Sobre 'Raça', Ação Afirmativa e Identidade Negra No Brasil Fundamentos AntropologicosDocument12 pagesKabengele-Munanga - Algumas Considerações Sobre 'Raça', Ação Afirmativa e Identidade Negra No Brasil Fundamentos AntropologicoswandersonnNo ratings yet
- A Ecologia É o Ópio Do PovoDocument3 pagesA Ecologia É o Ópio Do Povoangelo_campos_31No ratings yet
- Estratificação CLASSES - SOCIAISDocument50 pagesEstratificação CLASSES - SOCIAISHermes TrismegistusNo ratings yet
- 04 Patriot ADocument6 pages04 Patriot AJessi SummerNo ratings yet
- Racismo Estrutural: Uma perspectiva histórico-críticaFrom EverandRacismo Estrutural: Uma perspectiva histórico-críticaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- BRUCCULERI, Ângelo - Doutrina Social Católica, A Involução Da CivilizaçãoDocument77 pagesBRUCCULERI, Ângelo - Doutrina Social Católica, A Involução Da CivilizaçãoMatheus de Andrade100% (1)
- Aníbal QuijanoDocument4 pagesAníbal QuijanoRaíssa XavierNo ratings yet
- Segunda Parte - Racismo e CulturaDocument11 pagesSegunda Parte - Racismo e Culturaandre.jaccoud2No ratings yet
- Multiculturalismo e Descolonização de Saberes - Carolina Lima e Luciana DiasDocument17 pagesMulticulturalismo e Descolonização de Saberes - Carolina Lima e Luciana DiasCarolina LimaNo ratings yet
- Civilização Do OprimidoDocument7 pagesCivilização Do Oprimidogerman.taronNo ratings yet
- A Crise Da Cultura e o LiberalismoDocument3 pagesA Crise Da Cultura e o LiberalismogersunespNo ratings yet
- Cultura É Uma Preocupação ContemporâneaDocument6 pagesCultura É Uma Preocupação ContemporâneaJuliano Antonio BortolomediNo ratings yet
- Santos, Pela Mão de AliceDocument9 pagesSantos, Pela Mão de AliceMaruana Kássia Tischer SeraglioNo ratings yet
- A Natureza Sociológica da Diferença: Meta-Alteridade, Medo e Preconceito nas cidadesFrom EverandA Natureza Sociológica da Diferença: Meta-Alteridade, Medo e Preconceito nas cidadesNo ratings yet
- WALSH. Interculturalidade e DescolonialidadeDocument18 pagesWALSH. Interculturalidade e DescolonialidadeLuiz Henrique Queriquelli100% (2)
- Resenha Do Livro A Cultura Do Dinheiro de Fredric JamesonDocument5 pagesResenha Do Livro A Cultura Do Dinheiro de Fredric JamesonLuciano Alex MachadoNo ratings yet
- Etnocentrismo e Relativismo Cultural PDFDocument10 pagesEtnocentrismo e Relativismo Cultural PDFMario YeeNo ratings yet
- Trabalho FinalDocument15 pagesTrabalho FinalJuliana YoussefNo ratings yet
- Resenha - O Que É CulturaDocument7 pagesResenha - O Que É CulturaSamuel MunizNo ratings yet
- Cap-7-Cidadania e Controle SocialDocument44 pagesCap-7-Cidadania e Controle SocialThiago DuarteNo ratings yet
- Atividade 02 - Globalização - Filipe Bento - 12010096Document6 pagesAtividade 02 - Globalização - Filipe Bento - 12010096Filipe Bento SampaioNo ratings yet
- Artigo CERTEAU, Michel. Cotidiano, Cultura, Alteridade e A CriaçãoDocument19 pagesArtigo CERTEAU, Michel. Cotidiano, Cultura, Alteridade e A CriaçãoConrado de ChecchiNo ratings yet
- Fanon RacismoeculturaDocument10 pagesFanon RacismoeculturaDanielle Yumi SuguiamaNo ratings yet
- Alternativas sistêmicas: Bem Viver, decrescimento, comuns, ecofeminismo, direitos da Mãe Terra e desglobalizaçãoFrom EverandAlternativas sistêmicas: Bem Viver, decrescimento, comuns, ecofeminismo, direitos da Mãe Terra e desglobalizaçãoRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- 06 - Fraser - Da Redistribuição Ao Reconhecimento. Dilemas Da Justiça Numa Era 'Pós-Socialista'Document9 pages06 - Fraser - Da Redistribuição Ao Reconhecimento. Dilemas Da Justiça Numa Era 'Pós-Socialista'Marianna AkermanNo ratings yet
- Boaventura - para Uma Concepção Intercultural Dos Direitos HumanosDocument4 pagesBoaventura - para Uma Concepção Intercultural Dos Direitos HumanosalexcanalfreitasNo ratings yet
- Estado e Cultura Políticas de Identidade e Relações EconômicasDocument12 pagesEstado e Cultura Políticas de Identidade e Relações EconômicasAna Cleia Ferreira RosaNo ratings yet
- Atividade 01 - Fund Antropológicos Da Educação.Document5 pagesAtividade 01 - Fund Antropológicos Da Educação.João DouglasNo ratings yet
- Rouanet - Mal Estar 3 e 4Document90 pagesRouanet - Mal Estar 3 e 4Sergio GiannaNo ratings yet
- Neoliberalismo e educação no Brasil: o impacto da filosofia neoliberal sobre a educação superior pública, no período de 1993 a 2000From EverandNeoliberalismo e educação no Brasil: o impacto da filosofia neoliberal sobre a educação superior pública, no período de 1993 a 2000No ratings yet
- Contrarreformas ou revolução: respostas ao capitalismo em criseFrom EverandContrarreformas ou revolução: respostas ao capitalismo em criseNo ratings yet
- O indivíduo abstrato: Subjetividade e estranhamento em MarxFrom EverandO indivíduo abstrato: Subjetividade e estranhamento em MarxNo ratings yet
- Esfarrapados: Como o elitismo histórico-cultural moldou as desigualdades no BrasilFrom EverandEsfarrapados: Como o elitismo histórico-cultural moldou as desigualdades no BrasilNo ratings yet
- Andre - Rogerio - Tarcisio - Biopolitica e Racismo de Estado em Michel Foucault - ArtigoDocument11 pagesAndre - Rogerio - Tarcisio - Biopolitica e Racismo de Estado em Michel Foucault - Artigogjcorreia7368No ratings yet
- Protecao Genocidio Yanomami Haximu PDFDocument34 pagesProtecao Genocidio Yanomami Haximu PDFgjcorreia7368No ratings yet
- Postscriptum Sobre As Sociedades de ControleDocument5 pagesPostscriptum Sobre As Sociedades de ControleNoéliRammeNo ratings yet
- Mussolini Roman I DadeDocument22 pagesMussolini Roman I DadeAdriane SchroederNo ratings yet
- Declaração de Princípios Sobre A Tolerância - UnescoDocument19 pagesDeclaração de Princípios Sobre A Tolerância - UnescoVini SantosNo ratings yet
- O Crime de Genocídio No Estatuto de RomaDocument17 pagesO Crime de Genocídio No Estatuto de Romagjcorreia7368No ratings yet
- Acao - Promessa de Emprego - TrabalhoDocument8 pagesAcao - Promessa de Emprego - Trabalhogjcorreia7368No ratings yet
- Nietzsche Foucault Os Corpos PDFDocument36 pagesNietzsche Foucault Os Corpos PDFgjcorreia7368No ratings yet
- A Teoria Das Elites Como Uma Ideologia para Perpetua Ço No GDocument12 pagesA Teoria Das Elites Como Uma Ideologia para Perpetua Ço No GVitor OgiboskiNo ratings yet
- Artigo 1984 e Etnocidio - Versao Pronta - Mais AtualizadoDocument48 pagesArtigo 1984 e Etnocidio - Versao Pronta - Mais Atualizadogjcorreia7368No ratings yet
- Direitos Fundamentais No Islamismo - ArtigoDocument14 pagesDireitos Fundamentais No Islamismo - Artigogjcorreia7368No ratings yet
- 2011 MarianadeMattosRubianoDocument132 pages2011 MarianadeMattosRubianoJúlia SilveiraNo ratings yet
- 1984 e Etnocidio - Versao Original - CorrigidoDocument43 pages1984 e Etnocidio - Versao Original - Corrigidogjcorreia7368No ratings yet
- Gobernando A Traves Del DelitoDocument18 pagesGobernando A Traves Del DelitoRenzo EspinozaNo ratings yet
- Tempestade Global Da Lei e Da Ordem - WacquantDocument15 pagesTempestade Global Da Lei e Da Ordem - Wacquantgjcorreia7368No ratings yet
- BOBBIO, Norberto. Direito e Estado No Pens Amen To de Emanuel KantDocument134 pagesBOBBIO, Norberto. Direito e Estado No Pens Amen To de Emanuel KantNunes AndressaNo ratings yet
- Extermínio Cultural Como Violação de Direitos Humanos - Etnocídio.Document226 pagesExtermínio Cultural Como Violação de Direitos Humanos - Etnocídio.gjcorreia7368No ratings yet
- Direito Penal Humano Ou Inumano - ZaffaroniDocument21 pagesDireito Penal Humano Ou Inumano - Zaffaronigjcorreia7368No ratings yet
- Artigo HayekDocument11 pagesArtigo Hayekgjcorreia7368No ratings yet
- Theodor Adorno - Introdução À "A Personalidade Autoritária"Document8 pagesTheodor Adorno - Introdução À "A Personalidade Autoritária"Dalvan LinsNo ratings yet
- Crimes Contra A Humanidade e Justica Anamnetica - Artigo AtualizadoDocument9 pagesCrimes Contra A Humanidade e Justica Anamnetica - Artigo Atualizadogjcorreia7368No ratings yet
- Trabalho Marx VygotskiDocument11 pagesTrabalho Marx Vygotskigjcorreia7368No ratings yet
- Nietzsche - Sobre Verdade e Mentira PDFDocument90 pagesNietzsche - Sobre Verdade e Mentira PDFgjcorreia7368No ratings yet
- O Conceito de Poder em Ibn Khaldun - para Univ Maringá em PDFDocument15 pagesO Conceito de Poder em Ibn Khaldun - para Univ Maringá em PDFBeatriz BissioNo ratings yet
- A Teoria Da Constituição em Carl SchmittDocument18 pagesA Teoria Da Constituição em Carl SchmittEvandro AlencarNo ratings yet
- Max Stirner - O Único E Sua PropriedadeDocument330 pagesMax Stirner - O Único E Sua PropriedadeGus Pradell75% (4)
- 30 60 1 SMDocument7 pages30 60 1 SMJanilson GomesNo ratings yet
- Franz Hinkelammert e o Projeto Etico de Henrique DusselDocument26 pagesFranz Hinkelammert e o Projeto Etico de Henrique Dusselgjcorreia7368No ratings yet
- Castigos e Punicoes - Pensamentos LibertariosDocument23 pagesCastigos e Punicoes - Pensamentos Libertariosgjcorreia7368No ratings yet
- Nietzsche e o Diagnóstico de Decadência para A Alemanha Do Século XIXDocument17 pagesNietzsche e o Diagnóstico de Decadência para A Alemanha Do Século XIXgjcorreia7368No ratings yet
- Anotações - Os Segredos Da Mente MilionáriaDocument23 pagesAnotações - Os Segredos Da Mente MilionáriaTrader CoutinhoNo ratings yet
- Filosofia 1 Ano Medio Planejamento Bimestral WWW - LeonardoportalDocument4 pagesFilosofia 1 Ano Medio Planejamento Bimestral WWW - LeonardoportalWilliam Wanderley100% (1)
- HAUSER, A. História Social Da Literatura e Da Arte, 1Document1 pageHAUSER, A. História Social Da Literatura e Da Arte, 1Nicole DiasNo ratings yet
- Universo Do Futebol - Roberto DaMatta PDFDocument118 pagesUniverso Do Futebol - Roberto DaMatta PDFSarah Teixeira S. Mayor100% (1)
- Livro Redescobrindo o Reino - CompletoDocument158 pagesLivro Redescobrindo o Reino - Completojosemar soares100% (8)
- Etica Direitos HumanosDocument215 pagesEtica Direitos HumanosAlexandre MarquesNo ratings yet
- Caderno de Protagonismo 7 ANO WPM PDFDocument63 pagesCaderno de Protagonismo 7 ANO WPM PDFApache LokoNo ratings yet
- Apostila Filosofia 2 Ano SemDocument39 pagesApostila Filosofia 2 Ano SemVictor Gabriel Rodrigues100% (1)
- Maria de Lourdes Viana Lyra - A Utopia Do Poderoso Império - CompletoDocument129 pagesMaria de Lourdes Viana Lyra - A Utopia Do Poderoso Império - CompletoMurillo Dias Winter100% (1)
- A PropriedadeDocument285 pagesA PropriedadefranciscohayashiNo ratings yet
- A Boa Vontade - Pe Jose Schrijvers PDFDocument49 pagesA Boa Vontade - Pe Jose Schrijvers PDFbaguedesNo ratings yet
- Curso de Alta Magia Octariana - Módulo 02Document166 pagesCurso de Alta Magia Octariana - Módulo 02Lucas FiscalNo ratings yet
- Livro o Sentimento É o Segredo - Neville Goddard (1) ...Document19 pagesLivro o Sentimento É o Segredo - Neville Goddard (1) ...Fred Belota100% (6)
- Apetite Pelo Alimento Do CéuDocument9 pagesApetite Pelo Alimento Do CéuRobinson Ferrari BarbosaNo ratings yet
- As 4 Nobre Verdades e o Caminho OctópuloDocument24 pagesAs 4 Nobre Verdades e o Caminho OctópuloPedro HenriqueNo ratings yet
- Fiorin (1988) - O Regime de 1964Document159 pagesFiorin (1988) - O Regime de 1964yvantelmack67% (3)
- Projeto de Doutorado - UfbaDocument12 pagesProjeto de Doutorado - UfbaJoão Batista Farias JuniorNo ratings yet
- Relações Interpessoais e Constituição de SiDocument23 pagesRelações Interpessoais e Constituição de SiRe LivrosNo ratings yet
- Aspectos Éticos e Jurídico-Penais Da Relação Médico-PacienteDocument40 pagesAspectos Éticos e Jurídico-Penais Da Relação Médico-PacienteLiz SouzaNo ratings yet
- 101 Frases de Grandes Pensadoras Inspiracoes Cientificas 1 Katia Socorro BertolaziDocument37 pages101 Frases de Grandes Pensadoras Inspiracoes Cientificas 1 Katia Socorro BertolaziEDINILSON SALATESKINo ratings yet
- A Vontade de Sentido - Viktor FranklDocument111 pagesA Vontade de Sentido - Viktor FranklClaudyvan Silva100% (1)
- O Pensamento Politico de LockeDocument7 pagesO Pensamento Politico de LockeLuria VallasNo ratings yet
- Macho Alfa MMB2Document156 pagesMacho Alfa MMB2Emmanuel De Oliveira CortêsNo ratings yet
- Artigo - A Educação para A Autonomia em Paulo FreireDocument12 pagesArtigo - A Educação para A Autonomia em Paulo Freirefelipe freitas tellesNo ratings yet
- Saresp 2003 GabaritoDocument10 pagesSaresp 2003 GabaritoThais F. G. Rocha Cunha0% (1)
- FichamentojuizoDocument3 pagesFichamentojuizohizadora borges de moura andradeNo ratings yet
- Apostila Escola de Diamantes ProntaDocument54 pagesApostila Escola de Diamantes Prontajoseandrade2013No ratings yet
- Guia para Trabalhar Os PassosDocument120 pagesGuia para Trabalhar Os PassosJoao Paulo Calil De Assis100% (2)
- CadernodeProva 2Document64 pagesCadernodeProva 2Gabriella RodriguesNo ratings yet
- Direitos Humanos: Sociologia Vitor Gabriel Alves CardosoDocument2 pagesDireitos Humanos: Sociologia Vitor Gabriel Alves CardosoFrança ' (Shizuki)No ratings yet