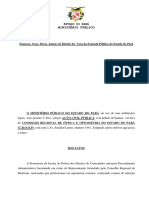Professional Documents
Culture Documents
Rodrigues 2006
Uploaded by
Camilla CaetanoCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Rodrigues 2006
Uploaded by
Camilla CaetanoCopyright:
Available Formats
Rodrigues, J.C. Razes do risco e riscos da razo. In: Comunicao e significado - escritos indisciplinares. Rio de Janeiro: Ed.
PUC-Rio/Mauad X, 2006, p. 141-175.
Razes do risco e riscos da razo
Acabei compreendendo que a gente morria porque teve um acidente, que de qualquer modo a morte era acidental e que prestando ateno em no ficar doente, tendo juzo, usando cachecol, tomando remdios, tomando cuidado com os veculos, a gente no morreria nunca. Eugne Ionesco
Por que razo pessoas tidas como esclarecidas com muita freqncia adotam comportamentos que representam risco para a sua sade e mesmo para a prpria vida? Como explicar que, apesar de todas as campanhas que se pretendem educativas e que enfatizam a possvel letalidade de vrias prticas, indivduos possuidores de informaes no raramente requintadas e detalhadas sobre os perigos de alguns de seus comportamentos, ainda assim no se eximam de os cometer? Pensemos, a propsito, em pessoas com elevada escolaridade, a respeito das quais no se pode falar de ignorncia. Direcionemos nossa ateno, particularmente, para mdicos que so tambm tabagistas. O que os levaria a esta condio? E principalmente: o que os manteria nela? Como entender que, a despeito dos recursos incomensurveis que nos Estados Unidos e na Europa so destinados a alertar os cidados contra os riscos respectivos, o consumo de drogas no pare de crescer, as recadas continuem freqentes, os acidentes de trnsito no mostrem redues animadoras, o uso de preservativos no receba adeso satisfatria? Como absorver intelectualmente o fato de que h bem poucos anos, na Inglaterra, tenha obtido razovel sucesso mercadolgico uma marca de cigarros e toda uma linha de produtos conexos (isqueiros, cinzeiros, camisetas...), cujo nome era nada mais nada menos que Death (morte)?
No Brasil, na mesma linha de deboche em relao ao perigo, alguns fumantes passaram a escolher os maos de cigarro a partir das fotografias aterrorizantes que as autoridades pblicas decidiram tornar obrigatrio que figurassem nos mesmos. Como entender que tais acontecimentos tenham lugar? Como interpretar que no raramente pessoas muito mais que do bem informadas assumam riscos mltiplos, acumulando uma pluralidade de fatores - por exemplo, dirigindo em alta velocidade aps consumo de lcool, relacionando-se sexualmente sem preservativos, tendo parceiros diversificados e consumindo drogas injetveis? No seria perfeitamente lgico esperar de seres racionais que se comportassem racionalmente, isto , que maximizassem a vida, minimizando as chances de perecer? Ou, ao contrrio, haveria algo de insuficiente, quem sabe mesmo de equivocado, neste postulado que predefine o homem como sendo essencialmente um ente racional? Quem sabe, mais do que como o ser dos clculos, dos encadeamentos de causas e conseqncias, das geometrias e das arquiteturas, seria preciso levar em conta que o ser humano seja tambm e talvez principalmente o dos mitos, o dos rituais, o da magia, o dos sonhos, o dos delrios, das orgias, das loucuras e dos transes? Essas interrogaes, como se sabe, vm se transformando em inquietaes. Vm incomodando e desafiando de modo cada vez mais freqente e dramtico um nmero sempre maior de autoridades pblicas, de pais e educadores, de psiclogos, de epidemiologistas, de profissionais das mais diversificadas especialidades do campo mdico. Tambm vm constituindo um problema dificlimo para os profissionais de comunicao social, particularmente para aqueles voltados para a rea da sade. As pginas que seguem constituem tentativa de uma pequena contribuio para o debate sobre essas indagaes e sobre este problema, encarando-os a partir de um prisma antropolgico. Trata-se de uma pequena e talvez inusual especulao acerca dos valores simblicos atribudos vida e sade valores que, como pretendo sustentar, so o que figura no mago destes questionamentos. * Comearei rememorando algumas experincias pessoais de investigao, de que tratei de modo mais superficial em outra oportunidade (Rodrigues 1982). Bem diversas entre si, nenhuma dessas experincias de pesquisa originalmente tematizou a questo do risco de modo explcito e direto. Por isso mesmo, exatamente por no terem tido o tema do risco no centro de si, imagino
que talvez possam vir a fornecer um material mais ou menos singular para a nossa reflexo, sugerindo facetas inusitadas do problema. Vamos primeira delas. Ainda no havia iniciado minha vida profissional como antroplogo, quando, mais ou menos pressionado por um de meus professores, precisei fazer um trabalho escolar sobre as condies dos meios de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Impressionava o professor e a mim tambm o fato de que essas fossem de tal maneira deplorveis, especialmente no transporte ferrovirio suburbano, que muitos passageiros se vissem obrigados a viajar pendurados na parte exterior dos trens. Na poca, este tipo de passageiro, hoje conhecido como surfista ferrovirio, recebia a designao singela de pingente. Foi com a mente repleta de hipteses sobre as duras e injustas condies de vida da maioria da populao carioca mas principalmente sobre as faltas e carncias que as materializavam nos meios de transporte que parti para o trabalho de pesquisa de campo. Minhas primeiras observaes confirmavam as teorias que havia aprendido nos livros e nas aulas: os trens estavam sem dvida apinhados de proletrios, contrastando com os privilegiados que se locomoviam em automveis particulares, e os pingentes existiam de fato. Tudo indicava que estes deveriam representar informantes estratgicos em uma pesquisa, baseada em mtodos qualitativos, sobre injustias sociais e deficincias dos transportes coletivos. Entretanto, logo de incio percebi que algumas observaes no se encaixavam nas minhas teorias preliminares. Em alguns horrios, sobretudo nos fins de semana, os trens no estavam lotados, mas havia pingentes. Tambm pude notar que em dias chuvosos, mesmo com trens abarrotados, praticamente no existiam pessoas penduradas no exterior dos mesmos. Em uma avaliao puramente impressionstica, nenhum parecia ter mais de 25 anos; nenhum, menos de 16. No existiam pingentes isolados: o fenmeno s acontecia em grupos. E ainda: havia tambm envolvida uma questo de gnero, pois, em um ambiente no propriamente caracterizado por preocupaes com cavalheirismo, por mais repletos que os trens estivessem, jamais consegui encontrar um pingente de sexo feminino. Os registros da empresa responsvel pelo transporte ferrovirio mostravam que algumas pessoas haviam sido detidas repetidas vezes por pingentismo, sugerindo que, ao menos para alguns, esta prtica fosse menos obrigatria do que voluntria. E este dado caa como verdadeira bomba atmica sobre minhas teorias de partida. Isto por um lado.
Por outro, situando-me em pontos estratgicos, dentro e fora dos trens, constatei tambm que os pingentes no se limitavam a viajar pendurados no exterior. Podia observar que os pingentes se entregavam a uma imensa teatralizao de sua condio: subiam no telhado das composies em alta velocidade, soltavam as mos, aproximavam-se o mais possvel de obstculos que oferecessem perigo (rede eltrica, postes, pontes, tneis, por exemplo), faziam cambalhotas, davam piruetas, plantavam bananeiras... Enfim, realizavam acrobacias quase circenses s quais no faltava uma esttica de exibio. Muitas vezes faziam isto dando gargalhadas e lanando gritos debochados ou jocosos para seus companheiros, para os demais passageiros ou para os transeuntes. Em sntese, enfrentando uma grande resistncia de minhas teorias prvias, com o tempo fui levantando uma nova hiptese: a de que ao menos parcialmente o pingentismo constitusse uma espcie de esporte, uma prtica ldica, repleta de sociabilidade. Com esta prtica, as pessoas se divertiam e se apropriavam simbolicamente de um espao pblico, nele introduzindo um toque de alteridade algo ostentatria e provocativa; dela retiravam prazer e por ela demonstravam habilidades pessoais mais ou menos como acontece hoje em dia com os grafiteiros-pichadores, que no temem correr riscos considerveis para atingir o prazer de deixar suas marcas, que so como assinaturas, nos pontos mais inacessveis das grandes cidades. Com um pouco de esforo era-me possvel naquela poca perseguir alguns dos pingentes nas estaes em que desembarcavam. Com bastante sorte, s vezes eu conseguia em um ponto de nibus ou balco de botequim iniciar uma conversa que, para efeitos escolares e obviamente influenciado pelos manuais de mtodos e tcnicas de pesquisa da poca, chamava meio pomposamente de entrevistas informais baseadas em questionrios no estruturados. Descobri, ento, com base nessas conversas, que os pingentes formavam uma extensa rede social e que esta, de certo modo, constitua uma hierarquia de prestgio: alguns pingentes eram muito conhecidos nos vrios subrbios cariocas e extremamente admirados por suas faanhas. Com o tempo, fui podendo compreender que o pingentismo continha em si, de uma s vez, todas as categorias de jogos que compem a classificao proposta por Roger Caillois (1967): era simultaneamente jogo de expresso (encenao, dramatizao e ritualizao), jogo de sorte (ou de azar), jogo de competio (envolvendo antagonismo, desafio, duelo, espelhamento de si nos
outros e vice-versa) e tambm jogo de vertigem (compreendendo xtase, iluso, seduo, fascnio...). Percebi particularmente que viajar pendurado no exterior dos trens representava uma espcie de competio, por meio da qual eram dramatizados valores importantes para as pessoas envolvidas: os espetculos de pingentismo se apresentavam mais ou menos como um torneio de malabarismos, para mim quase suicidas. Aos poucos fui compreendendo que por intermdio desta exposio extremada aos maiores perigos e aos riscos mais graves os pingentes afirmavam coragem e masculinidade. Uma ilustrao disso o fato de que os comentrios sobre as peripcias prprias ou alheias envolviam quase sempre expresses como preciso ser muito macho para..., ou Tem que ter colhes, seno.... De modo surpreendente, com freqncia apenas inferior quela com que se jactavam exageradamente dos prprios feitos, subestimavam riscos, aos meus olhos sempre gravssimos, assumidos por seus concorrentes ou por si mesmos. Por exemplo: Trabalhei na construo civil, meu chapa, aquilo sim que era perigoso. O clima festivo em que o pingentismo se dava tambm contribuiu para a minha convico crescente de que no se tratava apenas de ms condies dos transportes coletivos. Embora na poca no o pudesse formular de modo muito claro, comecei a compreender que por instrumento de suas proezas, brincando com a morte, rindo de si, aqueles personagens faziam uma espcie de exerccio sobre a prpria liberdade. Por esta razo, o bom humor, improvvel em situao de carncia, revelava-se um ingrediente quase indispensvel. Assim, para os pingentes, os nmeros circenses que realizavam, alm de serem extremamente perigosos, tornavam-se muito especialmente valorizados quando fossem bem humorados e provocassem riso. muito importante observar que, contrariamente ao que minhas teorias de ento tendiam a dizer, entre aquelas pessoas no havia sequer uma que pudesse honestamente ser considerada inconsciente, mal informada ou ingnua com relao aos perigos a que se expunham. O contrrio que certamente mais se aproximava do verdadeiro, uma vez que todos estavam absolutamente conscientes do risco enorme que corriam. Todos conheciam vrios e vrios episdios de pessoas que se haviam gravemente ferido, sofrido amputaes ou morrido. Pois bem: era exatamente esta conscincia, muitas vezes elaborada com extremo requinte quanto aos detalhes perigosos das manobras de pingentismo, que os fascinava e embriagava. Sem esta conscincia, o jogo no teria graa.
No me era possvel naquela poca entender isto. Talvez porque os conceitos e teorias que povoavam minha mente fossem mais adequados para a compreenso de outras coisas, em geral muito srias, tais como racionalidades, desigualdades sociais, carncias etc. Hoje, trinta anos e alguns estudos aps, ainda continuo considerando deplorveis as condies de vida do proletariado da cidade do Rio de Janeiro, incluindo a as condies dos transportes coletivos. Tambm continua viva em minha mente a questo da desigualdade e da injustia social. Mas aquele pequeno estudo ajudou-me ao longo do tempo a ir considerando muito seriamente a idia de que, por meio do pingentismo, aquelas pessoas afirmavam a vida, permitindo ou mesmo exigindo que a morte se aproximasse e se mostrasse menor (Eu me garanto, Eu sou mais eu, Fulano se deu mal porque deu bobeira, diziam). Aquela experincia tambm me incitou na direo de que era necessrio arranjar um lugar para o humor e para a jocosidade dentro de minhas sisudas teorias. Ficou-me tambm uma idia: maximizar a vida talvez no signifique apenas estic-la no tempo e produzir uma acumulao de anos. Quem sabe, no seria esta a mensagem dos pingentes? Ao se exporem aos maiores riscos, recriando-a contra a adversidade, eles se fantasiavam de senhores da prpria vida e da prpria morte. E disso obtinham a intensidade de viver que o clima festivo materializava. Pelo menos sob certos aspectos, no se tratava de carncia ou de falta, mas de uma prtica envolvendo simultaneamente os clculos e as exatides mais precisos e apolneos, contrabalanados e temperados pelos transbordamentos mais intensos e dionisacos. * Um segundo estudo sobre tema mais ou menos relacionado com a questo do risco versou sobre acidentes de trabalho. Aconteceu-me, nos meados dos anos 70, ter sido convidado por uma empresa do ramo siderrgico, situada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, para contribuir no exame de alguns problemas com que se defrontava. Estes problemas tinham a ver com o continuado insucesso de seus programas voltados para a reduo de ndices de acidentes de trabalho. Embora esta minha experincia, como a anterior, tenha sido cientificamente limitada, dela talvez seja possvel auferir alguns ensinamentos relativos temtica do risco. No sou nada versado neste assunto, mas as informaes iniciais que acompanhavam a mencionada proposta de trabalho garantiam que habitualmente a administrao da empresa
observava as providncias tcnicas que em geral so necessrias e eficazes: as regras de engenharia de segurana estavam sendo seguidas regularmente, os preceitos de medicina do trabalho eram respeitados de modo at mais rigoroso que em indstrias da mesma ou de atividade similar, o aparato de atendimento mdico superava as recomendaes dos especialistas. No obstante, as taxas de acidentes de trabalho no cediam. Aps ter tomado conhecimento das estatsticas que nervosamente os administradores me traziam e que exibiam os prejuzos causados empresa pelos acidentes de trabalho, uma das minhas primeiras iniciativas foi fazer um levantamento nos arquivos da empresa, para reunir o mximo de informaes j disponveis sobre a composio social do contingente de trabalhadores. Logo constatei que uma proporo muito importante dos operrios era formada por antigos pescadores e, em maior escala, por ex-camponeses. Esta composio poderia ser explicada facilmente com base na histria da usina e pela localizao geogrfica da mesma. Cruzando os dados, estes arquivos permitiram-me verificar, que os acidentes vitimavam mais freqentemente os trabalhadores vindos do campo do que aqueles que tinham sido provenientes de contextos urbanos, de empresas siderrgicas ou de outras atividades industriais. Sobretudo se tivessem sido contratados recentemente, os acidentes atingiam os trabalhadores procedentes da zona rural de modo mais rotineiro e mais grave. Alm disso, segundo se podia descobrir nos arquivos, quanto mais estes ex-trabalhadores rurais se apresentassem com idade avanada, ou seja, quanto mais longo o seu passado de campons mais rigorosas a freqncia e a gravidade dos acidentes que sobre eles incidiam. Para um antroplogo estes poucos dados j significavam bastante. Eles autorizavam levantar a hiptese, inicialmente plausvel e que a observao posterior viria a confirmar, de que se tratava de pessoas desabituadas ao ambiente material da sociedade industrial. Em termos mais especficos, para um analista que, como eu, estava interessado em questes relativas construo social do corpo, era bem verossmil a existncia de uma espcie de desencontro entre os corpos desses operrios e o ambiente material em que deviam enquadrar suas atividades. Talvez seja importante observar neste ponto abrir um parntese para facilitar a seqncia do raciocnio e observar que o corpo humano no apenas um dado da natureza. Deve estar bastante presente em nossas mentes, para o entendimento de nosso problema, que o corpo humano socialmente construdo e varivel segundo as culturas (Mauss 1974; Le Breton 1990;
Rodrigues 1979 e 1999). Com estas palavras estou pretendendo muito mais do que simplesmente afirmar que as concepes sobre o corpo variem segundo as culturas, que cada uma tenha suas imagens ou representaes sobre o corpo humano. De modo enftico, preciso que tenhamos claro que de acordo com os contextos culturais variam no somente as representaes sociais do corpo, mas o prprio corpo como coisa material. Isto , diferem a resistncia fsica, os gostos, as doenas, os automatismos corporais, as atenes, os reflexos, o desenvolvimento deste ou daquele subsistema muscular, a acuidade dos rgos de sentido e assim por diante. Exatamente por essa diferena material, no por acaso, ou por falta de informao, os atropelamentos de estrangeiros so particularmente numerosos em cidades como Londres e Tquio, em que os carros trafegam, como se sabe, pela contramo. Fechando o parntese, lembremos que desencontro entre corpos e ambientes materiais sempre uma possibilidade. Embora nem sempre estejamos muito conscientes deste fato, de um modo geral o ambiente material que habitamos na sociedade industrial no nada tranqilizador: o conforto dos elevadores, dos automveis, dos aquecedores, das lmpadas, dos ventiladores, dos foges a gs, dos liqidificadores, dos aparelhos de som, dos edifcios de apartamentos com alturas cada vez mais elevadas, dos produtos qumicos, dos medicamentos, dos inseticidas, das motocicletas, dos avies... acarreta a contrapartida de uma agressividade potencial gigantesca, que est furiosamente adormecida nos espaos e nos tempos de nossos cotidianos. Essa violncia latente e silenciosa nem sempre a percebemos, pois muitas vezes ela est de tal modo rotinizada que se tornou demasiadamente abstrata para a pessoa comum - por exemplo, a desproporo de nibus gigantescos trafegando junto s caladas em que tambm circulam carrinhos de bebs. De todo modo, sobretudo os que tm filhos pequenos tm conscincia de que no ambiente produzido pela sociedade urbana e industrial no possvel deixar uma criana pequena transpor desacompanhada a porta da casa, pois os riscos de agresses de toda sorte so simplesmente enormes: a criana pode cair de imensas alturas, perder-se pelos corredores, sumir nos andares dos edifcios ou no anonimato das ruas; pode ser colhida por automveis, pode colocar o brao em local indevido... Mas sabemos tambm que os interiores das moradias comportam igualmente os seus riscos e que dentro das casas, particularmente em banheiros e cozinhas, que acontece uma grande proporo dos sinistros. Esta a razo pela qual j estamos quase automaticamente
habituados a nos cercar de todos os cuidados e de todas as medidas protetoras: uma parte pondervel dos acessrios de nossos engenhos eletrodomsticos, bem como uma substancial fatia dos preos que pagamos por eles, destina-se a impedir que sejamos vtimas da agressividade virtual que comportam: queimaduras e cortes nas cozinhas, ingesto de medicamentos e produtos de limpeza, tombos em banheiros e cozinhas ladrilhados, afogamentos em piscinas, quedas de escadas... Ora, se isto acontece exatamente em contextos que designamos por urbanizados e domsticos, que poderemos esperar, ento, do ambiente material de uma indstria siderrgica? Voltemos a ela, portanto. Boa parte dos seus operrios era proveniente de outro contexto material, radicalmente diferente daquele oferecido pela fbrica. Em seus ambientes de origem podiam comportar-se com certa familiaridade e relativa descontrao, encostando-se em quase qualquer coisa ou lugar sem riscos de ocorrerem grandes tragdias. Seus corpos apresentavam atenes e automatismos especficos, diretamente relacionados com o ambiente de cultura material em que foram socializados. Ora, tamanha descontrao corporal constitua trao absurdamente imprudente no ambiente da fbrica, que, como sabemos, presume uma corporalidade atenta e retrada uma disposio corporal retrancada, para usar o jargo do futebol. Mesmo em caso de erros graves, a punio do ambiente antigo raramente seria de crueldade comparvel do novo. Dificilmente corria-se risco de uma amputao, como resultado de um gesto distrado, a no ser que uma mquina ou outro objeto industrial estivesse por perto por exemplo, uma serra mecnica ou uma picadeira de capim para alimentao de gado, como algum me relatou. Havia, naturalmente, alguns perigos e riscos prprios ao ambiente rural (picadas de cobra, cortes com foice, quedas de cavalo, ingesto de agrotxicos por engano, etc.), mas em geral as pessoas os conheciam e estavam preparadas cognitiva e corporalmente para os evitar. A estava algo fundamental para o meu trabalho, uma primeira hiptese sobre a cultura material desses operrios e sua possvel inadequao ao ambiente da usina. Mas isso ainda no era tudo o que pude observar. Apesar da boa vontade de parte a parte, o dilogo entre os administradores e os empregados em torno das noes de risco e de acidente era quase impossvel. O ponto que estes segmentos formulavam suas existncias pessoais, suas concepes de mundo e, por conseqncia, suas aes e sentimentos, em idiomas to radicalmente divergentes que era praticamente invivel a traduo da viso de mundo de um dos
lados para a cosmoviso do outro. Por exemplo, os administradores se orientavam por uma concepo estatstica, ou probabilstica, quando falavam de risco, de acidente e de morte. Se voc utilizar capacete, botas e cinto de segurana, voc reduz a probabilidade de acidentes fatais, diziam os administradores e repetiam, mais ou menos nos mesmos termos, os programas audiovisuais de treinamento, bem como os cartazes preparados pelo pessoal de comunicao social da empresa. No entanto, especialmente se a conversa fosse informal e se estivssemos fora do ambiente da fbrica, quando eu perguntava aos operrios se estavam de acordo com isto, alm de no se mostrarem muito vontade com uma argumentao baseada em conceitos como percentual, probabilidade, projeo, muitas vezes eles retribuam-me a pergunta com uma concepo fatalista, para a qual o acaso virtualmente no existe e na qual os eventos esto largamente predeterminados: Cada um tem seu destino, Vou morrer quando Deus quiser, Quando chegar a minha hora, Com ou sem capacete, Deus quem vai decidir. Em seguida, como argumentos de comprovao de seus pontos de vista, muitas vezes acrescentavam relatos detalhados sobre pessoas que haviam sucumbido a acidentes, mesmo estando minuciosamente protegidas por equipamentos de segurana. Em outras oportunidades, entregavam-se a narrativas que versavam sobre conhecidos que viveram muito, expondo-se a riscos de toda sorte. Para ainda aumentar a dificuldade de comunicao, no raramente era possvel encontrar tambm depoimentos que misturavam as duas concepes a probabilstica e a fatalstica de modo a sugerir que muitos operrios formavam uma espcie de hbrido monstruoso e interpretavam probabilidade quase como sinnimo de fatalidade. Da dizerem coisas mais ou menos assim: Se no usar capacete, vai morrer. Os operrios apresentavam uma certa desconfiana com relao preocupao que os administradores manifestavam relativamente sade e segurana dos trabalhadores. Uma ilustrao disso gira em torno de um comprimido que a administrao da fbrica distribua durante a refeio. Segundo o que o pessoal mdico me informou, este comprimido era basicamente sal e se destinava a compensar os efeitos da perda de certos elementos da qumica corporal do trabalhador, que ocorria em virtude da temperatura elevadssima, sobretudo na proximidade de um dos fornos. Acontece que os empregados resistiam o quanto pudessem ingesto do comprimido. boca pequena, corria entre eles o boato de que aqueles tabletes
10
produziam cansao e impotncia sexual, fazendo-os dormir cedo e desistir da vida ertica e noturna. Comentavam que os comprimidos no passavam de uma artimanha dos patres, para os fazer dormir bastante e acordar bem dispostos para o trabalho. Um outro exemplo desta dificuldade comunicacional a que estou fazendo referncia pude retirar de uma cartilha que o departamento de comunicao havia elaborado para ajudar na preveno de acidentes. Como sabemos, tais cartilhas, que lembram os libretos dos primeiros anos escolares, so peas quase indefectveis em programas e campanhas de todo tipo dirigidas a conscientizar, esclarecer ou informar pessoas carentes. Ora, sem prejuzo das boas intenes daqueles que as encomendam e realizam, impossvel deixar de observar que essas cartilhas disfaram muito mal a preconceituosa presuno de que os destinatrios das mesmas sejam menores ou infantis. Talvez em virtude disso nem sempre recebam a ateno pretendida por seus autores como parece ter sido o caso na empresa de que estamos tratando. Vamos ao contedo da cartilha, que o ponto que nos interessa especificamente. Os administradores concebiam sua prpria segurana individual como a garantia do bem-estar de suas famlias. Seguindo esta diretriz, a cartilha apresentava conselhos mais ou menos assim: Pense no futuro de seus filhos, use capacete, ou Que ser de seus filhos, se voc morrer?. Mas as entrevistas que tive com eles sugeriam que os operrios no se sentiam assim to frgeis ou, visto por outro ngulo, no se consideravam to pretensiosos e onipotentes. Perguntados indiretamente sobre isto, exibiam concepes bem mais humildes e esperanosas Deus cria e bastante mais comunitrias Meu irmo, ou Meu cunhado cuidar deles. Para os olhos dos administradores, tais discrepncias de cosmoviso eram quase completamente invisveis. Guiados por suas prprias perspectivas, que atribuam ao futuro uma importncia muito maior do que os operrios o faziam, estes administradores contrabandeavam o futuro para o presente (Giddens 2002, 11) e concebiam a preveno de acidentes como uma questo de deciso racional e de responsabilidade individual. Por isso, quando ocorria um acidente grave, raramente se furtavam a comentrios acusadores, muitas vezes raivosos, do tipo: Estes pees boais no tm jeito mesmo!, muita ignorncia, muita irresponsabilidade!. Ou mesmo, como tive oportunidade de ouvir: S mesmo matando!. Neste ponto, no seria inoportuno observar que entre tais executivos se inscreviam paradoxalmente vrios fumantes e outros tantos que no faziam seguros de vida, de automvel, ou de acidentes
11
pessoais. Perguntados sobre isso, ironicamente respondiam com argumentos (O que tiver que ser ser, por exemplo) muito parecidos com os que os operrios, guiados, como vimos, por uma concepo fatalista dos acontecimentos punham em ao para explicar o porqu de no utilizarem os equipamentos de segurana. claro que, com muita probabilidade, manifestaes de semelhante agressividade tambm exibiam a frustrao profissional dos administradores diante dos repetidos fracassos em reduzir taxas de acidentes. Este tipo de imprecaes, alis, constitui algo bastante similar ao que s vezes acontece hoje, no caso de infeces por HIV, entre o pessoal mdico e aqueles indivduos que apresentam certos comportamentos de risco que, no entendimento dos primeiros, possuem conotao moral estigmatizante. Tais imprecaes costumam ser particularmente enfurecidas quando os comportamentos condenados so repetidos e, portanto, apresentam probabilidade acrescida de frustrar as expectativas profissionais do pessoal mdico (por exemplo, no caso de pessoas que fazem sexo como trabalho). No compreendiam os tcnicos da siderrgica que as concepes de vida, de morte, de sade, de risco, de segurana... dos trabalhadores fossem perfeitamente coerentes - apenas construdas sobre premissas diferentes das suas. No conseguiam imaginar como era possvel ser um homem pleno, sem ser de modo espontneo uma espcie de empresrio de si mesmo: sem ser disciplinadamente submetido a relgios e agendas; sem ser guiado pela obsesso constante de conseguir o mximo de resultados com o mnimo de meios; sem ter convicta concepo de si como mercadoria; sem manifestar prazer em imaginar que o prprio corpo seja uma espcie de ferramenta; sem ser algum com vontade de se produzir, de investir em si, de fazer o balano da vida; sem ser interessado em projetar o futuro, em administrar as relaes; sem se ver como habitando um corpo eminentemente vulnervel; sem ser adestrado em controlar as emoes, em poupar o corao, em racionalizar os afetos, em trabalhar seus sentimentos. Sem ser, em suma, para lembrar as palavras de Montaigne, uma espcie de amo de si mesmo. Deste estudo pude aprender no apenas o quanto etnocntrica era a perspectiva tcnica dos administradores. Percebi tambm o como esta era autoritria e como a absoro dela dependia de dispositivos que na poca eu no entendia muito bem, mas que pude discernir de maneira relativamente ntida depois da leitura de Vigiar e Punir, de Michel Foucault (1975): disciplina, vigilncia, averiguao, controle, fiscalizao, dimensionamento, planejamento,
12
preveno, esquadrinhamento... Aprendi ento que esta perspectiva dependia da incorporao de ingredientes que historicamente e por toda parte s tm sido absorvidos ao preo de um gigantesco trabalho de doutrinao, de converso, de punio e, nada raramente, de fora bruta. Lembrando-me da urgncia com que foram catapultados do campo para a usina, aprendi tambm que nada havia da irracionalidade, da ignorncia ou da boalidade de que aqueles ex-camponeses eram acusados. E recordando a agressividade latente e manifesta do ambiente da fbrica, sobretudo convenci-me de que, se irracionalidade assunto que tem a ver com a questo dos acidentes de trabalho, ela paradoxalmente s poderia ser compreendida se fosse procurada no prprio sistema de vida e de trabalho que obsessivamente precisava se preocupar com problemas como risco, acidente, segurana, sade... Sem a mnima desqualificao de suas boas intenes - seria muito injusto de minha parte neg-las, pois foi o que pude pessoalmente testemunhar - compreendi tambm, recordando dos grficos e das tabelas de prejuzos que me foram nervosamente exibidas como porta de entrada naquela problemtica, que os administradores, certamente sem disso terem muita conscincia, acabavam se preocupando menos com seres humanos do que com fatores e com correlaes puramente estatsticos. * Uma terceira experincia que tangencia a questo do risco ocorreu-me quando, em 1982, tive a oportunidade de participar de um importante programa de pesquisas promovido pela prefeitura da cidade, sobre condies de sade em favelas do Rio de Janeiro. Minha colaborao no programa era bem modesta, limitando-se a fazer uma avaliao, por mtodos qualitativos e por pesquisa de campo com observao participante, dos resultados daquela grande pesquisa, que havia sido arquitetada quase exclusivamente com base em mtodos quantitativos. Em linhas gerais, minha tarefa resumir-se-ia a verificar at que ponto os resultados da pesquisa quantitativa mostravam-se compatveis com os se poderia obter por uma investigao qualitativa. Como se sabe, uma tcnica ideal nos estudos qualitativos consiste em no comear mencionando o assunto sobre o qual se est pesquisando, se isso for tica ou praticamente possvel. Esta medida uma espcie de precauo contra a possibilidade de o investigador vir a introduzir artificialmente no universo de seus informantes um elemento que lhe fosse estranho at o momento da pesquisa. Trata-se de uma estratgia destinada a evitar que, sem autenticidade,
13
as respostas venham a corresponder a uma simples cortesia da parte do informante, feita meramente com o fito generoso de no deixar o pesquisador com uma pergunta flutuando no ar. Perseguindo o propsito de me aproximar informalmente das pessoas, comecei a freqentar lugares de encontro como biroscas, templos, campinhos de peladas, residncias... De acordo com o que disse antes, era minha preocupao nunca mencionar o assunto sade no incio da conversa e no deixar que os informantes percebessem ser este o ncleo do meu interesse. Por esta razo, muitas vezes um bom bate-papo resultava em pouca coisa ou nada para a pesquisa - a conversa passeando por todos os assuntos, exceto pelo que era de meu interesse especfico. De modo espontneo, o tema sade simplesmente no aparecia. Mesmo que eu fosse mais direto no incio da conversa, para a pergunta Como voc vai?, a resposta dos informantes geralmente se limitava a um Bem, graas a Deus, jamais mencionando a questo da sade. A certa altura da pesquisa, pressionado pelos prazos administrativos de apresentao dos relatrios, comecei a ver-me obrigado a ser bem mais incisivo e a acrescentar na conversa: E de sade, como voc vai?. Mas quase todos respondiam que iam bem, que no sentiam nada, que estavam trabalhando normalmente, que dormiam, acordavam, comiam, etc. E as pessoas de sua famlia, como vo? insistia. As respostas normalmente eram do tipo: Vo bem. E as crianas, como esto de sade?. Tambm iam bem, pois estavam alegres, brincalhonas, levadas. Era-me quase necessrio forar uma lembrana especfica, para poder obter um Minha sogra adoeceu h algum tempo, foi tratada pelo doutor Fulano, ou um Meu primo ficou uns tempos de cama, sem trabalhar, estava muito fraco, tomou fortificante. O que me causava espcie nesta experincia que, para mim, para os meus critrios de definio de sade, muitas daquelas pessoas estavam doentes: olhos amarelados, turvos ou injetados, a indicar-me alguma patologia do fgado; manchas nas peles de tipos os mais variados, caroos, feridas, inchaes, varizes, deformidades, a sugerir-me que havia a urgncia de uma consulta com um dermatologista; narizes infantis escorrendo continuamente, pernas com perebas, barrigas a evocar verminoses; hlitos reveladores de alguma patologia gstrica; bocas a evidenciar que um dentista seria indispensvel Enfim, olhava as pessoas e via coisas que levariam imediatamente a um especialista qualquer membro das chamadas camadas mdias de
14
Copacabana, Ipanema ou Tijuca. Como entender, ento, que elas estavam bem, sentiam-se bem, estavam contentes? Como entender, naquelas circunstncias, que quando eu perguntava s pessoas em geral de surpresa, informalmente e sem opes predefinidas a serem assinaladas com cruzinhas pelo prprio pesquisador O que a prefeitura podia fazer aqui para melhorar a vida de vocs?, respondessem de modo desnorteante e ao mesmo tempo revelador, para mim, que estava impressionado com as condies dos barracos, com as moscas, com o lixo espalhado, com as valas negras, com o lodaal que emitia um odor repugnante: Eles bem que podiam construir aqui um campinho pras pessoas, pras crianas jogarem pelada? Como compreender isso? No pretendo cometer a insanidade de afirmar que aquelas populaes preenchessem os padres preconizados pela Organizao Mundial da Sade. Interessa-me aqui apenas enfatizar muito vivamente, para a nossa reflexo sobre risco, que elas, diferente de mim, no viam no ambiente um inimigo potencial. Por conseguinte, no se colocavam reativamente na defensiva e no usavam uma espcie de saudmetro porttil. Em outros termos, no tinham sade como preocupao onipresente, no faziam de si um diagnstico como carentes quanto a este assunto, nem tinham, por conseguinte, as atenes voltadas para os riscos que a ameaavam. Tudo isto, a propsito, tendia a ser plenamente confirmado por dados de outra natureza, como letras de sambas, por exemplo, invariavelmente enaltecedoras do ambiente geral das favelas. Para ir mais direta e profundamente ao ponto que nos interessa, restou-me daquele trabalho uma impresso muito importante, que reflexes posteriores vieram a transformar quase em convico: a de que em geral partimos de um axioma etnocntrico e preconceituoso segundo o qual as camadas populares devam se sentir carentes e de que, por vias de conseqncia, sejam espontaneamente reivindicadoras de uma situao melhor. Corolrio desse axioma, quando no se apresentam reivindicadoras, desmentindo o mencionado pressuposto, ainda assim a ausncia de reivindicao ser sempre explicvel por uma carncia de alguma outra natureza: falta de informao, deficincia de educao, de conscincia poltica, de organizao, de participao... Ora, embora chocado na minha sensibilidade e confuso no meu pensamento, nunca me pareceu que as pessoas com quem conversei nas favelas estivessem inconscientes de seus interesses, que fossem alienadas ou que necessitassem de algum para as conscientizar. Na
15
minha opinio, s muito preconceito poderia autorizar algum a pensar que fossem cegas, acrticas ou tolas a ponto de poderem ser consideradas como incapazes de comparar suas vidas com as das camadas sociais privilegiadas, como no tendo condio intelectual de ver ou de sentir suas prprias carncias e seus lugares na sociedade. Pelo que pude constatar, havia na pesquisa cujos resultados eu estava avaliando, assim como em tantas e tantas investigaes que vm sendo realizadas junto a camadas populares, uma presuno implcita, apriorstica, de carncia da parte destas. Materializa-se, neste caso especfico, uma forma de raciocnio que se aplica corriqueiramente em muitos outros domnios e que os antroplogos conhecem bem. Este raciocnio - que tem adeptos tanto direita, ao centro, como esquerda do espectro poltico - em vez de tentar compreender o outro por sua positividade prpria, quase sempre leva a defini-lo por alguma falta com relao a ns. Esta pressuposio latente o motivo pelo qual nossos discursos e os de nossas autoridades estejam sempre repletos de referncias a populaes carentes, a pases sub, a sociedades sem: subdesenvolvidas, sem escrita, sem mercado, sem Estado... Desta experincia de trabalho com um rgo estatal, restou-me ainda a idia seguinte: talvez seja uma caracterstica logicamente inerente ao Estado atual inventar carncias ou convencer as camadas populares de que sejam portadoras de necessidades (de esgoto, iluminao, higiene, transporte, escola, policiamento, sade, cultura, segurana, etc.), carncias que, por este ou aquele caminho, somente o prprio Estado pode suprir. Estas caractersticas chegam mesmo a fazer com que as pessoas passem a pensar que o Estado tem o dever de satisfazer tais carncias ou necessidades. Por esta estratgia, onde havia necessidades aparece o provedor e onde imperavam as ameaas surge o protetor. Assim, o prprio Estado transforma-se em uma necessidade. Em outros termos, permaneceu-me a idia de que sob a retrica da carncia poderamos encontrar uma estratgia tentacular de expanso e de capilarizao do Estado, bem prximo daquilo que Michel Foucault demonstrou, na obra a que j fiz referncia. Isto , poderamos detectar todo um estratagema visando a transformar em desejvel por populaes ainda fora do alcance do Estado aquilo que mais cedo ou mais tarde como a histria tem seguidamente demonstrado vir a ser obrigatrio para elas: construes de tal tipo, ruas com traados especificados, tais vacinas com tal periodicidade, tantos anos de escola tantas horas por dia
16
estudando tal currculo, cintos de segurana com pontas em nmero definido, lixo disposto assim e assado... No entanto, essas estratgias expansionistas do Estado quase sempre encontraram resistncias por parte das populaes. Talvez esteja neste ponto uma chave importante para compreendermos o porqu de estas no desejarem coisas racionalmente to desejveis e de no reivindicarem coisas naturalmente to reivindicveis, como supostamente deveriam. Quem sabe no estar neste ponto a razo de no participarem espontaneamente das reunies das suas associaes de moradores, de no acolherem as recomendaes das autoridades de limpeza urbana, como seria conveniente; de no conservarem os equipamentos telefnicos, como seria desejvel; de no obedecerem autoridade cientfica, como seria racional; de no atenderem s campanhas de vacinao, como seria saudvel; de no aguardarem autorizao do semforo, de no utilizarem as passarelas para travessia de estradas e avenidas como seria obediente; de no seguirem os conselhos de consumir menos drogas, bebidas alcolicas ou gorduras, como seria prudente? Quem sabe no estar neste ponto a razo de muitos no respeitarem as regras de trnsito, de sempre que possvel no freqentarem escolas, de no comparecerem nas eleies se no houver estrita obrigatoriedade? De no darem crdito s campanhas antitabagistas, de no prezarem as camisinhas? Como compreender de outro modo o fato de muitos no usarem cintos de segurana nos automveis, seno sob ameaa de pesadas multas? Como entender que, algumas vezes, apenas para iludir e burlar a fiscalizao algumas pessoas apenas cruzem-no sobre o peito, mas sem realizar o clique definitivo? Como digerir intelectualmente que tenha havido at mesmo quem, por resistncia e/ou deboche, confeccionou camisas nas quais existe em diagonal sobre o peito do motorista apenas o enganoso desenho de um cinto de segurana? Que explicao dar do fato, corriqueiro nas diversas regies do Brasil, de um motorista alertar com piscadas de faris os que vm em sentido contrrio, a fim de que estes possam reduzir a velocidade e driblar a fiscalizao da polcia rodoviria? Afinal, supostamente no seria para garantir a segurana dos viajantes que os policiais ali esto? Com essa sugesto sei que corro o risco de beirar a caricatura, colocando em questo certas idias h muito bastante assentadas. Sei que posso ser terrivelmente mal interpretado, ao minimizar de propsito o problema que todos sabemos ser real da explorao de classes
17
sociais. Contudo, ao dar preferncia, ao menos provisria, ao fato de que estas pessoas tm um discurso e de que este discurso tem uma positividade que merece ser considerada em si mesma, no poderamos levantar a hiptese de que, ao se exporem a tantos e tantos riscos, estas pessoas estejam expressando silenciosamente uma afirmao de si que no deve ser desconsiderada? No poderamos considerar a hiptese de que elas, para relembrar os termos de Pierre Clastres (1986), ao menos por alguns aspectos de suas atitudes, estejam se manifestando positivamente no sem, mas contra o Estado contra suas promessas, contra os seus mtodos, contra seus aparelhos e contra seus efeitos? No poderamos examinar a possibilidade de que de uma maneira ou por um estilo aos quais no temos devotado a devida ateno, esta rebeldia expresse um sentimento de uma dominao que as pessoas pressentem? No poderamos conjecturar que a renitncia contra a ao estatal que estas populaes apresentam no seja uma caracterstica exclusiva apenas de povos tribais, por causa de seu primitivismo ou somente de populaes faveladas, em virtude da ignorncia de que so acusadas, mas que tambm fervilhe ruidosa ou silenciosamente no ntimo de cada um de ns? * Para compreendermos essas questes, talvez valesse a pena nesta altura do raciocnio lembrar algo que, quando refletimos sobre a noo de risco, raramente consideramos, ou que muito poucas vezes levamos s ltimas conseqncias. Este algo o seguinte: como acontece com todos os valores, aqueles que so atribudos vida humana tambm so relativos e variam segundo as culturas, de acordo com os momentos histricos, com os grupos sociais e mesmo consoante os indivduos. Tal observao vale tanto para o valor da vida humana em geral quanto para seus aspectos mais especficos e qualificados. Por exemplo, a esperana de voltar a viver por meio da tcnica de congelamento e descongelamento (criogenizao) ou, mais recentemente, pela clonagem, talvez no encontre adeptos entre pessoas para as quais a vida se valorize tambm por seus aspectos comunitrios, afetivos e relacionais, no se limitando apenas s suas facetas biolgica e individual. Dito de outro modo, a chance de viver mais ou de voltar a viver organicamente talvez no tenha o mesmo atrativo para quem se pergunte: na poca do descongelamento, estaro aqui os meus amigos, minha mulher, meus irmos, meus filhos? Saberei eu falar a lngua desse tempo? Reencontrarei minha religio? Meus prximos tambm sero clonados? Poderei reconhec-los?
18
Esta advertncia se faz necessria, sobretudo porque bastante provvel que, quando refletimos sobre a questo do risco, nem sempre consigamos abrir mo de um princpio fundamental da cultura (explcita) de nosso meio social, que nos repete refres do tipo a vida humana no tem preo, est acima de tudo, sagrada... Sem relativizar esse princpio, no resistiremos tentao de naturalizar e de absolutizar o significado que a vida tem para ns e chegaremos mesmo a considerar este significado como sendo natural, instintivo e, por vias de conseqncia, a pensar que a conservao da vida tenha intrinsecamente esta caracterstica. Mas, ao assim fazermos, esquecemo-nos de tantos e tantos exemplos de povos e indivduos que nos tm ensinado como para os seres humanos viver constitui algo facultativo, o quanto depende de que determinados conceitos de humanidade sejam praticados e de que certos parmetros de dignidade sejam respeitados: subestimamos os exemplos dos soldados, dos suicidas, dos mrtires, dos heris... Desprezamos tantos e tantos testemunhos de povos e indivduos para quem a vida humana, ou mesmo qualquer vida, no se esgota na materialidade biolgica, apenas se transformando com a morte e continuando a existir sob outras formas, em outras dimenses, prolongando-se na lembrana e na existncia dos que ficaram... Absolutizando o valor da vida humana, esquecemo-nos tambm de que tomar precaues e comportar-se de modo previdente est intimamente ligado a hbitos algo reativos e vontade de projetar o futuro. Deixamos ento de perceber que este hbito e esta vontade tm muito poucas chances de prosperar em ambientes materiais e culturais que tenham desdm pelo futuro. No desqualificando o presente e o passado, nesses ambientes as pessoas esto todos os dias a favor da vida, de sua plenitude e de sua consumao. Para compreender a questo do risco na contemporaneidade, preciso lembrar o fato de que mesmo entre ns, na nossa cultura, esta maneira de compreender a vida e a morte no foi ainda inteiramente ultrapassada. Portanto, necessrio ter sempre em mente que o que faz de uma vida uma vida humana no o simples pulsar do corao, o respirar dos pulmes, os movimentos do aparelho digestivo... Estes so dados zoolgicos, que materializam uma vida animal qualquer. Acontece que o ser humano muito mais do que isto. Ele simultaneamente um animal e algo bem diferente de um animal. O trao fundamental para a reflexo antropolgica, que aquilo que faz de uma existncia uma vida humana so as artes, as danas, as religies, as magias, os mitos, as lnguas, as diferentes educaes das crianas, os ritos fnebres, os cultos aos ancestrais, as
19
tradies, as lgrimas, os orgasmos, os transes, as possesses, os risos, as gargalhadas... Em outras palavras, a vida especificamente humana se constitui essencialmente por tudo aquilo que se poderia ir enumerando e que no depende da mera existncia orgnica, nem deriva diretamente dela. Sobretudo quando estamos interessados em refletir sobre os aspectos antropolgicos do risco e das tomadas de risco, estes detalhes so totalmente inabstraveis. No cerne do nosso problema, por conseguinte, est a prpria idia que temos de o que seja vida humana. Na nossa cultura ocidental tem prevalecido de modo crescente a convico de que a vida seja um fato natural, de que o homem esteja entre as espcies biolgicas, de que seus processos orgnicos possam ser submetidos a investigaes objetivas... Sendo o homem concebido aqui como parte da natureza e esta entendida como algo que os homens podem controlar, especialmente por meio da cincia e da tecnologia, tem prevalecido tambm a concepo de que os processos orgnicos humanos sejam igualmente passveis de controle. Em outros termos, tais processos podem ser estudados, planejados e medicalizados, com o fito de se conservar a sade, de curar as doenas e mesmo de prolongar a existncia biolgica. Costumamos interpretar os passos dados nesta direo como representando conquistas do progresso. Por isto no consideramos que esta maneira de conceber a vida seja relativamente recente, mesmo no mbito de nossa prpria histria ocidental. De fato, como tive oportunidade de resumir em outro trabalho (Rodrigues 1983) o que os historiadores e antroplogos que tematizaram a morte (por exemplo: ries 1975 e 1977; Le Breton 1990; Thomas 1976) nos ensinam que nem a morte representava, nos tempos no modernos, o pavor que a ela atribumos, nem a vida foi sempre e por toda parte o bem por excelncia, a preservar e a acumular contra todos os outros. No Ocidente, idia de naturalizar a vida e de a prolongar por mtodos artificiais ou no est historicamente associada emergncia ao poder das novas elites, aristocrticas e burguesas. Estas passaram a enxergar na existncia um valor econmico, entendendo viver como capitalizar e viver muito como acumular. Por esta razo, estes poderosos se recusavam a deixar a vida, no se conformando com o esgotamento do ser, pois este declnio cada vez mais vai adquirindo sabor de esmaecimento do ter. Depois, tal concepo difundiu-se socialmente, mas de modo muito lento e desigual, na medida em que as demais camadas sociais foram se aburguesando culturalmente. Para termos uma idia clara dessa mudana cultural basta lembrar que a prpria
20
palavra risco passou a existir somente no perodo moderno (Giddens 1991, 38) e, como sabemos, logo passou a partilhar um campo semntico ao qual tambm pertencem idias como as de investimento, lucro, prejuzo, e que a palavra encontrou seu domiclio por excelncia em reas como mercados de aes e companhias de seguros. A manuteno da sade e a valorizao da vida estavam destinadas a obedecer a esta mesma lgica econmica, no obstante os argumentos de fachada humanstica e social que passaram a ser sustentados nos discursos explcitos das autoridades do poder e do saber,. Na verdade, os cuidados com a vida e a sade foram adquirindo carter de investimento em capital humano, progressivamente, tanto nas camadas privilegiadas como nas demais. Em outras palavras, menos por a vida humana ser sagrada ou sem preo, proteger os trabalhadores passou gradativamente a ser uma medida em favor de um patrimnio. Dessa forma, os gastos com educao, sade, cultura, previdncia etc. eventualmente efetuados em benefcio destes trabalhadores, comearam a se justificar em termos de lgica propriamente econmica. Derivam agora de motivos racionais, no mais apenas de caridade ou de afeto. Eis o que se consegue, como ilustrao, fisgar na introduo de um livro sobre medicina do trabalho, escrito por um certo Doutor Hacket em 1740:
A sade dos trabalhadores deve ser mantida e melhorada enquanto meio de produo (...) Frangos, cavalos de corrida, macacos de circo so alimentados, alojados, treinados e mantidos no mais alto nvel de fora fsica para assegurar um rendimento mximo em suas funes respectivas. O mesmo princpio se aplica aos seres humanos. Um aumento de produo s pode ser esperado dos trabalhadores sob a condio de se atribuir uma grande ateno a seu ambiente fsico e a suas necessidades (Hacket 1925).
Historicamente, esta a razo pela qual o aumento da esperana de vida individual se transformou em bandeira poltica de burgueses e, posteriormente, de proletrios. Tal aspirao passou a constituir pea fundamental da otimizao do sistema capitalista e industrial, pois as doenas, segundo esta tica econmica, mais do que pessoas, passaram agora a atacar produtores
21
e consumidores. Falo aqui especificamente da conservao da vida individual no centro do sistema econmico e poltico, pois, olhando para as periferias da sociedade industrial e de consumo, sabemos muito bem como gigantesco e assombroso o seu desprezo pela vida coletiva: armamentos aniquiladores, destruies do meio ambiente, genocdio de populaes pobres do Terceiro Mundo, envenenamento da diversidade cultural... H, portanto, mesmo entre ns, uma histria da valorizao da vida e da recusa de morrer que ainda no desdobrou todos os seus captulos, nem atingiu todos os segmentos da populao. Mas suas metas j haviam sido cristalinamente previstas por Condorcet pelo menos desde 1794, em seu Des Progrs de lEsprit Humain:
Deve chegar um dia em que a morte no ser mais que o efeito, ou de acidentes extraordinrios, ou da destruio cada vez mais lenta das foras vitais... Sem dvida, o homem no se transformar em imortal; mas a distncia entre o momento em que ele comea a viver e a poca comum em que, naturalmente, sem doena, sem acidente, ele experimenta a dificuldade de ser, no pode crescer sem parar?
Sem dvida, o homem no se transformar em imortal. Mas a recusa de se pensar mortal far com que muitos venham a encarar a vida como se fossem amortais. Passaro a viver como se a morte no fosse pertinente, como se ela no estivesse aqui, presente em cada aspirao e expirao de ar, como se em cada batimento do corao no estivessem contidos simultaneamente a vida e a morte, como se cada segundo que se vive no fosse tambm um segundo que se morre. Ora, o homem que se sente amortal s consegue ver a morte nos outros: imagina que certas coisas acidentes, doenas, velhice jamais acontecero com ele mesmo. Eis aqui um trao de subjetividade fundamental para compreendermos muito do que parece descaso com a preveno e algo das tomadas voluntrias de risco. Este valor simblico, esta histria e esta relatividade das noes de vida e de morte, precisamos lev-los em considerao, se quisermos entender a questo cultural do risco. Somente assim teremos condies de reconhecer alguma positividade na morte como
22
alimentador de vida. Colocar em evidncia esta positividade sem dvida aquilo que nos permite compreender a seduo, aparentemente to paradoxal, que o risco de morte exerce sobre as pessoas deste nosso tempo to obcecado pela vida biolgica e pela idia de segurana. * Com efeito, em nossa civilizao industrial e de consumo so numerosssimos os casos de tomadas voluntrias de risco, episdios que lembram os pingentes que mencionei: automobilismo, escaladas, espeleologia, canoagem em corredeiras, surfe areo, pra-quedismo, saltar de uma ponte preso apenas por um elstico cuja extenso permitir que a cabea suavemente toque o solo, correr com motocicletas em terrenos planejadamente irregulares que aumentam de propsito o perigo, fazer vos em asas-delta, em pequeninos avies ou mesmo caminhar e fazer acrobacias sobre as asas destes... A acreditar no noticirio jornalstico, pelo menos sete mil casos j foram registrados de pessoas que perderam a vida tentando escalar voluntariamente o Mont Blanc. Enfim, uma imensido de esportes radicais est a cada vez mais presente para ser praticada muito freqentemente por pessoas como quase todos ns - isto , por gente ao menos idealmente preocupada em contratar planos de sade, vacinar-se, fazer ginstica, praticar caminhadas, ter uma alimentao equilibrada, tomar vitaminas, passar por check-ups rotineiros. Esportes que esto a, enfim, para serem adotados por homens e mulheres que, como ns, desejam prolongar a vida to extensamente quanto possvel. Estes esportes tambm so curiosamente apreciados por pessoas parecidas com os administradores a que me referi e que criticavam de modo acerbo os trabalhadores que no se precatavam contra acidentes de trabalho. Como se pode facilmente constatar pelos meios de comunicao, estes executivos muitas vezes utilizam um argumento que lhes soa perfeitamente racional para explicar a adeso aos esportes radicais. Como justificativa para suas ousadias, dizem que pela confrontao com situaes extremas, estariam adquirindo ou reforando capacidades necessrias soluo de problemas que eventualmente venham a exigir deles, na vida profissional, qualidades como resistncia, coragem, sangue-frio, fora de vontade, equilbrio emocional... Isso se d porque esses executivos vivem por dentro uma sociedade que eminentemente de risco. Sociedade de risco, no apenas pelo fato de que apresente muitas e muitas formas de perigo, mas porque exige de seus membros um vis calculista, uma atitude de
23
planejamento e de preciso, postura que quase sempre comporta a conscincia atemorizadora da possibilidade de fracasso. claro que nos riscos contidos nestes esportes radicais h uma caracterstica etnogrfica especfica que atenua o paradoxo que aparentemente comportam. Bem ao estilo de nossa cultura, mais ou menos como acontece tambm nos parques de diverses, com seus brinquedos atemorizadores, estes esportes ensinam que entre ns segurana e risco so menos antagnicos do que normalmente se pensa. Digo isto porque estes novos riscos encontram-se invariavelmente envolvidos por uma regulamentao elaborada e por uma sofisticadssima parafernlia tecnolgica que se proclamam responsveis pela segurana de cada indivduo. A simples lembrana das preocupaes com os automveis das corridas de Frmula Um representar uma ilustrao bastante esclarecedora dos milagres que as regras e as tcnicas podem operar mesmo a 300 km por hora. Vale observar que este novo tipo de risco bastante diferente dos assumidos por aqueles que em outros contextos etnogrficos tm-nos como algo rotineiro, cotidiano, banal e at mesmo meio profano. Estou pensando, por exemplo, em caadores, em limpadores de vidraas de arranha-cus, em mergulhadores que vo profundo buscar prolas. Este tipo de risco tambm diverso do caso de profissionais como policiais, bombeiros ou soldados, isto , de pessoas que o assumem como algo digno e inerente s suas ocupaes. Estas ltimas, com os riscos que lhes so intrnsecos, reforam a segurana exatamente em uma sociedade preocupada ao extremo com este aspecto. Nesses casos profissionais, embora existente, o risco no valorizado de modo semelhante, no envolvido pela mesma aura, nem se encontra exaltado por si prprio e em idntica medida que nos esportes radicais. Naqueles, as ousadias envolvidas devem ser apenas as necessrias para a consecuo de determinado fim (apagar o fogo, acudir quem se afoga, alcanar a presa, limpar o vidro...). No tm, em grau similar ao que acontece nos esportes radicais, o sentido de uma verdadeira dramatizao ritual da conquista dos extremos, da competio consigo mesmo e da superao de si. Nessas profisses de risco no encontramos a apologia sem limites aos conquistadores de coisas inteis, como inteis so em geral as conquistas nos esportes radicais. Como compreender, alis, esta atrao pelo vazio, esta
24
exaltao da conquista do intil, exata e paradoxalmente no seio de uma cultura to pragmtica e to fascinada pela acumulao quanto a nossa? Diversamente do que ocorre nos casos profanos referidos, que tm alguma finalidade prtica, o que se busca nos esportes radicais principalmente exercer um controle simblico sobre aquilo que teoricamente seria incontrolvel. Em uma sociedade que se cr dominadora da natureza este exerccio simblico se faz pela conjugao qudrupla de a) riscos cada vez maiores, b) assumidos de livre e de espontnea vontade, c) com uma tecnologia de segurana sempre mais elaborada e d) com um sistema normativo de proteo cada vez mais severamente restritivo. Ora, semelhante absurdo de correr risco por correr risco, que nada tem de racional, s pode adquirir significado sob o prisma do simbolismo, da mitologia e da ritualizao (Le Breton 1991). Em sntese, s faz sentido em termos de dramatizao especfica, em uma sociedade que tem a competio como um dos seus pilares. Tal paradoxo tem a ver tambm e talvez as tomadas voluntrias de risco adquiram a o fundamental de seu sentido - com o fascnio que os homens sempre exibem pelo enfrentamento dos limites, pelo alm, pela ida ao desconhecido, pelos recordes, pela transgresso das fronteiras, pelos transes e pela morte, como os antroplogos podem atestar nas mais diversas sociedades. Por representarem simbolicamente limites, fronteiras entre o social comum e o csmico extraordinrio, as ousadias materializadas nas provaes fsicas, nos exageros, nos transes, nas abstinncias, nos xtases, nas viagens, nos retiros e recluses, nos silncios impostos, nas mortes simblicas ou reais... muitas vezes figuram de modo positivo nos mitos e nos rituais de constituio dos poderes e dos poderosos. A experincia simblica dos limites fonte de poder. A observao antropolgica em numerosas culturas ensina que os que vo l quase sempre retornam com prestgio especial, isto , com poderes perigosos ou benfazejos, segundo os casos, mas nunca neutros ou indiferentes. Aps a experincia do alm, os homens e os objetos passam a se apresentar como que ungidos por um poder ou carisma, o que lhes autoriza ser chefes, lderes, heris, dolos, xams... em suma, algo ou algum particularmente respeitado ou temido. E isto, pelo simples fato de haverem desvendado ou tocado o desconhecido. Como diz o conhecido provrbio, quem
25
no arrisca no petisca. Mas no preciso ir to longe. Provavelmente cada leitor conhecer pelo menos um caso de pessoa sensata que diga ter renascido ou descoberto um novo sentido para a vida aps haver escapado de um face a face passivo ou sofrido com a morte, por causa de acidente ou doena grave. Mas convm no esquecer que so tambm numerosos, embora talvez menos conhecidos, os relatos que do conta de pessoas que, tendo abandonado o uso de drogas, atentaram contra a prpria vida. Igualmente pululam histrias outras de quem, havendo se livrado de um fator de risco, logo o substituiu ou compensou por algo que implicava risco comparvel (por exemplo, abandonando o hbito de fumar, mas aumentando o consumo de bebidas alcolicas). Diante de fatos como estes, o que nos proibiria de considerar a hiptese de que por meio de comportamentos arriscados, mas de maneira ativa, muitos busquem aquele mesmo fim mencionado no pargrafo anterior, isto , um sentido para a vida? * Experimentar a vida, experimentando a morte: eis aqui um trao inseparvel de todo existir humano. Inseparvel, porque o homem o nico ser consciente de ser mortal e o nico a deter direito de veto continuidade da prpria vida. Embora talvez de modo nem sempre consciente ou proposital por parte de cada um, nossos cotidianos esto repletos de exemplos que ilustram a possibilidade de que muito mais do que simples agentes indiretos de suicdio as tomadas de riscos sejam uma espcie de ousadias afirmativas que ajudam a viver. Ajudam a viver, no sentido de que marcam de modo intenso um viver especificamente humano. bastante plausvel ver nesses casos ocasies em que a dana de aproximao e de desvio da morte se faz presente para - mais ou menos como no caso dos pingentes - injetar sentido na existncia e propiciar um distanciamento que atenue a brutalidade da vida real. claro que em cada caso isto se d com intensidade diferenciada e se materializa de maneira aqui mais literal, ali mais metafrica. Por esta via de raciocnio poderiam adquirir sentido alguns gestos aparentemente gratuitos. Penso, por exemplo, em coisas simples, como atravessar um sinal quando ele proibitivo (o que vale para pedestres e condutores). Tenho em mente os Geistfhrer alemes, que dirigem na contramo em auto-estradas. Mas tambm os que furtam pequenos objetos em lojas de departamentos, os que roubam carros por simples divertimento, os que consomem drogas
26
sintticas, os que se entopem de medicamentos, os que exageram na velocidade, os que andam de motocicleta, os que participam de pegas, os que aumentam a ingesto de alimentos ricos em gordura animal simplesmente porque esto fazendo tratamento com remdios que reduzem o colesterol... At mesmo a chamada delinqncia juvenil talvez possa ser vista sob este prisma de fascnio pelo risco deliberadamente escolhido. Ela pode ser encarada como tentativas de driblar a morte, de danar com a mesma, ainda que metaforicamente ou em doses homeopticas. Com freqncia, os jovens talvez busquem mais o contentamento produzido pelos perigos que consideram fazer parte da transgresso do que propriamente do proveito material que deriva desta. Quem sabe, tal satisfao no poderia ser vista como uma forma de procura de vida, uma busca pela intensidade de viver, uma nsia por adrenalina, como dizem? Quem sabe, exatamente por causa disso, algumas campanhas publicitrias que enfatizam os perigos de certas situaes ou comportamentos (drogas, velocidade, sexo arriscado...) no acabem, ao menos algumas vezes e para alguns pblicos, por produzir resultados ironicamente contrrios aos planejados? Sim, porque com freqncia, por reivindicao ou por acusao, os comportamentos de risco so componentes de certas identidades sociais, mais ou menos no sentido conferido por Erwin Goffman (1959 e 1963). Nestes casos no rarssimo que acabe sendo necessrio correr os riscos respectivos para poder reivindicar ou ostentar determinada identidade, ou seja, para poder ser reconhecido e acolhido pelos pares e pelos outros. Por exemplo, se a identificao recproca dos travestis profissionais tem como trao de prestgio o conhecimento da clientela, bem possvel que alguns, ou muitos, sustentem algo como: S de olhar sei quem tem Aids. Ou ainda: se a identidade social de jovem inclui componentes como dirigir em alta velocidade, consumir drogas, freqentar vida noturna, embebedar-se, envolver-se em brigas de turmas, falar ou vestir-se com certo estilo... ento bem provvel que, de modo mais ou menos inconsciente ou involuntrio, muitos adiram a alguns ou a vrios desses comportamentos apenas para ser reconhecido e para se auto-identificar como jovem. Do ponto de vista sociolgico, portanto, sempre importante levar em considerao que o risco ser sempre relativo s circunstncias contextuais, s interaes especficas entre indivduos ou grupos, aos valores implicados, aos interesses envolvidos, s negociaes
27
possveis de identidade social e assim por diante. Por exemplo, seguro que a resistncia apresentada contra o exame de toque retal para diagnstico de anormalidades de prstata tem diretamente a ver com uma maneira muito definida de se identificar o que seja masculino. Na mesma linha, a adeso ao cinto de segurana nos automveis no Brasil nunca se resumiu a apenas um clique. Ela tem enfrentado dificuldades relativas a certas identidades, que podem ser ilustradas por frases como as seguintes, que pude recolher andando de txi no Rio de Janeiro em um momento em que a Prefeitura encetava uma campanha de esclarecimento e fiscalizao: Motorista que motorista se garante, no tem medo; Passageiro que pe cinto faz uma desfeita ao motorista; Cinto frescura, homem que macho mesmo no vai botar isso ou, ainda, Imagina se vou colocar cinto perto da minha namorada. Dentro desta mesma perspectiva, fumar no apenas ingerir a fumaa do tabaco. A marca do cigarro indica uma posio social e um estilo de vida. O ato de fumar representa muitas vezes uma tentativa mais ou menos consciente e proposital de expressar para si e para os outros que j se atingiu certa idade, que j se desfruta de alguma autonomia, que se pertence a determinado sexo... Por isso, no basta tragar a fumaa: o cigarro precisa ser ritualmente portado de modos mais ou menos prescritos (que so diferentes para os homens e para as mulheres); deve ser levado boca com certo estilo (idem); necessrio que a tragada apresente certa intensidade (idem); convm que a baforada se faa em ritmo adequado e em direo correta que tm a ver com etiqueta, com elegncia, com charme... H, pois, toda uma teatralidade interacional envolvendo o risco de fumar, que pode fazer a diferena entre um mauricinho, um esnobe e um caipira, ou entre uma patricinha, uma senhora e um sapato... sempre bom lembrar que esta ritualidade teatral pode ser muito mais forte do que os motivos saudveis que se alegam para combat-la. No vejo qualquer problema em admitir que abandonar o hbito de fumar constitua uma dificuldade quase incontornvel para um nmero enorme de pessoas. Mas isto no se d apenas por causa da dependncia qumica que lhe est associada, como em geral se pensa. Talvez seja fcil compreender este ponto se mentalizarmos o incio, isto , se tivermos em mente que comear a fumar coisa que muito raramente se d fora de uma faixa de idade bastante definida raramente depois dos vinte e rarissimamente aps os trinta anos. Isto acontece porque este comeo consiste principalmente na incorporao e manipulao de signo(s) de uma identidade social que de certo modo est sendo escolhida. Como
28
tal, adquirir o hbito de fumar representa para o nefito um aprendizado muito especfico e difcil: deixar de tossir, de sentir nuseas, de ser obrigado a disfarar o cheiro de fumo, ser capaz de arcar com as novas despesas... Tal experincia envolve necessariamente a socializao no hbito, bem como persistentes participaes em ritos de passagem bastante caractersticos. Ao menos parcialmente, abandonar o hbito significa o difcil abrir mo de alguns desses signos de auto e de hetero-identificao. Coisa semelhante pode-se observar a respeito da dificuldade notria de absoro social do uso de camisinhas. Ao contrrio do que muitas vezes se pensa, trata-se neste caso de muitssimo mais do que de uma questo tcnica ou de despertar a conscincia e a responsabilidade de cada um. A camisinha est no centro de um teatro muito complexo, implicando manipulaes e negociaes de signos de identidade, que por sua vez ocorrem em contextos de interao social extraordinariamente particulares e complicados. O emprego do preservativo pressupe a adeso de cada indivduo a um estilo autocontrolado e estico de conduta sexual, em que preciso dominar o ato. Isto , em comportamento em que se requer no sucumbir aos desejos, aos ardores, imaginao e fantasia, resignando-se, no limite, a uma sexualidade bem comportada. Mas no apenas isto: tambm imprescindvel o que igualmente difcil persuadir o outro a se comportar da mesma forma. Acontece que, contrariamente ao que se pensa em geral, este tipo de comportamento no depende apenas do grau de informao das pessoas, de onde decorreria que seja algo definvel na escala da responsabilidade individual. preciso considerar que este comportamento assptico est estritamente ligado hegemonia histrica de um determinado tipo de cultura que desde o Renascimento vem pretendendo civilizar os ardores na linha daquilo que Norbert Elias (1990 e 1994) brilhantemente demonstrou. Principalmente no que diz respeito s coisas secretas, este processo civilizador se difundiu no Ocidente de modo muito diferenciado pelas vrias regies e classes sociais, mas sempre com muita lentido e invariavelmente encontrando muita resistncia por parte das populaes. O uso do preservativo no se reduz, portanto, a uma questo de responsabilidade individual, nem se resume a um problema conjuntural de poltica sanitria. Alm disso, na prtica social a segurana prometida pela camisinha significa algo bastante complicado. Por um lado, ela pode representar uma barreira, ou um limite,
29
intrinsecamente incompatvel com um tipo de encontro em que o que se busca exatamente a fuso algo orgistica, a interpenetrao e a mistura de corpos, de mucosas, de fluidos e de secrees (o que em nossa cultura, alis, extremamente tabu em todos contextos que no o sexual). Por outro, a sugesto de usar preservativo sempre passvel de levantar suspeitas relativas identificao sexual dos envolvidos e por isso sempre suscita dificuldades quanto a quem e quando tomar a iniciativa de sugerir. A sugesto pode ser interpretada como velada confisso ou como sutil acusao de promiscuidade nos relacionamentos, de contaminao por doenas venreas, de ser portador de desvios morais... Ora, suspeitas deste ltimo teor so sempre problemticas, especialmente quando o tipo de relao entre os parceiros alm de requerer confiana recproca e compromissos mtuos de exclusividade muitas vezes tambm marcado por constrangimento, timidez e pudor. Derivam da as dificuldades de tomar a iniciativa da proposta do uso de camisinha, pois este procedimento pode significar tambm o expor-se ao perigo de rejeio sexual e afetiva. E isto exatamente em um contexto em que racionalidade quase sempre tem pouco e paixo, muito a dizer. Este aspecto, certamente, tem levado muitos a preferirem assumir o risco de transmitir ou de receber o vrus, para no tornarem ainda mais problemtico o jogo recproco de identidades. Desse modo, no impossvel que amantes, mesmo sabendo da infidelidade do parceiro, ainda assim achem que mais seguro correr o risco perfeitamente consciente de no tomar precaues, como parece estar sendo comum entre mulheres brasileiras no momento em que escrevo. Optam assim por no se exporem ao perigo de solido, risco que correriam caso solicitassem aos maridos ou namorados que usem a camisinha. A segurana, como vemos, tambm contm os seus riscos. * Aqui tocamos em um ponto importantssimo de considerar e nos defrontamos com algumas perguntas sempre inscritas em filigrana na questo do risco. Que confiana podemos depositar nas normas de segurana, quando o mesmo Estado que estabelece os limites de velocidade dos automveis permite que eles sejam fabricados com capacidade de superar duas ou trs vezes os limites estabelecidos? Que crdito atribuir s autoridades que consentem a fabricao e venda de motocicletas, quando elas so em alguns pases, como o Brasil, uma das maiores causas de amputaes? Como confiar em anncios que nos falam sobre os perigos do
30
tabaco, quando o Estado que patrocina as campanhas o mesmo que permite a fabricao de cigarros? At que ponto valeria a pena ter segurana, quando sabemos que esta tambm implica perigos que se materializam em armas, em medos, em vigilncias, em excluses, em restries liberdade, etc.? At que ponto valeria a pena ter segurana, quando sabemos que ela significa muitas vezes toda uma parafernlia blica, todo um Estado militarizado e policialesco, como o caso, entre outros, da segurana requerida pelo trnsito, pelas usinas nucleares, pelas fbricas de armamentos, pelos lixos industriais, pelas instituies financeiras, pelas residncias de luxo, pelos edifcios governamentais? At que ponto valeria a pena a segurana, quando sabemos que os elementos de proteo e de dissuaso so focos potenciais de catstrofe? Quando sabemos que, tratando cada um de ns como se fosse massa, com argumentos derivados da aplicao do clculo das probabilidades na gesto da coisa pblica, o mesmssimo Estado que reprime os riscos que assumimos mais ou menos voluntariamente na vida diria (fumar, beber, dirigir sem cinto...) capaz de nos impor outros, talvez muito mais ameaadores (por exemplo, decretando que uma usina nuclear, uma fbrica de explosivos ou um depsito de lixo sejam construdos na nossa vizinhana)? At que ponto valeria a pena a segurana que ele oferece, quando sabemos que um Estado capaz de zerar os riscos seria absurdamente arriscado? H, pois, toda uma questo de poder envolvida nas discusses sobre risco. A comear pelo fato de que quase sempre existem autoridades que proclamam o risco e exigem a segurana correspondente. Mas acontece que em uma sociedade pluralista, de mercado ou de consumo, essas autoridades nem sempre esto de acordo entre si, seus interesses nem sempre convergem e suas proclamaes acabam variando com os campos profissionais, com as teorias em voga, com as escolas de pensamento, etc. Afinal, qual a dieta saudvel? Que taxa de colesterol oferece alto risco? Homeopatia eficaz ou no? Comer carne lesivo sade? Gema de ovo mais positiva ou negativa? Reposio hormonal oferece segurana ou risco? Superada a barreira dos interesses dos fabricantes de acar, ficaram inofensivos os adoantes artificiais? Impossvel responder de modo consensual. Conseqncia disso, qual ser a orientao segura a seguir? Impossvel responder de maneira pacfica. O amplo leque de opes faz, de cada procedimento guiado por um ponto de vista, uma espcie de transgresso sob o prisma de outro.
31
Acontece tambm que as condutas seguras raramente so espontneas, uma vez que quase sempre contm algo de coercitivo ou de reativo como cada um de ns intimamente deve reconhecer. Portanto, em termos coletivos a tenso gerada pela virtualidade de desobedincia e pelos mecanismos de acusao dela decorrentes estrutural e quase inevitvel: como se sabe, a conformidade geralmente vista como protetora e o desvio, como perigoso. Tambm preciso considerar que a segurana uma mercadoria, como tudo na sociedade em que vivemos (cuidados mdicos, equipamentos, educao, seguros...). Isto significa que ela tem preos, que esses so diversificados e que, portanto, a segurana resulta desigualmente acessvel, funcionando estruturalmente como mais um signo marcador de incluses e excluses sociais. Por conseguinte, fundamental desneutralizar politicamente o risco, se queremos compreend-lo em seus aspectos culturais. Lembrar mais uma vez que ele uma construo social. Ter em mente que a transformao de um perigo em risco, o seu impacto na ateno da coletividade e a decorrente proteo contra o mesmo, no so nem de longe objetivos ou neutros. Muito pelo contrrio, esta transformao sempre depende da maneira como a sociedade se apropria do perigo respectivo. Em outras palavras, a transformao de perigo em risco invariavelmente funo dos interesses que esta transformao suscita e da fora poltica dos grupos que os advogam. Decretar algo como arriscado inclui-se desta maneira no cenrio de um jogo de conflitos, de manipulaes, de perdas e ganhos. este jogo de poder que em ltima instncia vai decidir se um determinado perigo ser ou no includo na relao dos riscos e, por vias de conseqncia, nos oramentos e nas prioridades das polticas de segurana. Este aspecto de poder envolvido na questo do risco e da segurana apresenta ainda uma dimenso mais sistmica ou estrutural. a seguinte: por mais rigorosas que sejam as medidas de segurana e de preveno dos riscos, os acidentes sempre terminam por acontecer. Por qu? Simplesmente porque os acidentes no so acidentes, mas, de certa forma, coisa normal, parte integrante e inabstravel do sistema industrial. Quero dizer com isso simplesmente que acidentes no so acidentes, mas aquilo que em ltima instncia justifica a presena do Estado. Como sabemos, pelo menos desde Hobbes, a segurana dos indivduos e das populaes o primeiro dever do Leviat, de forma que, mesmo no sendo necessariamente sinnimos de
32
desastres, quando acontecem os acidentes de modo muito freqente se transformam em fonte de protestos ou de revoltas. Mas preciso aqui ter o mximo cuidado com o raciocnio, pois a palavra acidente muito especiosa. Sutilmente ela nos convida a imaginar que, se algo acidental, tambm casual, aleatrio e exterior ao sistema de que faz parte. Sugere-nos fortemente que o acidente seja essencialmente uma indesejvel interveno vinda de fora, um acontecimento proveniente do exterior. Ora, no nem um pouco difcil constatar que raras coisas so to interiores e integrantes do sistema de circulao motorizada quanto os chamados acidentes de trnsito. Que os perigos de agresso por arma de fogo residem nas sociedades que as fabricam e consomem. Que o domiclio por excelncia dos riscos de acidentes nucleares so as usinas geradoras e os equipamentos alimentados por energia atmica... Colocar este ponto em evidncia muitssimo importante, porque as noes de risco e de acidente tm uma posio extraordinariamente estratgica na estruturao e no funcionamento da sociedade industrial e de consumo a despeito dos discursos, das tecnologias e das regulamentaes que unanimemente pretendem neutraliz-los e a eles se opor. Esta posio estratgica ocorre em virtude do fato de que riscos e acidentes tm um papel positivo a cumprir no interior desta sociedade. Como sabemos, embora nem sempre de modo consciente, a nica soluo divisada para diminuir os riscos e acabar com os acidentes o reforo do prprio sistema, a intensificao do mesmo. Em outras palavras, a poltica de preveno de acidentes se resume sempre em mais e mais produo, em mais e mais consumo, em mais e mais vigilncia. Isto : mais e mais mquinas, tecnologia, normas tcnicas, regras de conduta. Mais e mais disciplina, mais e mais policiamento, corpos mais e mais defensivos e assim por diante. Deste modo, as falhas do sistema adquirem um papel funcional de retroalimentao e de reintensificao. Contrariamente aos discursos do saber e do poder que advogam a segurana, o que acontece que para funcionar o sistema precisa no funcionar muito bem. Assim, o binmio risco-segurana termina compondo uma verdadeira, irnica e interminvel espiral de paradoxos que implica mais e mais risco e agressividade, mais e mais vigilncia, preveno e reatividade, mais e mais segurana, riscos e acidentes...
33
Referncias :
ARIS, P. 1975. Essais sur l'Histoire de la Mort en Occident. Paris: Seuil. ARIS, P.1977. L'Homme devant la Mort. Paris: Seuil. CAILLOIS, R. 1967. Les Jeux et les Hommes. Paris: Gallimard. CLASTRES, P. 1986. A Sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Francisco Alves. ELIAS, N. 1994. A Sociedade dos Indivduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. ELIAS, N. 1990. O Processo Civilizador 1. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. FOUCAULT, M.1975. Surveiller et Punir. Paris: Gallimard. GIDDENS, A. 1991. As Conseqncias da Modernidade. So Paulo: Unesp. GIDDENS, A. 2002. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. GOFFMAN, E. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. Nova Iorque: Doubleday. GOFFMAN, E. 1963. Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu. LE BRETON, D. 1990. Anthropologie du Corps et Modernit. Paris: PUF. LE BRETON, D. 1991. Passions du Risque. Paris: Metaill. MAUSS, M. 1974. As tcnicas corporais. In: Sociologia e Antropologia. So Paulo: Edusp. RODRIGUES, J. C. 1979. Tabu do Corpo. Rio de Janeiro: Achiam. RODRIGUES, J. C. 1992. Sade e significao. In: Ensaios em Antropologia do Poder Rio de Janeiro: Terra Nova. RODRIGUES, J. C. 1983. Tabu da Morte. Rio de Janeiro: Achiam. RODRIGUES, J. C. 1999. O Corpo na Histria. Rio: Ed. Fiocruz. THOMAS, L.-V. 1976. Anthropologie de la Mort. Paris: Payot.
34
You might also like
- NETTO, José Paulo. O Que É Marxismo (Col. Primeiros Passos) PDFDocument86 pagesNETTO, José Paulo. O Que É Marxismo (Col. Primeiros Passos) PDFEduardo Pacheco Freitas100% (1)
- Artigo Traduzido Guillermo Gómez-Peña 140715Document37 pagesArtigo Traduzido Guillermo Gómez-Peña 140715Bruno Fernandes100% (1)
- Dorothy Sayers - As Ferramentas Perdidas Da AprendizagemDocument13 pagesDorothy Sayers - As Ferramentas Perdidas Da Aprendizagemevaldoberanger6923100% (1)
- Hespanha, O Caleidoscopio Do DireitoDocument29 pagesHespanha, O Caleidoscopio Do DireitoJoana VitorinoNo ratings yet
- Frescobol - ImportanteDocument4 pagesFrescobol - ImportanteThiago FerreiraNo ratings yet
- DOUGLAS-Pureza-e-PerigoDocument228 pagesDOUGLAS-Pureza-e-PerigoAna CamposNo ratings yet
- Resposta Às Objeções Teóricas - LatourDocument14 pagesResposta Às Objeções Teóricas - LatourRafael SantosNo ratings yet
- Max Weber, ciência e valores: uma sociologia para além dos finsDocument70 pagesMax Weber, ciência e valores: uma sociologia para além dos finspsifilhoNo ratings yet
- Dicas de Olavo de Carvalho para estudantes sériosDocument6 pagesDicas de Olavo de Carvalho para estudantes sérioskelpiusNo ratings yet
- O Sítio Das Drogas - IntroduçãoDocument4 pagesO Sítio Das Drogas - IntroduçãoTiago Bonjardim PintoNo ratings yet
- (Doutorado TOM Valença 2010Document321 pages(Doutorado TOM Valença 2010Bel MeloNo ratings yet
- Selvagens & Baderneiros: Representações e Subjetivação do Punk no Correio Braziliense (1990-2014)From EverandSelvagens & Baderneiros: Representações e Subjetivação do Punk no Correio Braziliense (1990-2014)No ratings yet
- Eduardo Viveiros de Castro - Antropologia e Imaginação Da IndisciplinaridadeDocument9 pagesEduardo Viveiros de Castro - Antropologia e Imaginação Da IndisciplinaridadeFernando FernandesNo ratings yet
- Da MattaDocument23 pagesDa MattaStephanie MottaNo ratings yet
- Diálogo entre Antropologia e Psicologia sobre famíliaDocument15 pagesDiálogo entre Antropologia e Psicologia sobre famíliaJanilson LoterioNo ratings yet
- MacIntyre - Depois Da VirtudeDocument63 pagesMacIntyre - Depois Da VirtudeAndré MagnelliNo ratings yet
- A fascinante descoberta da energia nuclearDocument76 pagesA fascinante descoberta da energia nuclearMiguel Sette E CamaraNo ratings yet
- As Ferramentas Perdidas Da EducaçãoDocument35 pagesAs Ferramentas Perdidas Da EducaçãobaguedesNo ratings yet
- Midia e Sexualidades Breve Panorama DosDocument36 pagesMidia e Sexualidades Breve Panorama DosPatrícia CarvalhoNo ratings yet
- A sociedade do sonho: comunicação, cultura e consumoDocument14 pagesA sociedade do sonho: comunicação, cultura e consumosamfrovigatti50% (2)
- ABC Do Desenvolvimento UrbanoDocument96 pagesABC Do Desenvolvimento UrbanoJaneide A. Cavalcanti100% (1)
- Antropologia e Imaginao Da Indisciplinaridade (Viveiros de Castro)Document13 pagesAntropologia e Imaginao Da Indisciplinaridade (Viveiros de Castro)mariapaulapmNo ratings yet
- COSTA Uma Experiência Com Autoridades 2003Document9 pagesCOSTA Uma Experiência Com Autoridades 2003Renata PereiraNo ratings yet
- O que as mulheres fazem ao pensamentoDocument118 pagesO que as mulheres fazem ao pensamentoÉrika OliveiraNo ratings yet
- Michael HERZFELDDocument12 pagesMichael HERZFELDEufémia Vicente Rocha100% (2)
- As Ferramentas Perdidas Da Aprendizagem - Dorothy SayersDocument17 pagesAs Ferramentas Perdidas Da Aprendizagem - Dorothy SayersCarolina SoaresNo ratings yet
- NUNES Fernanda Tese (intro cap. 2 e 5)Document69 pagesNUNES Fernanda Tese (intro cap. 2 e 5)Marcos AlbuquerqueNo ratings yet
- As Ferramentas Perdidas Da AprendizagemDocument22 pagesAs Ferramentas Perdidas Da AprendizagemWilliam BessaNo ratings yet
- A Apatia É Novo NormalDocument11 pagesA Apatia É Novo NormalfilomarcosaduarteNo ratings yet
- Palinódia Filosófica ao Niilismo: Uma coletânea de aforismos extemporâneos e textos autoraisFrom EverandPalinódia Filosófica ao Niilismo: Uma coletânea de aforismos extemporâneos e textos autoraisNo ratings yet
- Wagner (2012)Document127 pagesWagner (2012)Paula Ávila NunesNo ratings yet
- 4 Folha de S.Paulo - À Cata de Bodes Expiatórios - 30 - 6 - 1996Document3 pages4 Folha de S.Paulo - À Cata de Bodes Expiatórios - 30 - 6 - 1996nícollas ranieriNo ratings yet
- Foote White - AnexoDocument42 pagesFoote White - AnexoGabriel BarbosaNo ratings yet
- A Sociologia dos QuadrinhosDocument29 pagesA Sociologia dos QuadrinhoswsshistNo ratings yet
- Autoetnografia andarilha: experiências de uma consultora ambientalDocument19 pagesAutoetnografia andarilha: experiências de uma consultora ambientalLuis Felipe S. MeloNo ratings yet
- Projetos de vida e juventudes: trajetórias contemporâneas de jovens quilombolasFrom EverandProjetos de vida e juventudes: trajetórias contemporâneas de jovens quilombolasNo ratings yet
- Direitos humanos e a (ir)racionalidade moderna: a fenomenologia de uma crise ecológicaFrom EverandDireitos humanos e a (ir)racionalidade moderna: a fenomenologia de uma crise ecológicaNo ratings yet
- Ortiz Renato Mundializacao e CulturaDocument235 pagesOrtiz Renato Mundializacao e CulturaCatharina De Angelo100% (9)
- Florestan Fernandes - em Busca de Uma Sociologia Crítica e MilitanteDocument38 pagesFlorestan Fernandes - em Busca de Uma Sociologia Crítica e MilitanteSérgio Botton BarcellosNo ratings yet
- As Paixoes e Os Interesses - HirschmanDocument119 pagesAs Paixoes e Os Interesses - HirschmancarlotsonNo ratings yet
- Antropologia MilitanteDocument6 pagesAntropologia MilitanteFrancimara AraújoNo ratings yet
- Da Miseria No Meio EstudantilDocument17 pagesDa Miseria No Meio EstudantilpulcrabellaNo ratings yet
- A Compreensao Do OutroDocument15 pagesA Compreensao Do OutroSamuel FerreiraNo ratings yet
- Caderno de Prova Tipo A Vest Verao Medicina 2022Document24 pagesCaderno de Prova Tipo A Vest Verao Medicina 2022jjongsmileNo ratings yet
- História do Cárcere e Histórias de DentroDocument77 pagesHistória do Cárcere e Histórias de DentroMiguel Tadeu VicentimNo ratings yet
- Manual CVVDocument52 pagesManual CVVAri OliveiraNo ratings yet
- Poluicao Alienacao e IdeologiaDocument128 pagesPoluicao Alienacao e IdeologiaMarion Machado CunhaNo ratings yet
- Conversa com Marilyn Strathern sobre sua trajetória e interesses de pesquisaDocument11 pagesConversa com Marilyn Strathern sobre sua trajetória e interesses de pesquisaCaioWhitakerTosatoNo ratings yet
- Espalhando A Misandria - Paul NathansonDocument397 pagesEspalhando A Misandria - Paul NathansonKleitter BernardesNo ratings yet
- A invenção da adolescênciaDocument145 pagesA invenção da adolescênciaJoão Luiz De Souza TorresNo ratings yet
- GOLDENBERG, R. Da Psicanalise em Risco de RegulamentaçãoDocument17 pagesGOLDENBERG, R. Da Psicanalise em Risco de RegulamentaçãoGabriel LimaNo ratings yet
- As Paixões e Os Interesses. Alberto HirschmanDocument119 pagesAs Paixões e Os Interesses. Alberto HirschmanandrezanardoNo ratings yet
- As Ferramentas Perdidas Da Aprendizagem - Dorothy SayersDocument17 pagesAs Ferramentas Perdidas Da Aprendizagem - Dorothy SayersRobporeliNo ratings yet
- Vida Divertida Ou Vida Interessante - Contardo CalligarisDocument3 pagesVida Divertida Ou Vida Interessante - Contardo CalligarisedsonpacoNo ratings yet
- DAL PAI, Raphael A. Instituto Ludwig Von Mises Brasil - Os Arautos Do Anarcocapitalismo PDFDocument228 pagesDAL PAI, Raphael A. Instituto Ludwig Von Mises Brasil - Os Arautos Do Anarcocapitalismo PDFNFe Servale AlimentosNo ratings yet
- O Trabalho Do Assistente Social Na Medida Socioeducativa de InternaçãoDocument16 pagesO Trabalho Do Assistente Social Na Medida Socioeducativa de InternaçãoElis SantiagoNo ratings yet
- 237 458 1 SMDocument17 pages237 458 1 SMEdson LimaNo ratings yet
- Guia do Módulo Estadual de Licenciamento do Via Rápida EmpresaDocument125 pagesGuia do Módulo Estadual de Licenciamento do Via Rápida EmpresaDunha512No ratings yet
- Ensinamentos Dzogchen da tradição BönDocument25 pagesEnsinamentos Dzogchen da tradição BönMarcos Paulo SousaNo ratings yet
- Ação Civil Pública questiona atribuições de optometristasDocument149 pagesAção Civil Pública questiona atribuições de optometristasCarlosnaick GoncalvesNo ratings yet
- Metodologia Do Trabalho Academco CompletoDocument225 pagesMetodologia Do Trabalho Academco CompletoDiego Gabriel100% (2)
- EBOOK - Sandra de Deus - Extensao UniversitariaDocument95 pagesEBOOK - Sandra de Deus - Extensao UniversitariaSimone WskiNo ratings yet
- A ascensão do capital nas cidades-estados italianasDocument10 pagesA ascensão do capital nas cidades-estados italianasEdicarlo DamascenoNo ratings yet
- Moçambique Pós-Independência 1974-1977Document16 pagesMoçambique Pós-Independência 1974-1977João Adelino JoãoNo ratings yet
- Livro Base Da Disciplina PDFDocument114 pagesLivro Base Da Disciplina PDFJosé Junior De OliveiraNo ratings yet
- 4 - Giddens - Classe, Estratificação e DesigualdadeDocument13 pages4 - Giddens - Classe, Estratificação e DesigualdadeTiago urbanoNo ratings yet
- O Papel do Estado na Produção e Organização do TrabalhoDocument23 pagesO Papel do Estado na Produção e Organização do TrabalhozarinoNo ratings yet
- Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 1Document21 pagesPrograma Nacional de Direitos Humanos - PNDH 1aymelechiuNo ratings yet
- Prova Geografia (Enade 2011)Document32 pagesProva Geografia (Enade 2011)Fabio Pojo0% (1)
- Declaração de LimaDocument9 pagesDeclaração de Limapedroaraujo81No ratings yet
- Guia de Organizacao de Sistema Educativos em Mocambique - VRDocument70 pagesGuia de Organizacao de Sistema Educativos em Mocambique - VRDauka100% (1)
- Cuidados físicos na Hatha YogaDocument114 pagesCuidados físicos na Hatha YogaMarcos Henrique100% (3)
- Marinha Britânica no século XIXDocument10 pagesMarinha Britânica no século XIXGuilherme OliveiraNo ratings yet
- Estatuto Do Servidor Publico Estadual Ceara PDFDocument37 pagesEstatuto Do Servidor Publico Estadual Ceara PDFBeto Alencar Alencar100% (2)
- Democracia Lista de Exercicios Sociologia ENEMDocument5 pagesDemocracia Lista de Exercicios Sociologia ENEMTerezaNo ratings yet
- Avaliação de vibrações em estruturas de edifícios para conforto humanoDocument63 pagesAvaliação de vibrações em estruturas de edifícios para conforto humanoSamuel CarneiroNo ratings yet
- E-Book Administração PúblicaDocument20 pagesE-Book Administração Públicanetob3No ratings yet
- Resenha de "O Satanás de Iglawaburg" (A. Monjardim)Document3 pagesResenha de "O Satanás de Iglawaburg" (A. Monjardim)Matheus ReiserNo ratings yet
- As Propostas Constitucionais para A Educação Brasileira (1891-1946)Document14 pagesAs Propostas Constitucionais para A Educação Brasileira (1891-1946)Lorena Maria de França FerreiraNo ratings yet
- Aula 6 e 7 Peter Brown. A Ascensao Do Cristianismo No OcidenteDocument23 pagesAula 6 e 7 Peter Brown. A Ascensao Do Cristianismo No OcidentePaulo FonsecaNo ratings yet
- Fundamentos Da HistóriaDocument38 pagesFundamentos Da HistóriaVitor Santos de JesusNo ratings yet
- Projeto de assentamento Zumbi dos PalmaresDocument171 pagesProjeto de assentamento Zumbi dos PalmaresAna Paula Pereira da SilvaNo ratings yet
- Acórdãos do TC sobre pensões e subsídiosDocument33 pagesAcórdãos do TC sobre pensões e subsídiosCatarina FernandesNo ratings yet
- A Dor Nas Costas e EnfermagemDocument181 pagesA Dor Nas Costas e EnfermagemPaulo RicardoNo ratings yet